Direitos humanos
A máquina da exclusão: como o Egito transforma fé em critério de cidadania
No Egito, documentos oficiais funcionam como lâminas invisíveis que cortam casamentos, fragmentam famílias e transformam cidadania em privilégio condicionado


A sequência de denúncias internacionais sobre a situação da minoria bahá’í no Egito deixou de ser um ruído diplomático para se tornar alerta incontornável. Depois dos relatórios recentes das Nações Unidas apontando discriminação persistente e sistemática, novos elementos revelam algo ainda mais grave: o aprofundamento deliberado da engrenagem estatal de exclusão.
Em novembro de 2024, a Comunidade Internacional Bahá’í tornou pública sua preocupação com o envolvimento direto de autoridades egípcias em políticas que visam restringir direitos civis, enfraquecer vínculos familiares e submeter cidadãos a vigilância constante. A declaração não foi protocolar. Foi um gesto extremo diante de uma realidade que se agrava.
Estima-se que alguns milhares de bahá’ís vivam no Egito. São cidadãos egípcios. Ainda assim, enfrentam barreiras administrativas que vão da recusa em registrar casamentos à negação de cidadania para filhos, passando por interrogatórios, monitoramento por agências de segurança e obstáculos no acesso a serviços públicos.
A exclusão não opera por explosões visíveis, mas por procedimentos silenciosos. É burocrática, contínua e precisa.
Casamentos anulados e direitos suspensos
O ponto mais sensível dessa política é o núcleo familiar. O não reconhecimento oficial dos casamentos cria uma cadeia de consequências civis e econômicas devastadoras. Um matrimônio considerado inexistente impede acesso a pensão, herança, guarda de filhos, benefícios previdenciários e regularização migratória.
Casos recentes expõem a dimensão humana dessa decisão estatal. Uma idosa egípcia, casada há décadas com um estrangeiro, continua registrada como “solteira” em seus documentos. A recusa persistente em reconhecer sua união comprometeu os direitos civis de seus filhos e lançou incerteza sobre cidadania e residência. A angústia não é teórica: é o medo de envelhecer isolada porque o Estado decidiu que seu casamento não existe.
Outro episódio evidencia a mesma lógica. Uma mulher estrangeira, casada há mais de dez anos com um cidadão egípcio, foi impedida de retornar ao país após viagem ao exterior. Informada de que o matrimônio não tinha validade, recebeu negativa de visto. O resultado foi separação prolongada do marido e dos filhos pequenos. Nenhuma acusação criminal. Apenas a invalidação administrativa de um vínculo conjugal.
Há ainda relatos de mulheres nascidas no Egito, filhas de mães egípcias, que tiveram a cidadania negada por causa da religião dos pais. Algumas receberam autorizações temporárias de residência e, posteriormente, foram surpreendidas com ordens de deportação. Em pelo menos um caso, o destino seria um país em guerra. A mensagem implícita é inequívoca: pertencimento nacional pode ser relativizado por convicção religiosa.
Vigilância, estigma e intimidação
Desde o início de 2024, multiplicaram-se relatos de interrogatórios e monitoramento por parte de órgãos de segurança. Atividades comunitárias de caráter social e educacional são acompanhadas de perto. Iniciativas voltadas à promoção de coesão local e serviço comunitário passaram a ser vistas como motivo de suspeita.
Membros da comunidade relatam sensação permanente de observação. Mensagens indiretas reforçam que encontros e reuniões são conhecidos pelas autoridades. A vigilância, ainda que nem sempre formalizada, cumpre função psicológica evidente: produzir autocensura e isolamento.
A estigmatização social é ampliada pelo impacto documental. Em contexto cultural que associa maternidade à formalização matrimonial, mulheres cujos documentos registram “solteira” enfrentam constrangimento público, apesar de legalmente casadas. O erro não está na vida real. Está na decisão administrativa de não reconhecê-la.
No tema dos sepultamentos, a situação alcança nível que desafia qualquer padrão civilizatório. Desde o decreto presidencial de 1960 que proibiu atividades bahá’ís, cemitérios foram confiscados e nenhuma nova área foi destinada à comunidade. Hoje, resta apenas um cemitério no Cairo, próximo da saturação. Pedido formal para designação de terreno em Alexandria foi submetido à Universidade de Al-Azhar, que recomendou negar o direito sob argumento de preservar a “coesão social”. A decisão manteve a comunidade confinada a uma única área funerária superlotada, ampliando a exclusão até o último instante da existência.
Negar espaço para enterrar seus mortos não é detalhe administrativo. É mensagem simbólica de expulsão.
Um teste para o Estado egípcio
A presença bahá’í no Egito remonta ao século XIX. Ao longo do século XX, especialmente a partir de 1960, decretos e decisões administrativas consolidaram um padrão de discriminação institucional. Durante décadas, a recusa em reconhecer a religião nos documentos impediu emissão de carteiras de identidade, restringindo acesso a educação, emprego e serviços públicos. Decisões judiciais pontuais que ofereceram algum alívio foram posteriormente esvaziadas por normas internas e apelações do próprio Estado.
Em janeiro de 2025, a situação dos direitos humanos no Egito foi examinada na Revisão Periódica Universal do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O país é signatário de tratados internacionais que asseguram liberdade religiosa e igualdade perante a lei. A distância entre compromissos assumidos e práticas adotadas tornou-se evidente.
Quando o casamento de um cidadão pode ser anulado por sua crença, quando filhos têm cidadania questionada e quando famílias vivem sob monitoramento constante, o problema deixa de ser religioso e torna-se estrutural. Trata-se de política pública que condiciona direitos fundamentais à conformidade confessional.
A normalização desse padrão representa risco institucional mais amplo. Estados que utilizam a burocracia para fragilizar minorias corroem sua própria legitimidade jurídica. O custo não é apenas reputacional. É histórico.
O Egito possui peso cultural e político inegável na região. Justamente por isso, a continuidade dessa política de exclusão projeta contradição difícil de sustentar. Direitos fundamentais não podem depender de filiação religiosa. Igualdade perante a lei não admite cláusulas implícitas.
A engrenagem descrita ao longo desses anos não é acidente. É construção deliberada. E construções deliberadas exigem decisão igualmente deliberada para serem desmontadas. A pergunta que permanece é simples e direta: o Estado egípcio escolherá alinhar-se aos princípios que afirma defender ou continuará permitindo que a burocracia funcione como instrumento de segregação?
27 de fevereiro
Irã revive a política do bode expiatório ao mirar os bahá’ís em meio à crise nacional
Em meio à repressão violenta a protestos e à escalada de violações de direitos humanos, o regime iraniano volta a usar minorias religiosas como distração política, agora sob escrutínio da ONU


Em 3 de fevereiro de 2026, Genebra voltou a ocupar um lugar simbólico no mapa moral do mundo. Foi dali que a Baha’i International Community (BIC) lançou um alerta grave: em meio a uma crise nacional marcada por protestos, repressão violenta e mortes, o governo iraniano intensificou uma campanha de bode expiatório e incitação ao ódio contra a comunidade bahá’í, repetindo um padrão histórico que atravessa mais de quatro décadas.
Desde a Revolução Islâmica de 1979, toda grande convulsão social, econômica ou política no Irã tem sido acompanhada por operações coordenadas de desinformação contra os bahá’ís.
O mecanismo é conhecido, muito batido e previsível: acusações genéricas, narrativas conspiratórias, ausência total de provas e o uso sistemático da mídia estatal para deslocar a atenção pública dos verdadeiros focos de insatisfação popular. O que se observa agora é uma escalada qualitativa dessa estratégia.
Na última semana de janeiro, programas transmitidos pelo Canal 2 da televisão estatal iraniana passaram a veicular acusações contra bahá’ís baseadas em supostas “confissões”. Em 1º de fevereiro, duas dessas confissões, vinculadas aos protestos nacionais, foram exibidas pela IRIB, a principal emissora do regime.
Organizações internacionais de direitos humanos documentam há anos essa prática nas prisões iranianas: detenções arbitrárias, coerção psicológica, ameaças explícitas e tortura para produzir versões convenientes ao Estado. A exibição dessas confissões na televisão não é apenas propaganda — é um instrumento de intimidação coletiva.
O dado mais eloquente, porém, permanece intacto: nunca houve prova. Em mais de quarenta anos de perseguição sistemática, o Estado iraniano não apresentou um único elemento verificável que sustentasse suas acusações contra os bahá’ís. Ainda assim, insiste. Porque o objetivo não é demonstrar culpa, mas fabricar medo e silenciar dissenso.
Esse contexto foi levado formalmente ao debate internacional em 23 de janeiro de 2026, durante a Sessão Especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre o Irã, realizada em Genebra. Tratou-se da 39ª Sessão Especial do órgão desde sua criação, convocada diante do agravamento da repressão estatal após os protestos iniciados no final de 2025.
Na ocasião, Estados-membros relataram execuções, detenções em massa e violações sistemáticas de direitos fundamentais. O Conselho aprovou uma resolução que prorrogou o mandato da Missão Internacional de Investigação e do Relator Especial para o Irã, reconhecendo a gravidade e a persistência das violações.
Durante essa sessão, a BIC sublinhou um ponto decisivo: embora os bahá’ís carreguem uma longa experiência de perseguição institucionalizada, a injustiça hoje se expande para parcelas cada vez maiores da sociedade iraniana. O padrão que começou com minorias religiosas agora alcança estudantes, mulheres, jornalistas e trabalhadores comuns.
A representante da BIC em Genebra, Sra. Simin Fahandej, foi direta ao afirmar que os bahá’ís costumam ser os primeiros alvos quando o regime se vê pressionado. Ainda assim, há um contraste que desmonta a narrativa oficial: apesar de prisões, exclusões educacionais e econômicas e décadas de hostilidade estatal, os bahá’ís no Irã rejeitam categoricamente a violência.
Não respondem com armas, não incitam ódio, não renunciam às suas crenças em troca de segurança. Sua reivindicação é elementar e profundamente humana: o direito de viver, trabalhar e contribuir para o progresso de um país que consideram sagrado.
Quando um Estado precisa fabricar inimigos internos para sobreviver, ele já revelou sua fragilidade. E, mesmo sob repressão, a verdade — como a história insiste em provar — tende a sobreviver aos regimes que tentam silenciá-la.
14 de fevereiro
Quando o poder masculino sabotou o destino humano
Ao escrevermos a história contra as mulheres, escrevemos também contra nós mesmos; hoje colhemos guerras, desigualdades e violência estrutural


O estado da Bahia registra 15.751 casos de violência contra a mulher, desde o início do ano até meados de maio. O balanço inclui crimes como homicídio, tentativa de homicídio, feminicídio, estupro, lesão corporal e ameaça; os dados foram divulgados nesta sexta-feira pela Secretaria de Segurança Pública, que considerou, para o levantamento, somente as vítimas maiores de 18 anos; do total, 125 mulheres foram assassinadas, e apesar do número de homicídios, somente 14 deles foram considerados feminicídio, qualificadora da pena que considera o gênero como motivação para o crime (Foto: Romulo Faro)
A história da humanidade é, em larga medida, a história de um erro masculino reiterado. Durante séculos, nós homens erguemos sistemas jurídicos, religiosos, filosóficos e políticos que reduziram deliberadamente a mulher a papel secundário. Não foi descuido cultural; foi arquitetura consciente de poder. Ao negar às mulheres educação, cidadania, autonomia econômica e voz pública, atrasamos a própria espécie.
Cada vez que impedimos que ocupassem o lugar que lhes pertence por direito natural, amputamos metade da inteligência, da sensibilidade e da capacidade criativa do mundo. O preço dessa mutilação histórica não foi pago apenas por elas — foi pago pela humanidade inteira, que caminhou mancando enquanto celebrava sua própria superioridade ilusória.
Os preconceitos contra as mulheres vêm de muito longe. Estão nos provérbios — “fevereiro tem 28 dias. É o mês em que as mulheres falam menos.” — e nas canções populares — “Paraíba masculina, mulher macho sim senhor.” Espalham-se nos conselhos dos mais velhos, nos sermões religiosos, nos tratados filosóficos, nos textos literários e nos discursos políticos.
Seja na religião, na literatura, na vida social ou na arena pública, não é difícil mapear, cronologicamente, focos persistentes desse preconceito. Ele atravessou séculos como herança cultural naturalizada, ensinada como prudência moral e reproduzida como tradição inquestionável.
A Organização das Nações Unidas designou 1975 como o Ano Internacional da Mulher e instituiu o 8 de Março como Dia Internacional da Mulher. A data remete a 8 de março de 1857, quando 159 operárias de uma indústria têxtil em Nova York foram queimadas vivas durante um incêndio criminoso, no contexto de uma greve por igualdade salarial e redução da jornada de trabalho. O episódio tornou-se símbolo de uma luta árdua por direitos elementares.
Não foi um acidente isolado; foi expressão de um sistema que considerava descartável a vida feminina quando esta ousava reivindicar dignidade.
No campo religioso, a matriz simbólica consolidou hierarquias.
O Gênese (2:22) apresenta a mulher formada a partir da costela do homem: “E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lha trouxe.” A metáfora da derivação converteu-se, ao longo dos séculos, em argumento de subordinação. A leitura literal sustentou a ideia de que a mulher era ontologicamente secundária. Essa interpretação moldou estruturas familiares, códigos civis e práticas pastorais que ainda ecoam em 2026, quando debates sobre papéis de gênero continuam ancorados em leituras antigas.
Santo Tomás de Aquino (1225–1274) escreveu que a mulher é “mas occasionatus”, um macho imperfeito, um ser “ocasional” e “acidental”. Ao afirmar isso, não produziu apenas especulação teológica; ofereceu legitimidade filosófica à desigualdade. Seu pensamento estruturou currículos universitários e formação clerical por séculos. Quando Aquino naturaliza a inferioridade feminina, ele fornece à cristandade medieval — e às mentalidades posteriores — uma gramática moral que associa hierarquia a ordem divina. Ainda hoje, argumentos teológicos contra igualdade recorrem, consciente ou inconscientemente, a essa herança, demonstrando como uma formulação medieval pode atravessar séculos como verdade aparentemente intocável.
No Livro de Provérbios (11:22), lê-se: “A mulher virtuosa é a coroa de seu marido.” E em 31:10: “Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede em muito o de finas joias.” A linguagem é reveladora: a virtude feminina é medida por sua utilidade ao homem; seu “valor” é comparado a mercadoria preciosa. A metáfora econômica traduz o feminino em objeto valioso, mas ainda objeto. Essa lógica atravessou códigos matrimoniais e justificou séculos de tutela legal. A ideia de que a mulher “vale” muito quando virtuosa, mas deve ser encontrada, possuída e administrada, estrutura mentalidades que ainda operam sob verniz contemporâneo.
Eurípedes (485–406 a.C.) escreveu, em Hipólito, que “a mulher é um flagelo desmedido que posso provar; o pai que a gera estabelece um dote a quem a leve, a quem o livre de tamanha praga.” Em Medéia, colocou na boca da protagonista: “Se a natureza fez-nos incapazes para as boas ações, não há para a maldade artífices mais competentes do que nós.” Essas frases não são simples exageros dramáticos; elas expressam o medo masculino diante da autonomia feminina na Atenas clássica. Ao retratar a mulher como ameaça moral, Eurípedes contribuiu para consolidar um imaginário que justificava sua exclusão da cidadania numa sociedade que celebrava a democracia apenas para homens livres.
Virgílio (70–19 a.C.) definiu a mulher como “varium et mutabile semper femina” — “coisa sempre variável e mutável.” A frase, repetida por séculos em tratados morais e sermões, cristalizou a associação entre feminino e instabilidade. Ao transformar a inconstância em essência feminina, a literatura latina ajudou a justificar a desconfiança jurídica e política que impedia mulheres de administrar bens ou participar da vida pública. O impacto cultural dessa sentença atravessou a Idade Média e foi citada em compêndios morais até o século XIX.
Publílio Siro (século I a.C.) declarou em suas Sentenças: “A mulher ou ama ou odeia; não há outra alternativa.” A simplificação emocional reforçou a caricatura da irracionalidade feminina. Se a mulher é governada por extremos afetivos, conclui-se que não deve governar cidades nem decisões estratégicas. Essa visão ecoa ainda hoje em discursos que questionam liderança feminina sob o pretexto de “instabilidade emocional”, demonstrando como um aforismo antigo pode alimentar preconceitos contemporâneos.
Petrônio (27–66) escreveu: “Confia teu barco aos ventos, mas às meninas não confies tua alma.” A ironia elegante do autor romano converteu-se em ensinamento cultural transmitido como prudência masculina. Ao sugerir que a fidelidade feminina é menos confiável que o mar, Petrônio reforça a suspeita permanente sobre a moral feminina. Essa suspeita alimentou narrativas literárias e códigos de honra que, por séculos, controlaram a sexualidade feminina com severidade desproporcional.
Montaigne (1533–1592) afirmou: “A ciência e ocupação mais útil e honrosa para uma mulher é o governo da casa.” E ainda que seu papel seria “sofrer, obedecer, consentir.” Em pleno florescimento do humanismo renascentista, quando a dignidade do homem era celebrada como centro do universo, o universalismo não incluía plenamente as mulheres. O pensamento de Montaigne influenciou gerações ao naturalizar a divisão entre esfera pública masculina e esfera doméstica feminina, ajudando a consolidar a exclusão feminina dos espaços de decisão.
Shakespeare (1564–1616) colocou em Hamlet: “Frailty, thy name is woman” — “Leviandade, teu nome é mulher.” A força poética da frase eternizou a associação entre fragilidade moral e feminino. A dramaturgia shakespeariana, ensinada em escolas e universidades do mundo inteiro, perpetuou um arquétipo que ainda permeia imaginários culturais. A literatura não apenas reflete mentalidades; ela as forma.
Montesquieu (1689–1755) escreveu que “nas mulheres jovens, a beleza supre o espírito; nas velhas, o espírito supre a beleza.” A frase sugere que inteligência feminina é compensação estética, não atributo autônomo. Em época de formulação das bases da separação de poderes e do constitucionalismo moderno, Montesquieu contribuiu, ainda que de modo aparentemente leve, para relativizar a capacidade intelectual feminina num período crucial de organização política do Ocidente.
Voltaire (1694–1778) alegou que “o sangue delas é mais aquoso.” O argumento pseudobiológico buscava fundamentar a inferioridade feminina em diferenças naturais. Ao recorrer à biologia para justificar desigualdade, Voltaire antecipou discursos científicos posteriores que legitimariam hierarquias raciais e de gênero. A autoridade iluminista deu peso racional a preconceitos antigos.
Rousseau (1712–1778) escreveu que cabia às mulheres “agradar aos homens, servi-los, fazerem-se amar por eles.” Em Emílio, defendeu educação distinta para meninas, voltada à docilidade. A pedagogia rousseauniana influenciou sistemas educacionais europeus, consolidando currículos que limitavam horizontes femininos. Ao estruturar papéis de gênero como naturais, Rousseau ajudou a perpetuar a desigualdade sob aparência de ordem social.
Napoleão Bonaparte (1769–1821) declarou: “A mulher é nossa propriedade.” Seu Código Civil restringiu direitos patrimoniais e consolidou tutela masculina sobre esposas. A influência napoleônica espalhou-se pela Europa e pelas Américas, institucionalizando desigualdade legal. Não era opinião isolada; era norma jurídica exportada.
Nietzsche (1844–1900) escreveu em Assim Falou Zaratustra: “Vais ver mulheres? Não esqueças o chicote.” A frase, muitas vezes relativizada como metáfora provocativa, carrega violência simbólica explícita. Nietzsche criticava moralidades estabelecidas e denunciava a hipocrisia da cultura europeia, mas não rompeu com a tradição de desconfiança em relação à emancipação feminina. Sua obra, amplamente estudada até hoje, continua a influenciar debates contemporâneos. Contextualizar essa frase é fundamental para evitar que genialidade filosófica sirva de escudo para preconceito estrutural.
Essa genealogia de frases não é inventário anedótico; é linha de transmissão cultural. Quando autores canônicos descrevem mulheres como frágeis, inconstantes ou propriedades, suas palavras ecoam em instituições, legislações e mentalidades.
No Brasil, temos mulheres realmente extraordinárias, no melhor significado da palavra. Destacarei apenas algumas dessas luminárias, uma vez que entendo que cada nome representa fissura irreversível na muralha patriarcal.
Tereza de Benguela (c.1730–1770), conhecida como “Rainha Tereza”, governou o Quilombo do Quariterê por cerca de duas décadas no Mato Grosso. Organizou sistema de defesa, comércio e administração coletiva. Documentos coloniais registram sua liderança com temor. Sua atuação prova que mulheres negras não foram apenas vítimas da escravidão; foram arquitetas de resistência organizada.
Bárbara de Alencar (1760–1832) participou da Revolução Pernambucana de 1817 e da Confederação do Equador. Presa aos 57 anos, tornou-se a primeira presa política do Brasil. Sua firmeza inspirou gerações. Ao enfrentar cárcere e perseguição, demonstrou que o ideal de independência nacional também teve rosto feminino.
Luiza Mahin (1812–?), segundo registros de historiadores como João José Reis, teria articulado bilhetes e estratégias na Revolta dos Malês de 1835, em Salvador. Mulher negra, possivelmente alforriada, atuou na retaguarda de um levante que aterrorizou as elites escravocratas. Sua imagem foi silenciada por décadas, reaparecendo como símbolo da mulher negra insurgente. Ao ser presa e deportada, sua história revelou que resistência feminina negra sempre foi dupla: contra o racismo e contra o patriarcado.
Bertha Lutz (1894–1976), bióloga e diplomata, afirmou em discurso: “Não pedimos favores, pedimos direitos.” Fundadora da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, articulou a campanha pelo voto feminino, conquistado em 1932. Sua atuação na Assembleia Constituinte de 1934 consolidou direitos trabalhistas e civis para mulheres. Lutz compreendeu que igualdade formal precisava transformar-se em legislação concreta.
Olhando no retrovisor da história as quatro mulheres acima percebe-se que a luta feminina no Brasil não foi episódica, mas contínua, atravessando escravidão, Império, República e ditaduras. Cada uma dessas mulheres inscreveu no tecido nacional a convicção de que cidadania não é concessão, mas conquista.
Antes mesmo que o direito ao voto fosse conquistado ou que reformas legais fossem promulgadas, mulheres já travavam outra batalha decisiva: a de existir como sujeito de pensamento, criação e palavra.
Safo (c.630–570 a.C.) já desafiava, na Grécia arcaica, a ideia de que a experiência feminina deveria permanecer subterrânea. Seus fragmentos líricos — “Parece-me igual aos deuses aquele homem que se senta diante de ti” — não são apenas versos amorosos; são afirmação de subjetividade feminina em primeira pessoa. Num mundo que estruturava a palavra pública como prerrogativa masculina, Safo escreveu desejo, perda, intensidade, autonomia emocional. Sua genialidade não reside apenas na poesia, mas no gesto histórico de inscrever a mulher como sujeito de linguagem, e não como objeto do olhar alheio. O fato de sua obra ter sido fragmentada, dispersa e em parte destruída ao longo dos séculos revela o incômodo persistente diante de uma voz feminina plena.
Virginia Woolf (1882–1941) compreendeu que a exclusão feminina da produção intelectual não era acidente, mas engenharia econômica. Em Um teto todo seu escreveu: “Uma mulher precisa de dinheiro e um quarto próprio para escrever ficção.” A frase, frequentemente citada, é diagnóstico estrutural: sem autonomia financeira e espaço simbólico, não há criação livre. Woolf desmontou a falsa neutralidade do cânone literário ao mostrar que a ausência de mulheres na história da literatura não era prova de incapacidade, mas consequência de confinamento social. Sua análise continua atual em 2026, quando desigualdades de financiamento, reconhecimento crítico e distribuição editorial ainda afetam autoras no mundo inteiro.
Simone de Beauvoir (1908–1986) radicalizou o debate ao escrever em O Segundo Sexo: “Ninguém nasce mulher, torna-se.” A frase desloca o eixo do determinismo biológico para a construção social. Beauvoir demonstrou que aquilo que se chamava “natureza feminina” era, em larga medida, produto de educação diferenciada, expectativas restritivas e dispositivos culturais de contenção. Sua obra não apenas analisou a opressão; ofereceu instrumental teórico para desmantelá-la. Ao transformar experiência pessoal em investigação filosófica sistemática, Beauvoir reposicionou a mulher como sujeito histórico consciente, não como destino biológico inevitável.
Clarice Lispector (1920–1977) levou essa transformação para o território da interioridade radical. Em A Paixão segundo G.H. e A Hora da Estrela, desestabilizou convenções narrativas para revelar a complexidade da experiência feminina invisibilizada. Quando escreve “Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome”, Clarice ultrapassa a reivindicação jurídica e toca a dimensão existencial da emancipação. Sua literatura não pede permissão; ela exige reconhecimento da densidade psíquica feminina num mundo que, por séculos, reduziu mulheres a papéis funcionais. Clarice mostrou que a revolução feminina também é linguagem, silêncio rompido, consciência que se recusa a caber nas categorias herdadas.
Durante séculos, homens legislaram sobre corpos que não eram seus, definiram destinos que não lhes pertenciam e impuseram limites que jamais aceitariam para si próprios. Cada frase misógina de um pensador influente tornou-se tijolo de sistemas excludentes.
Cada silêncio imposto a uma mulher significou atraso científico, empobrecimento cultural e instabilidade política.
Se há uma revolução que pode redefinir o século em curso, não será tecnológica nem militar. Será ética. E essa revolução começa com um gesto simples e radical ao mesmo tempo: reconhecer que a humanidade jamais alcançará equilíbrio enquanto insistir em governar-se a partir de uma metade que historicamente silenciou a outra.
A emancipação feminina não é capítulo lateral da história; é eixo reorganizador da própria condição humana. Ignorá-la não é apenas injustiça — é sabotagem do futuro coletivo. Como afirmou Bahá’u’lláh (1817–1892), “a humanidade é um pássaro, uma asa é o homem e a outra a mulher; um pássaro não pode alçar voo sem o equilíbrio das duas asas.” Durante séculos, insistimos em fortalecer apenas uma delas, imaginando que a outra poderia permanecer atrofiada sem comprometer o voo.
O resultado está diante de nós: guerras recorrentes, desigualdades persistentes, estruturas de poder desequilibradas. Se quisermos finalmente elevar a humanidade a um patamar de maturidade moral compatível com seu potencial intelectual, será indispensável fortalecer ambas as asas com igual vigor, dignidade e liberdade.
Qualquer projeto de paz que ignore essa simetria fundamental estará condenado à instabilidade. A verdadeira ascensão da espécie humana começa no momento em que deixamos de temer a igualdade e passamos a compreendê-la como condição de sobrevivência civilizatória.
(P.S.: Dedico esse artigo às minhas netas Cecília, Lua, Nina, Jade, Clarissa. A mais velha tem 4 anos e as duas mais novas menos de um ano cada. Ainda terão que lutar muito, lamentavelmente, para conquistar o que é seu por direito.)
https://www.brasil247.com/blog/quando-o-poder-masculino-sabotou-o-destino-humano
14 de fevereiro
Carta explosiva da UN Watch acusa Abbas Araghchi e pressiona liderança da ONU
Ao exigir o desconvite do chanceler do Irã, a UN Watch denuncia como deplorável sua presença e ameaça acionar autoridades suíças por crimes internacionais


A carta enviada pela UN Watch ao secretário-geral António Guterres não é um gesto protocolar. É uma interpelação pública, com data e alvo definidos. No texto, a organização afirma textualmente que “chegou ao nosso conhecimento que o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, está programado para discursar no Conselho de Direitos Humanos da ONU em 23 de fevereiro de 2026, em sua presença”.
A expressão “em sua presença” dirige-se diretamente a Guterres e transforma o episódio em questão institucional, não apenas diplomática.
A UN Watch é uma organização não governamental sediada em Genebra, fundada em 1993, que se define como independente e dedicada a “responsabilizar a ONU por seus princípios fundadores”. Ao longo das últimas décadas, tornou-se conhecida por denunciar o que considera incoerências do Conselho de Direitos Humanos, especialmente quando Estados com histórico problemático ocupam cadeiras ou recebem tribunas. Seu diretor executivo, Hillel C. Neuer, atua frequentemente nas sessões do Conselho, confrontando delegações e o secretariado.
O centro da controvérsia é Abbas Araghchi.
A carta sustenta que ele foi “implicado em graves violações de direitos humanos, incluindo crimes contra a humanidade”, mencionando “repressão sistemática”, “brutal repressão a manifestantes” e “execuções”. Relatórios recentes de organizações internacionais apontam aumento das execuções no Irã após protestos iniciados em 2022, além de detenções em massa. O governo iraniano rejeita tais acusações, alegando soberania e combate à desordem interna.
A UN Watch afirma que permitir o discurso enviaria “uma mensagem perigosa de que a ONU tolera e dá plataforma a responsáveis por assassinatos em massa”.
Vai além.
Caso o convite não seja revogado, diz que instará as autoridades suíças a promoverem sua prisão “por crimes contra a humanidade”, evocando o Estatuto de Roma. Trata-se de uma escalada retórica com implicações jurídicas complexas.
Outro ponto sensível envolve suposta mensagem de Guterres ao presidente Masoud Pezeshkian no aniversário da Revolução Islâmica. A ONG afirma que o texto teria oferecido “os mais calorosos parabéns” a um regime “notório por seu histórico de décadas de opressão”. Exige a divulgação integral da carta para permitir “escrutínio e responsabilização”.
A controvérsia precisa ser lida à luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que proclama, em seu artigo 3º, que “todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”, e, no artigo 5º, que ninguém será submetido a “tortura ou tratamento cruel”. A ONU nasceu para proteger esses princípios, não para relativizá-los.
A tensão não é inédita. O Conselho já enfrentou críticas por incluir países como a Coreia do Norte em debates multilaterais, gerando acusações de contradição moral. A pergunta que emerge não é apenas diplomática. É fundacional.
Pode a ONU manter canais abertos com governos acusados de violações sistemáticas sem comprometer a integridade da própria Carta?
Ao tornar pública sua carta, a UN Watch desloca essa interrogação do silêncio burocrático para o debate global. Que sejamos as vozes dos que não têm voz, porque são estes os condenados da Terra.
13 de fevereiro
Bad Bunny usou o Super Bowl para afirmar que a América não é apenas uma nação, mas um continente
Ao cantar quase toda a apresentação do intervalo em espanhol no maior palco da TV americana, Bad Bunny expôs quem sempre foi excluído da ideia de América


Ao longo de décadas, o show do intervalo do Super Bowl funcionou como vitrine estética do poder cultural norte-americano. Mais do que entretenimento, sempre foi um ritual de consagração simbólica: quem ocupa aquele palco pertence ao centro; quem assiste, aprende quais vozes importam. Em 2026, essa lógica sofreu um deslocamento raro. Ao assumir o intervalo do principal evento esportivo dos Estados Unidos em uma apresentação fascinante quase integralmente em espanhol, Bad Bunny rompeu uma fronteira invisível, mas decisiva, na engrenagem cultural dos Estados Unidos.
A apresentação, assistida por cerca de 135 milhões de espectadores apenas no território americano, não se limitou a disputar atenção. Ela disputou significado.
Ao escolher não traduzir sua língua nem suavizar sua origem, o artista porto-riquenho transformou o maior palco da televisão estadunidense em um espaço de afirmação identitária e questionamento histórico. O que estava em jogo não era apenas música, mas pertencimento.
Desde os primeiros minutos, a encenação recusou o exotismo confortável. Campos de cana-de-açúcar, trabalhadores anônimos, vendedores populares e cenas cotidianas de Porto Rico compuseram um cenário que remetia diretamente à história colonial da ilha.
Não se tratava de folclore decorativo, mas de memória política. O açúcar, base da economia colonial caribenha, apareceu como símbolo ambíguo: riqueza para poucos, exploração para muitos. Bad Bunny começou ali para lembrar que sua trajetória artística nasce desse solo desigual.
Cantar em espanhol no Super Bowl não foi gesto estético isolado. Foi uma intervenção na lógica da hegemonia cultural. Pela primeira vez, o espetáculo mais assistido da televisão americana recusou a língua inglesa como requisito de universalidade. Não houve legenda, adaptação ou concessão pedagógica.
A mensagem foi direta: não é a língua que limita o alcance de uma obra, mas a disposição do poder em reconhecer outras centralidades.
Essa escolha ganhou ainda mais densidade pelo contexto recente. Poucos dias antes, Bad Bunny havia vencido o Grammy de Álbum do Ano com Debí Tirar Más Fotos, tornando-se o primeiro artista a conquistar o principal prêmio da indústria fonográfica com um disco integralmente em espanhol. O intervalo do Super Bowl funcionou, assim, como extensão simbólica dessa vitória: não como celebração individual, mas como afirmação coletiva de uma cultura historicamente marginalizada.
A narrativa do show avançou por camadas. Entre dança, festa e coreografias elaboradas, surgiram referências explícitas aos apagões que assolaram Porto Rico após o furacão Maria, às desigualdades estruturais e à condição ambígua da ilha como território dos Estados Unidos sem plena cidadania política.
A presença de artistas de diferentes gerações da música latina reforçou a ideia de continuidade histórica, não de moda passageira. Foi um dia de celebração da caça. Coube ao caçador apenas se lamentar, se lamuriar e destilar amargura sem fim.
O momento final condensou o gesto político do espetáculo.
Dançarinos entraram carregando bandeiras de todos os países das Américas, enquanto Bad Bunny pronunciava, um a um, seus nomes, do sul ao norte, encerrando com Porto Rico. A América apresentada ali não era sinônimo de Estados Unidos, mas um continente plural, linguística e culturalmente diverso.
Mas não parou por aí: ao segurar uma bola com a frase “Together, We Are America”, o artista propôs uma redefinição simbólica do próprio conceito de América — em oposição direta às visões excludentes que associam identidade nacional à homogeneidade cultural.
A reação negativa de setores conservadores, incluindo manifestações públicas do ex-presidente Donald Trump, revelou menos sobre o show e mais sobre o incômodo que ele provocou. A crítica à língua espanhola e à estética latina expôs a persistência de um sistema que tolera diversidade apenas quando ela se adapta ao centro dominante.
O sucesso do espetáculo, entretanto, enfraqueceu esse discurso. Nas horas seguintes, plataformas de streaming registraram crescimento explosivo no consumo das músicas de Bad Bunny, com múltiplas faixas ocupando simultaneamente os primeiros lugares dos rankings globais.
Bad Bunny — nome artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio, nascido em 1994, em Vega Baja, Porto Rico — construiu sua trajetória fora dos padrões tradicionais da indústria. Filho de um caminhoneiro e de uma professora, trabalhou em supermercado enquanto produzia músicas de forma independente. Desde o início, recusou a higienização estética frequentemente exigida de artistas latinos para alcançar o mercado global. Cantou em espanhol quando sugeriam a tradução, desafiou padrões rígidos de masculinidade e incorporou crítica social à sua obra sem separá-la do prazer e da dança.
Ao ocupar o Super Bowl, Bad Bunny não apenas ampliou sua projeção internacional. Ele deslocou o eixo simbólico de um espetáculo historicamente associado à exaltação de uma identidade única. Seu gesto não foi panfletário, mas estrutural. Ao mostrar que alegria, festa e denúncia podem coexistir, revelou que a exclusão cultural não é acidente, mas escolha política.
O que se viu naquele intervalo não foi apenas um show musical recordista de audiência. Foi a demonstração de que a cultura, quando não pede autorização, pode atravessar fronteiras que a política institucional insiste em manter.
O Super Bowl, por alguns minutos, deixou de ser apenas vitrine do poder para se tornar espelho de suas limitações. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrado este artigo.
10 de fevereiro
O racismo americano visto por Einstein; o gênio colocou o dedo na ferida
O pronunciamento de Einstein revelou como a América celebrava o gênio científico enquanto rejeitava sua denúncia frontal da desigualdade racial
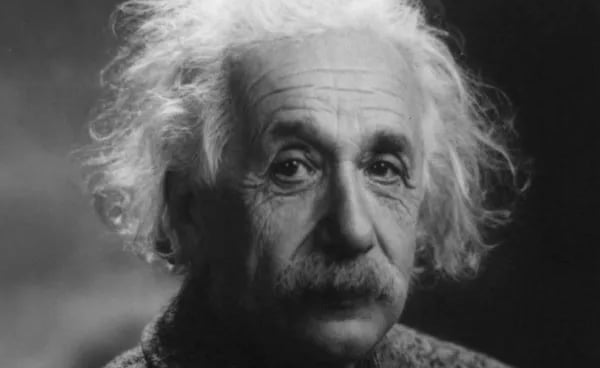
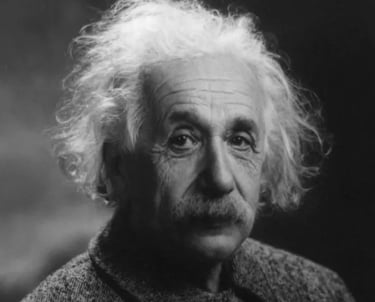
Em 3 de maio de 1946, quando boa parte da elite intelectual americana já havia escolhido o conforto do silêncio, Albert Einstein decidiu romper a própria regra. Doente, cansado e avesso a cerimônias, aceitou falar em público não por vaidade acadêmica, mas por dever ético. Não foi em um templo consagrado do prestígio branco, mas na Lincoln University, a primeira universidade historicamente negra dos Estados Unidos.
A escolha do lugar foi um gesto político deliberado: Einstein não foi ali para ser celebrado, mas para confrontar uma ferida que a América insistia em chamar de passado. O consagrado cientista do século XX não ficou em cima do muro esperando que este se movimentasse.
Durante os vinte anos anteriores àquele dia, Einstein recusara sistematicamente convites para discursos universitários. Considerava títulos honorários ostensivos, solenidades previsíveis e celebrações vazias de pensamento crítico. Sua saúde se deteriorava, e o tempo lhe parecia precioso demais para ser gasto em rituais institucionais. Ainda assim, abriu uma exceção. Não por reverência acadêmica, mas porque compreendia que certos silêncios custam mais caro do que qualquer esforço físico.
Viajou de Princeton, em Nova Jersey, até as terras agrícolas do Condado de Chester, na Pensilvânia. Encontrou uma plateia de jovens negros de paletó e gravata, atentos, disciplinados, conscientes da raridade daquele momento. Iniciou sua fala abordando a teoria da relatividade, talvez para situar o público ou cumprir uma expectativa formal.
Em seguida, deslocou o eixo do discurso com precisão cirúrgica. Passou da física à estrutura social americana. E foi direto ao ponto.
“A separação das raças não é uma doença das pessoas negras”, afirmou. “É uma doença das pessoas brancas. Não pretendo ficar quieto sobre isso.” Não havia metáforas atenuantes nem diplomacia calculada. Tratava-se de um diagnóstico moral exposto em voz alta, em um país que já demonstrava enorme habilidade em ocultar seus próprios mecanismos de exclusão.
A reação da grande imprensa foi reveladora. Jornais que celebravam Einstein como o homem capaz de decifrar os mistérios do universo ignoraram quase completamente suas palavras sobre o racismo americano. O discurso na Lincoln University foi tratado como irrelevante, periférico, inconveniente. Um historiador resumiria depois o episódio com precisão incômoda: aquelas declarações afundaram em um “buraco negro histórico”.
O silêncio, porém, não era novidade. Quatro meses antes, em janeiro de 1946, Einstein já havia publicado um ensaio contundente na revista Pageant, intitulado “A Questão Negra”. O texto era direcionado a um público majoritariamente branco e não oferecia zonas de conforto. Logo nas primeiras linhas, o autor deixava claro que escrevia como alguém que vivia nos Estados Unidos havia pouco mais de uma década, atento, alerta e consciente do quedo que testemunhava diante de seus olhos.
No ensaio, Einstein abandonou qualquer linguagem conciliatória. Escreveu como quem acusa, não como quem sugere. Identificou sem rodeios o limite estrutural da democracia americana: a igualdade funcionava como privilégio racial, não como princípio universal.
Reconheceu o antissemitismo que conhecia pessoalmente, mas fez questão de situá-lo em perspectiva diante da violência sistemática imposta aos negros. Não se tratava de preconceitos equivalentes, mas de uma hierarquia organizada de desumanização.
O ponto decisivo era outro: ao permanecer em silêncio, a sociedade branca naturalizava sua própria violência. Falar, para Einstein, não era um gesto retórico — era a única forma de não participar da engrenagem.
Ele avançou então sobre as raízes históricas do problema. Recordou que os ancestrais dos americanos brancos haviam arrancado negros de suas terras, explorando-os impiedosamente em nome de riqueza e comodidade. A escravidão não era um desvio moral isolado, mas a fundação econômica e simbólica de uma ordem social que insistia em se perpetuar por meio do preconceito moderno.
Durante décadas, essa dimensão do pensamento de Einstein permaneceu obscurecida. As fotografias de sua visita à Lincoln University raramente circularam. O cientista engajado não se encaixava na imagem confortável do gênio abstrato, isolado das contradições humanas. Esse apagamento começou a ser revertido apenas em 2006, quando os historiadores Fred Jerome e Rodger Taylor publicaram Einstein sobre Raça e Racismo, reunindo textos, documentos e imagens que revelavam sua atuação consistente em defesa dos direitos civis.
Desde então, novas gerações passaram a conhecer um Einstein menos conveniente e menos neutro. Um intelectual que compreendia que ciência sem ética é evasão e que a neutralidade, diante da injustiça, não é equilíbrio — é adesão silenciosa.
Hoje, aquelas palavras não ecoam como simples registro histórico, mas como acusação em aberto. O racismo não desapareceu; apenas trocou de linguagem, de plataforma e de legitimadores. Quando algoritmos reproduzem exclusões, quando lideranças normalizam o preconceito em nome da ordem ou da tradição, o silêncio volta a ser vendido como prudência. Einstein recusou essa farsa.
Ao falar na Lincoln University, deixou um critério incômodo para qualquer intelectual: não basta explicar o mundo com precisão se se aceita que parte da humanidade continue fora dele.
A omissão, ensinou ele, também escreve a história — quase sempre ao lado errado. depois de um mundo ter se mostrado indignado com a publicação do presidente norte-americano retratando o casal Obama como macacos, nada me parece mais oportuno que a repetida leitura desse artigo.
08 de fevereiro
Horrores inimagináveis e a desigualdade nuclear diante do fim possível
Bunkers estatais, vetos diplomáticos e governança lenta contrastam com populações expostas, desinformadas e sem proteção em um cenário nuclear


Do primeiro clarão às consequências duradouras, o artigo descreve colapsos simultâneos em cidades, saúde, telecomunicações, alimentos e clima, revelando por que a guerra nuclear nunca permanece localizada geograficamente.
Em fevereiro de 2026, falar de guerra nuclear deixou de ser um exercício marginal reservado a especialistas, arquivos da Guerra Fria ou ficção científica. O tema voltou ao centro do noticiário internacional impulsionado por conflitos ativos, rivalidades estratégicas abertas e pela erosão visível de tratados que, por décadas, funcionaram como amortecedores do impensável. Nove países concentram hoje milhares de ogivas nucleares prontas para uso, herança direta de uma lógica de dissuasão que sobreviveu ao fim do mundo bipolar e se adaptou a um planeta mais instável, fragmentado e impulsivo. Estados Unidos e Rússia mantêm a maior parte desse arsenal, mas já não controlam sozinhos o tabuleiro: China, potências europeias e Estados regionais armados nuclearmente completam um cenário em que decisões tomadas em minutos podem desencadear efeitos globais duradouros. É nesse contexto que este texto se propõe a pensar o pior — não para profetizar o desastre, mas para compreender por que ele jamais seria local.
É a partir desse pano de fundo — concreto, documentado e contemporâneo — que este artigo se organiza como exercício mental.
É preciso que o leitor saiba, desde a primeira linha, que isto é um exercício mental — uma tentativa consciente, imperfeita e um pouco no escuro de prever o imprevisível sem cair nem na fantasia, nem na anestesia. Escrevo em fevereiro de 2026 porque os sinais de alerta já não estão apenas nos relatórios: estão no noticiário, nas doutrinas militares, na erosão dos tratados e na facilidade com que a palavra “nuclear” volta a circular como se fosse um adjetivo qualquer. No dia 27 de janeiro de 2026, o Bulletin of the Atomic Scientists ajustou o “Relógio do Juízo Final” para 85 segundos antes da meia-noite, o ponto mais próximo do colapso desde que a marca existe, citando tensões entre potências nucleares, conflitos em curso e falhas de liderança global.
Ainda assim, a gravidade simbólica desse ajuste não produziu, na mesma proporção, um debate público à altura de suas implicações.
Apesar de um dado muito preocupante, aparentemente passou despercebido na imprensa.
Lucidez verificável
Não escrevo para espalhar pânico. Escrevo para disputar o pânico com algo melhor: lucidez verificável. E lucidez, aqui, exige uma combinação rara de intimidade e método: imaginar pessoas concretas — e, ao mesmo tempo, amarrar o imaginado às melhores evidências públicas disponíveis.
Começo pelo chão numérico que impede a imaginação de virar delírio. O SIPRI — Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo — estimou que, em janeiro de 2025, nove países somavam 12.241 ogivas nucleares; 9.614 estavam em estoques militares potencialmente utilizáveis; 3.912 estavam “implantadas” com forças operacionais; e cerca de 2.100 permaneciam em alto estado de alerta, quase todas de Rússia e Estados Unidos, com a China possivelmente mantendo algumas ogivas em mísseis mesmo em tempos de paz. O Federation of American Scientists, criado em 1945 por cientistas do Projeto Manhattan, mantém um dos painéis públicos mais usados para acompanhar inventários e modernização nuclear.
Esses números não são abstrações estratégicas; eles definem o tempo disponível para errar — e para corrigir.
Esse é o pano de fundo do qual quase ninguém fala à mesa do jantar: o mundo não só ainda tem armas suficientes para nos destruir — como mantém parte delas em prontidão compatível com decisões tomadas sob minutos, sob medo e sob informação incompleta.
Agora ponho o leitor dentro do exercício mental, sem pedir permissão, porque a história não pede.
Três redes humanas
Escolho três cidades, não por sadismo, mas por representarem densidade, simbolismo e interdependência. Nova Iorque tinha população estimada em 8,48 milhões em 1º de julho de 2024, segundo o Departamento de Planejamento da própria cidade e o U.S. Census Bureau. Xangai registrava 24.802.600 residentes ao final de 2024, conforme o Bureau Municipal de Estatísticas e o órgão nacional de estatísticas local. Londres tinha 8,945 milhões em meados de 2023, segundo o London Datastore, com base nas estimativas oficiais britânicas.
Não são “alvos”. São redes humanas: hospitais, metrôs, escolas, data centers, bolsas, redações, portos, aeroportos, cozinhas. E é exatamente por isso que uma explosão nuclear em qualquer uma delas não ficaria “contida” no perímetro do clarão.
A física chega antes da política — e antes do som. No primeiro milionésimo de segundo após a detonação, forma-se uma bola de fogo que, em descrições clássicas de efeitos imediatos, pode chegar a centenas de metros. Dentro dela, tudo termina no mesmo instante. É uma frase que eu quase não consigo escrever sem sentir vergonha da frieza — mas é precisamente essa frieza que o tema exige: ali não há heroísmo, não há escolha, não há “sobrevivência”. Há ausência.
Em seguida, a onda de choque redesenha a cidade como se a cidade fosse um material frágil. Prédios cedem, fachadas viram lâminas, pontes e túneis deixam de ser infraestrutura e passam a ser armadilhas. Quem estava a caminho do trabalho fica preso num espaço onde “sair” deixa de ser um verbo simples. E logo vem o calor: combustão em cadeia, incêndios simultâneos, fumaça tão densa que a respiração vira um problema moral — porque você passa a disputar o ar com milhares de pessoas ao mesmo tempo.
E então, a cena que o cinema costuma suavizar: carros batem por falta de sinalização, por pânico, por cegueira da fumaça. Trens saem dos trilhos. O subterrâneo, que nos dias comuns é refúgio do trânsito, vira corredor de sufocamento. O ar quente sobe e, com ele, correntes violentas que podem desestabilizar aeronaves em aproximação ou decolagem: o céu, que parecia distante da tragédia, desaba para dentro dela.
A pergunta que surge não é “quantos morreriam?”, mas “quem sobra para contar”.
Precisão impossível
Ainda assim, o jornalismo precisa aproximar números sem fingir precisão impossível. O que se sabe, a partir de modelos e simulações usados por pesquisadores e instituições, é que uma grande detonação em área densamente povoada pode produzir dezenas ou centenas de milhares de mortes rápidas — e uma massa ainda maior de feridos graves.
No exercício mental, eu me atenho a um detalhe que raramente recebe destaque: a rede hospitalar dessas cidades — sofisticada, cara, admirável — não foi desenhada para tratar, de uma vez, centenas de milhares de queimados extensos, politraumatizados e irradiados, com água, energia e equipes também atingidas.
A própria literatura médica e humanitária insiste, há décadas, que um ataque nuclear ultrapassa a capacidade de resposta de qualquer sistema de saúde.
Quando se fala em “radiação”, muita gente imagina um veneno abstrato.
Só que a radiação, no cotidiano de um pós-ataque, vira uma sequência de escolhas desesperadas: ir atrás de alguém e se contaminar; ficar parado e morrer de sede; correr para um hospital inexistente; acreditar num boato; perder tempo tentando confirmar uma mensagem que não chega.
Redundância digital
Aqui entra o primeiro grande colapso moderno: telecomunicações. A vida urbana hoje depende de redundância digital — mas a redundância também tem pontos de falha. A International Telecommunication Union(UIT), fundada em 1865, é um organismo intergovernamental ligado ao sistema ONU que coordena padrões técnicos e a operação global de redes de telecomunicações — incluindo atribuições sobre espectro e órbitas de satélites.
Em 2024, a UIT publicou a Recomendação K.87, um guia sobre riscos e requisitos de segurança eletromagnética para centros de telecomunicações — um lembrete técnico de que o mundo real é vulnerável a interferências, perturbações e falhas físicas em infraestrutura crítica.
O leitor não precisa decorar K.87. Precisa entender o efeito social: quando a comunicação falha, o rumor ocupa o lugar do fato. E o rumor, nesse cenário, mata.
É aqui que eu introduzo os satcoms — comunicações por satélite — não como fetiche tecnológico, mas como linha nervosa do planeta. Um sistema de satcom depende de três camadas: segmento espacial (os satélites), segmento terrestre (estações e antenas) e o meio de transmissão. Satélites funcionam como repetidores, conectando regiões, navios, aeronaves, militares, bancos, emissoras e emergências. A cidade que sofre uma detonação perde antenas, perde energia, perde roteadores, perde pessoal técnico — e, ao mesmo tempo, o resto do mundo passa a desconfiar da integridade de dados, horários, rotas, autorizações. O que não cai, desacredita. E um planeta que desacredita de seus próprios sinais entra num modo de paralisia.
Cadeia de suprimentos
O segundo colapso é logístico: transporte e suprimentos.
Em crises súbitas, o World Food Programmetrabalha com janelas de resposta aceleradas e metodologias para avaliar necessidades e estabelecer rotas em poucas dezenas de horas. Em material público, o WFP afirma que, “em caso de choque”, suas equipes de cadeia de suprimentos podem estar no terreno em até 72 horas para avaliar necessidades críticas e montar rotas. Essa frase, num ataque nuclear, vira o retrato do impossível: 72 horas podem ser tempo demais quando uma metrópole perde centros decisórios, aeroportos, estoques e segurança pública simultaneamente.
E aqui eu peço que o leitor imagine algo prosaico — porque é o prosaico que desmorona primeiro. Quando há previsão de furacão ou tornado, pessoas correm ao supermercado, aos postos, às farmácias. O medo faz com que decisões individuais racionais produzam um desastre coletivo: prateleiras vazias, brigas, pânico, desinformação. Num cenário nuclear, isso explode em escala e em violência, porque o corpo entende antes da mente: “vai faltar”.
Múltiplas ogivas
Até aqui, eu descrevi uma bomba. Mas nenhuma doutrina séria trabalha com “uma”. Forças nucleares planejam redundância, saturação e garantia de destruição. A lógica técnica dessa multiplicação tem nome: MIRV — veículo de reentrada com múltiplas ogivas independentemente direcionáveis. É o princípio de que um único míssil pode liberar várias ogivas, cada uma com um alvo distinto. O resultado psicológico é devastador: não é apenas uma cidade que entra em colapso; é a ideia de que qualquer reparo é inútil, porque o próximo clarão pode vir antes da próxima ambulância.
A letalidade do alcance também precisa ser dita sem rodeios. Um míssil balístico intercontinental (ICBM) é definido, em classificações amplamente aceitas, como um míssil com alcance superior a 5.500 km. Isso significa que, em termos estratégicos, o planeta é um tabuleiro sem distância segura. Entre teatros de tensão — Coreia do Norte e Coreia do Sul; Índia e Paquistão; Israel e Irã; e a competição de primazia entre Washington e Pequim — o que cresce não é apenas o risco de “guerra”, mas o risco de escalada por erro, por interpretação, por vaidade, por liderança impulsiva.
O gatilho nuclear
É a partir desse ponto que o exercício mental deixa de ser abstrato. Porque mísseis não voam sozinhos: eles obedecem a decisões humanas tomadas em contextos regionais concretos, onde crises locais podem, em cadeia, perder rapidamente o adjetivo “local”.
No Oriente Médio, o exercício mental exige precisão máxima. Em 2024 e 2025, o mundo assistiu a ataques diretos e indiretos entre Israel e Irã, drones e mísseis inéditos, ações militares dos Estados Unidos contra milícias aliadas de Teerã no Iraque, na Síria e no Iêmen, além de sabotagens e ciberoperações. Tudo isso foi real e perigoso.
Mas o gatilho nuclear não foi acionado. Não houve destruição deliberada das instalações centrais do programa nuclear iraniano por uma potência nuclear com o objetivo explícito de eliminar sua capacidade estratégica futura. Essa distinção é decisiva: uma ação percebida como ameaça existencial mudaria o jogo e encurtaria o tempo do mundo, acionando alianças, proxies e pressões sobre infraestrutura energética e rotas marítimas.
No caso específico do Irã, porém, esse gatilho possui uma densidade estratégica singular que o distingue de outros teatros de crise. O programa nuclear iraniano não é apenas um ativo técnico ou uma ficha de barganha diplomática: ele é percebido internamente como a última garantia de sobrevivência do regime diante de décadas de sanções, isolamento econômico, sabotagens, assassinatos seletivos de cientistas e ameaças explícitas de mudança forçada de governo. Um ataque direto, profundo e inequívoco a instalações nucleares centrais — sobretudo se conduzido ou apoiado por uma potência nuclear reconhecida — tenderia a ser interpretado em Teerã não como contenção preventiva, mas como tentativa deliberada de remover o último degrau de dissuasão estratégica do país. Nesse cenário, a resposta dificilmente seria limitada ou simétrica. O Irã acionaria de forma coordenada sua rede de aliados e grupos armados regionais, ampliaria ataques assimétricos contra interesses israelenses e ocidentais, pressionaria rotas energéticas vitais como o Estreito de Hormuz, elevaria o custo regional do conflito e buscaria criar uma crise sistêmica suficientemente ampla para forçar as grandes potências a escolher entre uma escalada aberta — com riscos nucleares reais — ou um recuo político humilhante. O perigo nuclear, aqui, não nasce de um lançamento imediato, mas da erosão consciente do último pilar de dissuasão percebido por um Estado que se vê cercado, desacreditado e existencialmente ameaçado.
O planeta respirando fumaça
Se o curto prazo é o colapso urbano, o médio e o longo prazo são o planeta inteiro respirando fumaça. Aqui, a ciência climática entra como testemunha. O que chamamos de “inverno nuclear” é a hipótese — sustentada por modelagens — de que fuligem injetada na atmosfera por incêndios urbanos maciços reduziria a luz solar e derrubaria temperaturas, afetando agricultura em escala global.
Um estudo na Nature Food (2022) simulou cenários de fuligem (soot) e estimou quedas grandes na produção calórica global; no cenário extremo de 150 Tg, os autores apontam que a produção calórica média de culturas poderia cair em torno de 90% após alguns anos. O International Committee of the Red Cross, em documento sobre efeitos climáticos e alimentos, cita pesquisas indicando que mais de um bilhão poderia enfrentar fome após uma guerra nuclear regional e lembra que reservas alimentares globais cobrem algo como 60 a 70 dias de consumo — um número que dá vertigem porque transforma “planeta” em “prateleira”.
Nesse ponto, a frase mais importante do texto é simples: explosões nucleares não respeitam fronteiras. Vento, chuva, correntes, cadeias de suprimento e mercados não têm passaporte. O hemisfério não é parede. Continentes não são escudos.
Contaminação oceânica
E os oceanos? O leitor tem razão em exigir esse capítulo. A prontidão de submarinos nucleares é um dos pilares da dissuasão: plataformas móveis, silenciosas, capazes de lançar mísseis. O impacto indireto sobre oceanos e vida marinha envolve risco de acidentes, de contaminação e, sobretudo, de radionuclídeos circulando por correntes e cadeias alimentares. A NOAA, por exemplo, mantém material público sobre radionuclídeos derivados de Fukushima detectados em atuns no Pacífico — uma lembrança objetiva de que traços radioativos podem viajar e servir como marcadores de trajetórias oceânicas. Fukushima não foi guerra, e justamente por isso é útil como metáfora factual: se a natureza transporta sinais radioativos em um acidente, imagine a complexidade de um conflito.
Governança
Eu ainda não falei do ponto mais humano — e talvez mais cruel: governança.
O mundo tem mecanismos para tentar impedir o pior, mas esses mecanismos têm engrenagens lentas, regras, vetos e política doméstica. As Nações Unidas podem convocar sessões emergenciais, acionar diplomacia, pressionar por cessar-fogo; mas o Conselho de Segurança pode paralisar por veto dos próprios envolvidos. O Parlamento Europeu pode aprovar resoluções, articular sanções e coordenação continental; mas não controla arsenais alheios, apenas influencia custos e legitimidades. E ainda assim, em cenários de escalada, legitimidade é um instrumento real: ela pode comprar tempo — e tempo, aqui, é vida.
Há também caminhos jurídicos e normativos que precisam ser citados sem ingenuidade. O Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares — adotado em 2017 — entrou em vigor em 22 de janeiro de 2021 no sistema ONU, mesmo sem adesão das potências nucleares, funcionando como marco moral e de pressão internacional. Ele não desarma sozinho, mas muda o vocabulário do aceitável — e vocabulário, quando o assunto é apocalipse, é infraestrutura.
A desigualdade em cenário nuclear
No meio desse quadro, surge a pergunta que o leitor sempre faz em silêncio: “E eu? Onde eu estaria?”
Aqui entram os bunkers — não como fantasia de bilionário, mas como política pública em alguns países. A Suíça, por exemplo, mantém a regra histórica de “um abrigo por habitante”: o governo afirma que há cerca de nove milhões de vagas em aproximadamente 370 mil abrigos privados e públicos, com taxa de cobertura acima de 100%. A Finlândia informa possuir cerca de 50.500 abrigos, com espaço para 4,8 milhões de pessoas, muitos deles estruturas privadas reforçadas em edifícios. A Suécia declara ter cerca de 65 mil abrigos, com capacidade para sete milhões, e que, em caso de alerta elevado, devem poder ser preparados em até dois dias.
Mas o texto precisa dizer o óbvio que, em geral, se evita por educação: em muitas nações, bunkers estratégicos servem prioritariamente para proteger chefes de Estado, primeiros-ministros, suas famílias imediatas, o estado-maior militar e centros de comando.
A desigualdade, num cenário nuclear, não é apenas de renda: é de ar respirável, de porta blindada, de água potável.
Colapso cognitivo
Agora vem o trecho que conecta método e angústia com um nome próprio: Princeton Program on Science and Global Security. Em 2019, pesquisadores do programa publicaram a simulação “Plan A”, modelando uma escalada plausível entre EUA e Rússia, e estimaram mais de 90 milhões de mortos e feridos nas primeiras horas do conflito. A utilidade disso não é prever o futuro com precisão; é mostrar a velocidade do colapso: decisões em minutos, mortes em horas, efeitos por décadas.
Quando eu olho para fevereiro de 2026 — conflitos quentes e guerras por procuração, tensões no Indo-Pacífico, instabilidade no Oriente Médio, retórica agressiva circulando nas redes, e a intoxicação cotidiana pela desinformação — eu concluo que a ameaça nuclear não se tornou “mais provável” apenas por arsenais. Tornou-se mais provável porque o ambiente mental da política internacional está mais irritável, mais performático, mais refém de humilhações públicas. E isso é explosivo em qualquer regime — especialmente em lideranças autoritárias e impulsivas, onde recuar pode parecer fraqueza e onde cercas institucionais podem ser contornadas por vontade pessoal.
Por isso a desinformação merece um parágrafo próprio.
Em cenários extremos, não é apenas a bomba que mata: é o colapso cognitivo. Boatos sobre “segunda onda”, sobre “ataque químico”, sobre “cidade segura”, sobre “culpado oculto” podem disparar migrações suicidas, linchamentos, saques e choques entre forças de segurança e civis desesperados. O pânico tem logística própria: ele entope estradas, consome estoques, destrói confiança e acelera decisões ruins.
Hiroshima e Nagasaki
É aqui que eu volto ao passado — não como lição escolar, mas como advertência corporal. Em 1945, Hiroshima e Nagasaki foram atingidas por armas muito menos potentes do que as ogivas típicas hoje implantadas em mísseis e submarinos. Ainda assim, a devastação foi suficiente para produzir mortes imediatas em massa e consequências prolongadas por radiação, cânceres e sofrimento dos sobreviventes.
E o que a história prova é simples: a bomba não encerra o drama no dia do clarão; ela inaugura um regime de dor que atravessa gerações.
Uma lufada de ar
Nesse ponto, eu preciso oferecer ao leitor uma lufada de ar — não de otimismo tolo, mas de ação possível. A proscrição das armas nucleares, a proibição do uso de gases venenosos ou a interdição da guerra bacteriológica não eliminarão as causas básicas das guerras. Por mais importantes que tais medidas práticas obviamente sejam, como elementos do processo de apaziguamento, por si só elas são demasiado superficiais para poderem ter um efeito duradouro.
Os povos são suficientemente engenhosos para inventar novos instrumentos de guerra, e para utilizar meios como os alimentos, as matérias-primas, as finanças, o poderio industrial, a ideologia e o terrorismo na subversão uns dos outros, numa procura incessante de supremacia e domínio.
Ainda assim, há medidas preventivas concretas — e inadiáveis — que não dependem de milagres: restaurar canais militares de comunicação direta para evitar erros de interpretação; reforçar regimes de verificação e transparência; ampliar compromissos de “não primeiro uso” onde houver condições políticas; proteger infraestrutura crítica contra colapsos em cascata; tratar a desinformação como ameaça à segurança humana, não como mero ruído cultural; fortalecer instrumentos multilaterais e humanitários, porque eles compram tempo e reduzem a tentação da escalada.
Paus e pedras
E, por fim, as frases que soam antigas porque são verdadeiras demais. A citação atribuída a Albert Einstein — “não sei com que armas será travada a Terceira Guerra Mundial, mas a Quarta será travada com paus e pedras” — circula há décadas e foi investigada por checadores de citações; o núcleo da ideia é consistente com registros e reaparições históricas, ainda que a formulação exata varie em versões.
E o que ela faz, mais do que impressionar, é devolver à política internacional um princípio de humildade: quando se normaliza a linguagem da destruição total, a civilização inteira vira refém de um acesso de fúria.
Eu termino como comecei: isto não é profecia. É um espelho. Um espelho desconfortável, porém necessário, para que o leitor — e eu junto com ele — possa reconhecer que o risco nuclear não é um capítulo encerrado da Guerra Fria, mas um perigo contemporâneo, amplificado por tecnologia, rivalidade e desinformação.
Se a humanidade tiver sorte, este texto será apenas um exercício mental. Se não tiver, será uma nota de rodapé escrita antes do silêncio.
08 de fevereiro
Trump, Obama e o racismo no centro da nova crise moral da Presidência
Vídeo racista divulgado por Trump revela estratégia política baseada em desumanização, alcance digital massivo e normalização do preconceito, gerando repúdio bipartidário e alerta internacional sobre limites éticos


O vídeo racista publicado — e posteriormente apagado — pelo presidente Donald Trump, que retratava o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama como macacos, não pode ser tratado como um desvio episódico, um erro técnico ou um ruído comunicacional. Trata-se de um ato político carregado de significado histórico, que resgata uma das mais violentas e persistentes formas de desumanização racial já empregadas contra populações negras.
Quando esse tipo de conteúdo parte do chefe do Poder Executivo — nos Estados Unidos ou em qualquer outra democracia — ele se converte em agressão institucional e em ataque direto aos fundamentos éticos do Estado moderno.
Dados públicos da Truth Social indicam que a conta de Trump reúne mais de 7 milhões de seguidores. Pesquisas do Pew Research Center demonstram que mensagens publicadas por líderes políticos com esse alcance tendem a atingir entre 20% e 40% de sua base nas primeiras horas, sobretudo quando repercutidas em outras plataformas digitais.
Mesmo com a remoção rápida, estimativas conservadoras apontam que o vídeo teve potencial para alcançar mais de 2 milhões de visualizações diretas, além de ampla circulação por meio de capturas de tela, republicações e edições, o que torna irreversível seu impacto simbólico. Alguém deve ter lembrado da velha fábula que já ensinava nossos avós que quando um travesseiro de penas é aberto diante da ventania… é praticamente impossível recolher todas as penas e devolvê-las ao travesseiro? Este é o caso, sem tirar nem pôr.
A reação mais incisiva partiu do deputado Hakeem Jeffries, líder democrata na Câmara dos Representantes. Em declaração pública, classificou o vídeo como “repugnante” e acusou o presidente de agir de forma deliberadamente inflamatória. Em tom ainda mais grave, afirmou que Trump demonstrava um comportamento “vil, racista e profundamente nocivo”, acrescentando que se tratava de alguém “descontrolado e moralmente degradado”. Jeffries também conclamou os republicanos a denunciarem o que chamou de “um padrão reiterado de fraude moral e política”.
Não era apenas retórica partidária, mas uma resposta institucional à banalização do racismo vinda do topo do poder.
A Casa Branca tentou conter a crise atribuindo a publicação a um assessor, sob a justificativa de erro operacional. A explicação, contudo, foi recebida com amplo ceticismo. Em sistemas de comunicação presidencial altamente centralizados, a transferência de culpa não elimina a responsabilidade política. O argumento reforçou a percepção de fragilidade institucional e de tolerância implícita a práticas que deveriam ser sumariamente rechaçadas. É o tipo de desumanização racial que não pode se colocar a culpa no mordomo. Menos ainda no estagiário.
O repúdio ultrapassou as fronteiras partidárias. O deputado republicano Brian Fitzpatrick declarou que, “seja por intenção ou negligência, a publicação representa uma falha grave de julgamento e é absolutamente inaceitável”, acrescentando que “um pedido de desculpas claro e inequívoco é devido”. No Senado, o tom foi semelhante. O senador Roger Wicker afirmou: “Isso é totalmente inaceitável. O presidente deveria retirar o conteúdo e pedir desculpas”.
A senadora Katie Britt avaliou que a mensagem foi “corretamente removida” e que “jamais deveria ter sido publicada”. O senador Pete Ricketts também se manifestou publicamente cobrando retratação. Cinco manifestações formais, convergentes, reconhecendo a gravidade do episódio.
O uso recorrente de memes ofensivos — muitos deles produzidos com auxílio de inteligência artificial — tornou-se parte da estratégia comunicacional do presidente e de sua base digital. Fato.
Dados do Southern Poverty Law Center indicam que, entre 2016 e 2024, houve um crescimento superior a 30% na circulação de conteúdos racistas em comunidades digitais associadas à extrema direita, frequentemente estimuladas por sinais emitidos por lideranças políticas de alto escalão.
Esse episódio só pode ser compreendido à luz da longa e dolorosa luta dos afrodescendentes nos Estados Unidos contra o racismo estrutural. Em 1955, Rosa Parks recusou-se a ceder seu assento em um ônibus segregado no Alabama, desencadeando um movimento que expôs a violência cotidiana da discriminação legalizada.
Anos depois, Martin Luther King Jr. lembraria ao país, a partir da prisão de Birmingham, que “a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar”. Essas conquistas não foram concessões do poder, mas frutos de resistência persistente, sacrifício e enfrentamento direto ao Estado segregacionista.
Apesar dos avanços históricos, os números revelam permanências alarmantes. Dados do U.S. Census Bureau mostram que, em 2024, a renda média de famílias brancas era cerca de 65% superior à de famílias negras.
O Bureau of Justice Statistics aponta que afro-americanos seguem sendo presos em taxas mais de cinco vezes superiores às de brancos. O FBI registra que mais da metade dos crimes de ódio no país têm motivação racial declarada.
Quando um presidente recorre a imagens racistas, ele não apenas ofende indivíduos específicos. Ele legitima ambientes de exclusão. Ele sinaliza permissividade. Ele autoriza, simbolicamente, que preconceitos históricos voltem a circular como linguagem política aceitável. A fronteira entre discurso pessoal e discurso de Estado se dissolve, e o racismo passa a ostentar o selo do poder institucional.
Nada disso pode ser relativizado, tolerado ou normalizado. Racismo não é excesso retórico, não é humor político, não é erro de comunicação. É violência histórica reembalada. E quando parte do chefe do Poder Executivo, transforma-se em agressão institucional contra milhões de cidadãos.
O vídeo pode ter sido apagado, mas seu significado permanece. Onde o racismo encontra abrigo no topo do poder, a democracia adoece.
E quando a desumanização vira método político, o silêncio deixa de ser neutralidade — passa a ser cumplicidade.
07 de fevereiro
Europa decide enfrentar décadas de repressão aos bahá’ís
Parlamento Europeu aprova resolução histórica com 549 votos denunciando perseguição sistemática aos bahá’ís, revela documento confidencial de 1991 e exige sanções contra autoridades responsáveis pelos crimes iranianos.
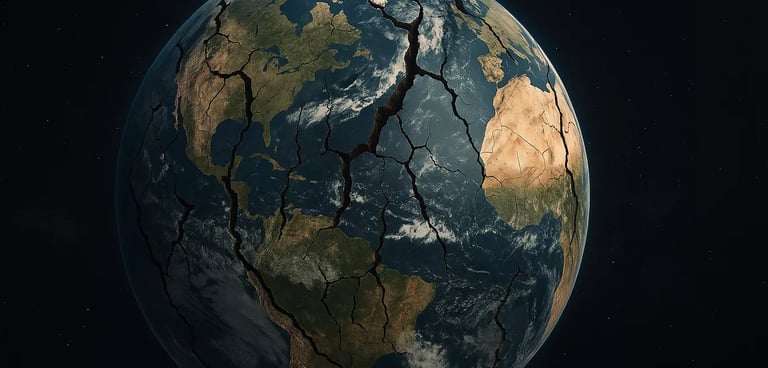
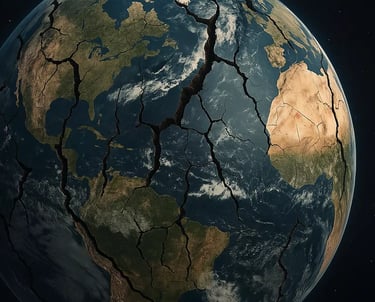
O vídeo racista publicado — e posteriormente apagado — pelo presidente Donald Trump, que retratava o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama como macacos, não pode ser tratado como um desvio episódico, um erro técnico ou um ruído comunicacional. Trata-se de um ato político carregado de significado histórico, que resgata uma das mais violentas e persistentes formas de desumanização racial já empregadas contra populações negras.
Quando esse tipo de conteúdo parte do chefe do Poder Executivo — nos Estados Unidos ou em qualquer outra democracia — ele se converte em agressão institucional e em ataque direto aos fundamentos éticos do Estado moderno.
Dados públicos da Truth Social indicam que a conta de Trump reúne mais de 7 milhões de seguidores. Pesquisas do Pew Research Center demonstram que mensagens publicadas por líderes políticos com esse alcance tendem a atingir entre 20% e 40% de sua base nas primeiras horas, sobretudo quando repercutidas em outras plataformas digitais.
Mesmo com a remoção rápida, estimativas conservadoras apontam que o vídeo teve potencial para alcançar mais de 2 milhões de visualizações diretas, além de ampla circulação por meio de capturas de tela, republicações e edições, o que torna irreversível seu impacto simbólico. Alguém deve ter lembrado da velha fábula que já ensinava nossos avós que quando um travesseiro de penas é aberto diante da ventania… é praticamente impossível recolher todas as penas e devolvê-las ao travesseiro? Este é o caso, sem tirar nem pôr.
A reação mais incisiva partiu do deputado Hakeem Jeffries, líder democrata na Câmara dos Representantes. Em declaração pública, classificou o vídeo como “repugnante” e acusou o presidente de agir de forma deliberadamente inflamatória. Em tom ainda mais grave, afirmou que Trump demonstrava um comportamento “vil, racista e profundamente nocivo”, acrescentando que se tratava de alguém “descontrolado e moralmente degradado”. Jeffries também conclamou os republicanos a denunciarem o que chamou de “um padrão reiterado de fraude moral e política”.
Não era apenas retórica partidária, mas uma resposta institucional à banalização do racismo vinda do topo do poder.
A Casa Branca tentou conter a crise atribuindo a publicação a um assessor, sob a justificativa de erro operacional. A explicação, contudo, foi recebida com amplo ceticismo. Em sistemas de comunicação presidencial altamente centralizados, a transferência de culpa não elimina a responsabilidade política. O argumento reforçou a percepção de fragilidade institucional e de tolerância implícita a práticas que deveriam ser sumariamente rechaçadas. É o tipo de desumanização racial que não pode se colocar a culpa no mordomo. Menos ainda no estagiário.
O repúdio ultrapassou as fronteiras partidárias. O deputado republicano Brian Fitzpatrick declarou que, “seja por intenção ou negligência, a publicação representa uma falha grave de julgamento e é absolutamente inaceitável”, acrescentando que “um pedido de desculpas claro e inequívoco é devido”. No Senado, o tom foi semelhante. O senador Roger Wicker afirmou: “Isso é totalmente inaceitável. O presidente deveria retirar o conteúdo e pedir desculpas”.
A senadora Katie Britt avaliou que a mensagem foi “corretamente removida” e que “jamais deveria ter sido publicada”. O senador Pete Ricketts também se manifestou publicamente cobrando retratação. Cinco manifestações formais, convergentes, reconhecendo a gravidade do episódio.
O uso recorrente de memes ofensivos — muitos deles produzidos com auxílio de inteligência artificial — tornou-se parte da estratégia comunicacional do presidente e de sua base digital. Fato.
Dados do Southern Poverty Law Center indicam que, entre 2016 e 2024, houve um crescimento superior a 30% na circulação de conteúdos racistas em comunidades digitais associadas à extrema direita, frequentemente estimuladas por sinais emitidos por lideranças políticas de alto escalão.
Esse episódio só pode ser compreendido à luz da longa e dolorosa luta dos afrodescendentes nos Estados Unidos contra o racismo estrutural. Em 1955, Rosa Parks recusou-se a ceder seu assento em um ônibus segregado no Alabama, desencadeando um movimento que expôs a violência cotidiana da discriminação legalizada.
Anos depois, Martin Luther King Jr. lembraria ao país, a partir da prisão de Birmingham, que “a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar”. Essas conquistas não foram concessões do poder, mas frutos de resistência persistente, sacrifício e enfrentamento direto ao Estado segregacionista.
Apesar dos avanços históricos, os números revelam permanências alarmantes. Dados do U.S. Census Bureau mostram que, em 2024, a renda média de famílias brancas era cerca de 65% superior à de famílias negras.
O Bureau of Justice Statistics aponta que afro-americanos seguem sendo presos em taxas mais de cinco vezes superiores às de brancos. O FBI registra que mais da metade dos crimes de ódio no país têm motivação racial declarada.
Quando um presidente recorre a imagens racistas, ele não apenas ofende indivíduos específicos. Ele legitima ambientes de exclusão. Ele sinaliza permissividade. Ele autoriza, simbolicamente, que preconceitos históricos voltem a circular como linguagem política aceitável. A fronteira entre discurso pessoal e discurso de Estado se dissolve, e o racismo passa a ostentar o selo do poder institucional.
Nada disso pode ser relativizado, tolerado ou normalizado. Racismo não é excesso retórico, não é humor político, não é erro de comunicação. É violência histórica reembalada. E quando parte do chefe do Poder Executivo, transforma-se em agressão institucional contra milhões de cidadãos.
O vídeo pode ter sido apagado, mas seu significado permanece. Onde o racismo encontra abrigo no topo do poder, a democracia adoece.
E quando a desumanização vira método político, o silêncio deixa de ser neutralidade — passa a ser cumplicidade.
07 de fevereiro
Fraturas expostas do racismo à brasileira. Até quando?
O racismo à brasileira não grita — sussurra; não se assume — disfarça-se; e, por isso mesmo, torna-se o mais cruel dos preconceitos.


O racismo, no Brasil, é uma doença antiga que atravessa séculos, camuflada sob a capa da cordialidade nacional. É um veneno que se disfarça em elogio, que se mascara em silêncio, que prefere as sombras do inconsciente às luzes do confronto aberto.
É o racismo que nos acompanha desde a infância, tão presente quanto sarampo ou catapora, tão naturalizado quanto as dores da primeira dentição. Crescemos com ele impregnado em nossas relações, nos ditados populares, nas piadas repetidas, nos padrões de beleza impostos. E, de tão enraizado, já não percebemos quando o praticamos. Mas a invisibilidade não anula a culpa — apenas a agrava.
O racismo à brasileira é vil porque tenta sempre escapar ileso, fingindo inocência. É torpe porque golpeia no momento inesperado, humilhando a vítima sob o disfarce de uma suposta normalidade. É cínico porque sobrevive alojado em nosso inconsciente, como aquele Voldemort que se escondia no turbante do velho professor em Harry Potter: invisível, mas ativo, manipulando, sussurrando, maquinando o mal.
Será que não carregamos, cada um de nós, um Voldemort de estimação em nossas cabeças? Quantas vezes não repetimos frases ou pensamentos que, quando examinados de perto, revelam a persistência da desigualdade racial que fingimos já ter superado?
A Casa Universal de Justiça, em 1986, alertou que “o racismo, um dos males mais funestos e persistentes, constitui obstáculo importante no caminho da paz” e que sua prática “consuma uma violação demasiado ultrajante da dignidade do ser humano para poder ser tolerada sob qualquer pretexto”. Quase quarenta anos depois, a advertência permanece de urgência desconcertante, como se escrita hoje.
As estatísticas mostram o abismo: de acordo com a pesquisa da antropóloga Lilia Schwarcz, 99% dos entrevistados afirmam não ser preconceituosos, mas 98% dizem conhecer alguém que é. Eis o paradoxo: a nação inteira se declara isenta de racismo, mas aponta o vizinho como culpado. A contradição não resiste a um minuto de silêncio interior.
No Brasil, os números recentes escancaram a desigualdade racial. Segundo o IBGE, pretos e pardos representam 56% da população, mas respondem por mais de 75% entre os 10% mais pobres. No mercado de trabalho, o rendimento médio de pessoas negras equivale a pouco mais da metade do rendimento de pessoas brancas. Quando se trata de violência, a chaga é ainda mais profunda: o Atlas da Violência 2024 mostra que jovens negros têm 2,6 vezes mais chances de serem assassinados do que jovens brancos. No sistema prisional, cerca de 67% da população carcerária é negra. Esses dados não apenas confirmam a persistência do racismo estrutural, mas revelam sua face mais cruel: a naturalização da desigualdade como se fosse destino inevitável.
Cansado de ouvir a ladainha dos que negam sua própria sombra, recordo os versos de Telles Junior: “Meu peito é matriz onde canta Zumbi sem toque de sinos, com imagens de Vida!”. Em quantos peitos ainda ressoa a canção de Zumbi dos Palmares, aquele herói enlouquecido de esperança, que sonhava uma nação praticante da unidade racial?
Antes de nos apressarmos em dizer “não sou racista”, convém um breve checklist:
Quantos dos meus amigos são negros, afrodescendentes?
Quantos amigos meus filhos e filhas têm que sejam negros?
O que aprendi com Gandhi, Martin Luther King, Enoch Olinga, Nelson Mandela, Louis Gregory?
O que sinto ao assistir a filmes como A cor púrpura, 12 anos de escravidão, Selma ou Histórias cruzadas?
Reconheço Machado de Assis e Lima Barreto como afrodescendentes ou os embranqueci em minha memória cultural?
Responder a essas perguntas é um começo. Se sairmos bem, talvez possamos dizer — com algum convencimento — que não somos racistas.
Mas a verdadeira medida de uma vida superior não está na cor da pele, no sangue ou nos sobrenomes herdados. Está na quantidade de virtudes morais e espirituais que colocamos em ação, na força do caráter que se revela nos pequenos gestos diários, na capacidade de viver sem a ilusão de uma falaciosa superioridade racial.
Porque, no fundo, não se trata apenas de sermos justos com os outros. Trata-se de sermos justos conosco mesmos: libertar nossas próprias sombras para, enfim, vivermos à altura da dignidade humana que afirmamos defender.
Vamos direto ao ponto:
O racismo à brasileira veste a pele da cordialidade, mas carrega séculos de exclusão, humilhação e a persistente negação de nossa própria sombra.
https://www.brasil247.com/blog/fraturas-expostas-do-racismo-a-brasileira-ate-quando
08 de outubro
Autismo vira trincheira de desinformação no coração da Casa Branca
Trump e Kennedy Jr. instrumentalizam o autismo, atacam ciência consolidada e deixam milhões de famílias reféns de ideologias, desinformação e decisões que fragilizam a saúde pública.


Na sala de imprensa da Casa Branca, Donald Trump decidiu dar novo fôlego a teorias sem lastro científico. Ao lado de Robert F. Kennedy Jr., seu secretário de Saúde, e do comissário da FDA, Marty Makary, declarou que o paracetamol — princípio ativo do Tylenol — estaria entre as causas do autismo. Não apresentou evidências, mas decretou em tom imperativo: “Não tomem Tylenol. Lutem como diabos para não tomar”.
A cena não era inédita. Lembrou os tempos da pandemia, quando o então presidente sugeria ingestão de desinfetantes e tratamentos improvisados. Agora, o palco se repete, mas o alvo é outro: uma das condições neurológicas mais estudadas e, ainda assim, menos compreendidas da atualidade.
Eu já escrevi neste mesmo ano sobre o caos que assola a saúde pública nos Estados Unidos. Hoje volto ao tema, não por gosto, mas por indignação. Tenho amigos com diferentes graus e espectros de autismo. Sei o quanto é prejudicial e nefasto reduzir essa realidade complexa a slogans políticos. Quando líderes máximos da nação, que há muito tempo flertam com o obscurantismo e com o negacionismo científico, tratam o assunto dessa forma, o prejuízo é devastador: desorienta famílias, fragiliza políticas públicas e transforma vidas em moeda de troca partidária.
Vacinas e Tylenol na mira presidencial
Kennedy Jr. não perdeu a oportunidade de ressuscitar o mito mais resistente da saúde contemporânea: o suposto elo entre vacinas e autismo. Trump o acompanhou, exagerando a ponto de dizer que bebês receberiam “80 vacinas de uma só vez”. Afirmações sem respaldo, mas carregadas de efeito político.
Três décadas de estudos em diversos países já descartaram qualquer vínculo entre imunização infantil e autismo. Mesmo assim, o fantasma retorna cada vez que convém a determinadas agendas. A consequência é imediata: erosão da confiança pública e risco real de retorno de doenças erradicadas.
Enquanto isso, a FDA buscou um ponto de equilíbrio, afirmando que a possível relação entre paracetamol e autismo continua sendo “área em debate científico”. Não mudou protocolos médicos: o uso deve ser mínimo, em doses pequenas e apenas quando necessário. Pesquisas recentes sugerem associações tênues, mas nenhuma prova de causa e efeito. Um grande estudo na Suécia, com 2,5 milhões de crianças, chegou a encontrar vínculos fracos — que desapareceram quando comparados irmãos da mesma mãe, sinal de que a genética materna explica mais do que qualquer comprimido.
A revisão publicada por pesquisadores de Harvard e do Mt. Sinai examinou 46 estudos. Em pouco mais da metade, havia alguma associação entre paracetamol e distúrbios do neurodesenvolvimento. Mas os próprios autores foram claros: “Não podemos responder à questão da causalidade”. Ainda assim, Trump e Kennedy Jr. usaram o estudo como se fosse prova definitiva.
Ciência pressionada, indústria acuada
A indústria reagiu rápido. A Kenvue, empresa que herdou o Tylenol da Johnson & Johnson, classificou de irresponsáveis as declarações da Casa Branca. O argumento é óbvio: o paracetamol está em mais de 600 produtos e é consumido semanalmente por um quarto dos adultos americanos. Minar a confiança nesse medicamento é abrir uma crise sanitária e econômica de grandes proporções.
O governo, por sua vez, tentou equilibrar a ofensiva contra o Tylenol com o anúncio de um suposto avanço: a aprovação da leucovorina, droga antiga derivada de vitamina B, para alguns casos de autismo em crianças com deficiência de folato cerebral. Os estudos até aqui envolveram apenas 80 participantes. O entusiasmo oficial contrasta com a prudência da ciência, que insiste: não é cura, não é revolução, é apenas possibilidade restrita a casos muito específicos.
Eu me pergunto, diante desse cenário, até que ponto a sociedade norte-americana está preparada para enfrentar não apenas a complexidade científica do autismo, mas a manipulação política que o cerca. A cada anúncio performático, a saúde pública é empurrada para o terreno do improviso, e milhões de famílias são deixadas sem respostas consistentes.
Trump governa por meio de frases de efeito. Kennedy Jr. mantém-se como porta-voz do negacionismo mais rentável: aquele que dá votos. A ciência, com sua lentidão e sua necessidade de evidências, é colocada na defensiva. E eu não consigo aceitar que amigos meus — e milhões de outros cidadãos — tenham suas vidas atravessadas por esse jogo de conveniências. O autismo exige estudo sério, investimento contínuo e compaixão humana. O que vimos na Casa Branca foi o contrário: espetáculo político travestido de política de saúde.
23 de setembro de 2015
Duas Castas no Brasil: Políticos Blindados, Povo Exposto, por Washington Araújo
PEC da Bandidagem aprovada na Câmara dos Deputados cria elite intocável, protegendo corruptos enquanto o povo enfrenta a lei nua e crua. Vergonhoso é pouco.


Caetano Veloso, com suas palavras vibrantes, convoca a sociedade à ação: “A PEC da Bandidagem, que é o que é, tem que receber uma resposta saudável. Uma manifestação de que o povo brasileiro não admite isso. Esse projeto de anistia, levado às pressas, não pode ficar sem resposta. A gente tem que ir pra rua, pra frente do Congresso.”
Aos 83 anos, Caetano, junto a Chico Buarque, 81, representa a resistência artística que enfrentou a ditadura militar (1964-1985). Suas canções, como “Podres Poderes” de Caetano – “Enquanto os homens exercem / Seus podres poderes” – e “Apesar de Você” de Chico – “Apesar de você / Amanhã há de ser / Outro dia” – foram hinos contra a opressão, inspirando a redemocratização.
Infelizmente, as novas gerações de artistas brasileiros, em sua maioria, parecem alheias às lutas por justiça, democracia e igualdade. Enquanto o país clama por direitos iguais, educação e saúde para todos, muitos optam pelo silêncio ou pelo entretenimento superficial. Esse vazio contrasta com a urgência de combater retrocessos como a PEC da Bandidagem, aprovada pela Câmara em 16 e 17 de setembro de 2025.
As duas castas
A PEC 3/2021, apelidada de “PEC da Bandidagem”, altera os artigos 53 e 102 da Constituição, criando duas castas: políticos do Congresso, blindados por privilégios, e o povo, submetido à lei comum. Seu texto é um monumento à impunidade, protegendo crimes como desvios de emendas parlamentares e mau uso do dinheiro público, que passam a recair apenas sobre 99% da população brasileira.
O primeiro aspecto danoso da PEC é a exigência de licença prévia da Casa Legislativa para processar deputados e senadores criminalmente, exceto em flagrante inafiançável (§ 2º do art. 53). Isso permite que corruptos escapem de investigações rotineiras, enquanto cidadãos comuns enfrentam a justiça imediata. A lei, assim, se torna desigual, favorecendo uma elite política em detrimento do povo.
Segundo, a PEC estabelece até 90 dias para a Casa decidir, por votação secreta e maioria absoluta, sobre a licença (§ 3º). Esse prazo introduz atrasos deliberados, suspendendo a prescrição durante o mandato (§ 4º). Um político pode postergar seu julgamento por meses, privilégio inconcebível para o trabalhador acusado de um delito menor, como furto.
Terceiro, a restrição à prisão apenas em flagrante inafiançável, com votação secreta em 24 horas sobre a custódia (§ 5º), facilita a liberação de criminosos influentes. Isso abre brechas para infiltrações do crime organizado no Parlamento, como alertam críticos. A PEC, assim, enfraquece o combate à corrupção sistêmica, protegendo interesses escusos de políticos poderosos.
Quarto, o foro privilegiado é estendido a presidentes nacionais de partidos (art. 102, I, b), blindando caciques partidários de julgamentos comuns. Essa medida perpetua oligarquias políticas, afastando a justiça de figuras influentes. A desigualdade perante a lei se agrava, consolidando a divisão entre uma casta intocável e o povo vulnerável às punições.
Quinto, a proibição de medidas cautelares, como buscas e apreensões, sem origem no STF (§ 1º do art. 53) limita investigações de corrupção. Evidências de desvios em emendas parlamentares ou lavagem de dinheiro ficam protegidas. A PEC, portanto, é uma barreira à transparência, favorecendo crimes financeiros que prejudicam saúde e educação do povo.
Essa PEC não é uma reforma, mas um ataque à democracia, ecoando os “podres poderes” de Caetano. Como Chico cantava, “Você que inventou a tristeza / Ora, tenha a fineza / De desinventar”, devemos desinventar essa injustiça. A sociedade deve ir às ruas, como Caetano urge, unindo jovens e os octogenários guardiões da liberdade para salvar o Brasil.
18 de setembro de 2015
A sombra do mau juiz é pior que os frutos da árvore envenenada
A sombra perversa deixada pelo mau juiz envenena a confiança pública, corrói processos e distorce a justiça na sua nascente. Seu mal é sistêmico, prolongado e mais destrutivo que qualquer crime isolado.


O julgamento da trama golpista chegou ao seu desfecho na noite desta quinta-feira, 11 de setembro, com o Supremo Tribunal Federal impondo duras penas aos principais envolvidos:
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão;
12 de setembro de 2015
Fux vota em português, mas com legendas em inglês, para agradar Trump
Entre citações a mortos ilustres e desprezo a dezenas de fatos contundentes, Luiz Fux ofereceu voto que absolve réus e agrada Trump, num espetáculo de gigantesca incoerência jurídica histórica.


No dia de ontem, quando o relator Alexandre de Moraes encerrou seu voto pedindo a condenação dos oito réus da trama golpista, o ministro Luiz Fux antecipou: “amanhã, quando eu for proferir o meu voto, não considerarei apartes”. Flávio Dino, com ironia elegante, respondeu: “Vossa Excelência poderá falar à vontade porque não irei pedir qualquer aparte”. Hoje, ao revelar seu voto, ficou claro o motivo da blindagem: medo de ouvir.
O aspecto mais alarmante no voto exaustivo de quase 13 horas do ministro foi sua desconcertante guinada rumo à incoerência. Até março, ele se apresentava como defensor de uma justiça punitiva, valorizando a imposição rigorosa de sanções e a responsabilização célere dos acusados. Agora, revela um contraste perturbador em sua postura.
Sem pudor, tornou-se garantista, preocupado em sublinhar nulidades processuais e restrições à jurisdição do Supremo.
Esse contraste não é mero detalhe. O mesmo ministro que considerou a denúncia “brilhantemente sintetizada” por Alexandre de Moraes, quando da aceitação do processo, resolveu, no dia de hoje, demoli-la. A incongruência é gritante, sobretudo porque acompanhou Moraes em dezenas de condenações dos atos de 8 de janeiro e agora se coloca como patrono das defesas. E capricha na pose.
Resumo da ópera: o ministro absolveu Jair Bolsonaro, Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno, Anderson Torres e Alexandre Ramagem de todos os crimes, incluindo organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Divergindo de Moraes e Dino, que condenaram todos, Fux condenou apenas Mauro Cid e Walter Braga Netto por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, absolvendo-os dos demais delitos.
A quase canonização dos réus
Em seu longo voto, Fux adotou a estratégia de desmerecer cada prova, uma a uma. Nenhum áudio, nenhum vídeo, nenhum depoimento — todos foram destituídos de força probatória. Restou-lhe apenas aceitar, em parte, a delação do tenente-coronel Mauro Cid, aliás o sonho de consumo de 10 entre 10 advogados dos réus em julgamento.
O resultado foi um quadro surreal: quase canonizou os réus, transformando-os em vítimas de um Estado que, segundo ele, teria ultrapassado os limites do direito. Na sua lógica garantista, Luiz Fux estava em um dia no qual perdoaria Idi Amin Dada e até Adolf Eichmann. (Sim, réus que não tinham metade das provas de culpabilidade que hoje pesam sobre os acusados julgados pelo ministro Fux.)
Esse gesto não foi apenas técnico. Foi político. Ao recusar a robustez das provas, Fux escolheu o caminho de oferecer consolo jurídico a cerca de 47% da população brasileira que ainda reluta em admitir o protagonismo de Jair Bolsonaro na tentativa de subversão da ordem democrática.
Em sua argumentação, estilo dízima periódica, o ministro dificilmente acharia possível o crime de tentativa de golpe.
Erudição de almanaque
O ministro recheou seu voto de citações a juristas do passado. Lidas em tom solene, pareciam descobertas inéditas, quando na realidade eram lugares-comuns da formação jurídica brasileira.
O efeito foi duplo: por um lado, dar verniz acadêmico a um voto frágil; por outro, resvalar em conceitos ao alcance do senso comum, ecoando paixões políticas e agendas particulares. Erudição de almanaque, que ilumina pouco e confunde muito.
Em certos momentos da tarde pensei que o ministro Fux estava apresentando seu voto para os calouros do curso de Direito de Pindamonhangaba ou de Xique-Xique. Nada contra essas acolhedoras cidades.
Ali, falando por todos os orifícios, sentia-se como o primogênito da deusa grega da Justiça, Têmis, representada com venda, balança e espada e que, por sinal, está entronizada à frente do próprio STF. Cabe perguntar: dos cinco juízes, coube apenas a Luiz Fux ser o único a apresentar a justiça em todo o seu esplendor? Seus colegas comeram mosca ao longo dos meses? Isso me fez lembrar novamente do médico Simão Bacamarte, da vila de Itaguaí, protagonista da célebre novela de Machado de Assis: toda a cidade é louca; só o médico é são.
Rivalidade velada com Alexandre de Moraes
A rivalidade entre Fux e Moraes emergiu cristalina. Em certo trecho, Fux declarou: “Eu e o ministro Alexandre somos amigos, mas temos dissensos, nunca discórdia”. O descompasso da frase revela o contrário: discorda sempre, ainda que encubra sob verniz cordial.
E não resistiu a uma alfinetada no ministro Flávio Dino, logo no início: “O senso de humor do ministro Dino é o que o torna atraente”. Um comentário que mistura veneno e falsa cortesia. O voto inteiro foi assim: cordialidade de superfície, veneno escorrendo a céu aberto.
O tom monocórdio e as frases intermináveis exibiram uma vaidade latente. Fux se colocou como astro maior, orbitando soberano e majestoso acima dos colegas.
Era visível o desejo de ofuscar o relatório robusto de Alexandre de Moraes. Mas bastaria submeter seu voto a um seminário em qualquer curso de Direito para expor suas fragilidades: fora as citações pomposas, o conteúdo se esfarela.
A incoerência em forma de voto
Vale lembrar: em março, Fux aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e seus aliados. À época, elogiou a “síntese brilhante” de Moraes. Agora, menos de seis meses depois, tenta invalidar todo o processo. Essa virada não é mero detalhe: ela mostra um ministro disposto a redesenhar sua biografia conforme a direção dos ventos políticos.
E não é a primeira contradição. Nos julgamentos anteriores, Fux acompanhou as condenações de dezenas de réus pela barbárie de 8 de janeiro, sem questionar a competência do STF.
Agora, subitamente, afirma que o Supremo nunca deveria ter julgado os casos. Um silêncio eloquente quando lhe convinha, um grito quando interessava.
Ao dizer que “o Mensalão foi abolição do Estado Democrático de Direito”, Fux explicitou seu viés. Não se tratou de argumento técnico, mas de recado político contra a esquerda. A lembrança reaviva sua frase de anos atrás, quando declarou que, diante de questões político-partidárias, “mataria no peito”.
O vínculo com a Lava Jato também emerge. Deltan Dallagnol, procurador da República que coordenou a operação, foi o autor do famoso “In Fux We Trust”, mensagem enviada ao então juiz Sérgio Moro, tentando blindar estratégias da força-tarefa.
Deltan, que depois se elegeu deputado federal, foi cassado pela Câmara em 2023 por irregularidades em sua candidatura e por uso político da Lava Jato. A frase, que parecia piada interna, virou hoje espelho de um voto que destila parcialidade.
Isolamento estratégico e cálculo de futuro
O isolamento de Fux não foi ingenuidade. Há quem veja nele uma estratégia para manter influência em um futuro rearranjo político, mesmo com sua aposentadoria próxima.
Ao se alinhar às defesas, posiciona-se como aliado de setores que poderão voltar ao poder e decidir indicações para o Supremo. Calcula, mais do que julga.
Nos bastidores, o clima foi descrito como sufocante. Um ministro do STF, em condição de anonimato, classificou o voto de Fux como “um dos mais malucos da história do STF”. Outro relato: “o ambiente ficou tão tenso que se poderia cortar o ar com uma faca”.
Colegas manifestaram solidariedade quase unânime a Alexandre de Moraes. A exceção foi Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, que manteve a neutralidade. O restante sequer olhou nos olhos de Fux.
A palavra mais repetida entre eles: deslealdade.
O humor ácido, mas falso
Um aluno meu me mandou a seguinte mensagem: “Professor, Fux vai gastar todo o verbo, esgotar todo o dicionário e cansar a todos com aquela lengalenga, mas não tarda e logo acaba seu momento de glória. O que o Fux faz é tão somente querer ofuscar o brilho de Moraes. Numa palavra: ego inflado. O Zepelim Fux. E vai morrer na praia, será voto vencido. Amanhã, a ministra Cármen Lúcia, com sua proverbial sabedoria mineira, põe ordem na Casa e ensaboa essa peruca do Fux.”
Do lado de fora, o ex-ministro Marco Aurélio Mello saiu em defesa de Fux. Eufórico, disse: “O voto dele ficará nos anais do Tribunal. O voto dele, a meu ver, escancarou o quadro”. Se Marco Aurélio via no voto uma obra-prima, a lógica se inverte: os insensatos sempre se reconhecem.
O fecho: recado a Trump
O voto de Luiz Fux pareceu menos uma manifestação de justiça e mais um documento político internacional. Pela forma enviesada, pelo tom complacente e pela obsessão em reduzir a responsabilidade de Jair Bolsonaro, soou como um texto pronto para ser lido em Palm Beach. Mais ainda: pareceu escrito para agradar ao presidente Donald Trump, como quem diz que o Brasil só se livrará das tarifas de 50% impostas às exportações brasileiras aos EUA se interromper imediatamente o julgamento ou decretar a inocência do ex-presidente.
E assim termina: não como o voto de um juiz supremo, mas como a peça de um advogado de defesa com endereço estrangeiro.
Bombástico, irônico, melancólico — um voto para a história, mas pela porta dos fundos, com direito apenas a uma pálida nota de rodapé. Acho até muito.
11 de setembro de 2015
Exorcismo no STF com democracia exigindo punição máxima
Moraes e Dino abrem julgamento no STF com provas esmagadoras contra golpistas, selando destino de Bolsonaro e aliados em defesa da democracia ferida.


Nesta terça, 9, assistimos a primeira turma do Supremo Tribunal Federal se transformar em arena onde a democracia, ferida, mas viva, finalmente contra-ataca. No terceiro dia do julgamento do núcleo central da trama golpista – aquela rede de ambições que visava perpetuar o poder à força, ignorando urnas e Constituição –, Alexandre de Moraes e Flávio Dino depositaram seus votos como marteladas precisas em dois pregos enferrujados.
Moraes construiu um edifício de provas que esmaga qualquer dúvida sobre a culpabilidade dos oito réus, aceitando na íntegra a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Dino, por sua vez, seguiu o caminho da condenação, mas com uma escala de punições que, embora lógica, soa como um sutil abrandamento para alguns – ironia das ironias, em um caso em que a traição à nação não admite meios-termos. O placar inicia com 2 a 0 pela condenação, um sinal de que a impunidade, enfim, pode estarem um beco sem saída.
Moraes não poupou tinta nem rigor em seu voto, dedicando horas a dissecar as entranhas da conspiração que se estendeu de julho de 2021 ao caos de 8 de janeiro de 2023. Para cada réu, ele pinçou um resumo demolidor da culpa, ancoradas em evidências como mensagens interceptadas, delações validadas e documentos que expõem a crueza do plano.
Começando por Jair Bolsonaro, o ex-presidente emerge como e da organização criminosa, com Moraes destacando sua edição pessoal da minuta do golpe – um decreto que previa prisões arbitrárias de ministros do STF e do presidente do Senado, recebido e “enxugado” por ele em 6 de dezembro de 2022, conforme delação de Mauro Cid. Mas o golpe de misericórdia vem na aprovação tácita da Operação Punhal Verde-Amarelo, um esquema assassino para eliminar Lula, Alckmin e o próprio Moraes, com detalhes macabros como envenenamento e uso de armamento pesado, financiado por agronegócio via aliados e impresso no Palácio do Planalto. Moraes ironizou a defesa: “Não é crível que isso seja mero ‘pensamento digitalizado’ – era um roteiro de terror estatal.”
Contra Walter Braga Netto, o general que se via como pivô da ruptura, Moraes apontou sua coordenação central nas reuniões palacianas de 7 de dezembro de 2022, onde se debateu estados de sítio e defesa para barrar a posse de Lula, com atas e testemunhos revelando sua insistência em quebrar a “normalidade constitucional”. Pior ainda, sua ligação direta com a famigerada operação Punhal Verde-Amarelo, repassando fundos a executores como o major Rafael de Oliveira para cobrir despesas de uma operação que previa “efeitos colaterais” e chances de sucesso calculadas friamente, e que se fosse bem-sucedida transformaria o Exército em ferramenta de assassinato seletivo.
Mauro Cid, o delator que virou peça-chave, não escapou da lâmina afiada: Moraes validou sua delação premiada destacando sua entrega da minuta golpista a Bolsonaro e sua participação em transações financeiras que bancaram acampamentos bolsonaristas, com áudios e mensagens provando seu papel central em uma máquina de desinformação que inflamava multidões contra as urnas.
Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, foi exposto por testemunhos que o colocam como o único chefe militar disposto a mobilizar tropas para o golpe, com e-mails e reuniões confirmando sua oferta de forças navais para impor a “intervenção” – uma traição que Moraes qualificou como “prontidão para o abismo”.
Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça que transformou negligência em cumplicidade, viu Moraes brandir a minuta impressa do golpe encontrada em sua residência, um artefato que delineava a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com anotações que ligam Torres diretamente ao planejamento. A outra acusação letal: sua omissão intencional na segurança de Brasília em 8 de janeiro, ignorando alertas de inteligência sobre invasões –que Moraes descreveu como “facilitação deliberada do caos”.
Augusto Heleno, o general das sombras, um tanto trapalhão, mas sempre tratado com respeito, foi acusado por suas “anotações golpistas” apreendidas pela PF, um diário de intentos que não era “querido diário”, mas um manual para deslegitimar eleições, com notas sobre ataques ao Judiciário e alianças com milícias digitais.
Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, enfrentou o dedo em riste por atrasar o relatório sobre urnas eletrônicas sob ordens de Bolsonaro, mantendo viva a “chama da fraude” para justificar a não-posse de Lula – uma manipulação comprovada por memorandos internos. Sua segunda linha: a busca de alinhamento com comandantes para preparar o golpe de estado.
Por fim, Alexandre Ramagem, o ex-chefe da Abin que virou deputado, foi implicado pelo uso ilegal da agência para vigiar opositores e espalhar mentiras sobre fraudes eleitorais, com mensagens a Bolsonaro atacando o sistema de votação – Moraes o comparou a um “delinquente estatal”. A outra prova: financiamento de caravanas golpistas via extratos bancários, integrando-o à cadeia de comando que orquestrou os atos de 8 de janeiro.
Essas dissecações, ancoradas em perícias, delações e documentos, formam a essência do voto de Moraes, que concluiu pela condenação integral dos oito por crimes como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático e organização criminosa armada. “Não há dúvida: foi uma tentativa consumada de ruptura”, sentenciou, favorável a penas que somem décadas, sem atenuantes para quem tramou contra o povo.
Flávio Dino, o segundo a votar, trouxe uma avaliação que, embora alinhada à condenação, merece escrutínio por sua gradação de penas – uma abordagem que dilui a fúria coletiva contra traidores, sugerindo que nem todos os venenos merecem o mesmo antídoto. Ele posicionou Bolsonaro e Braga Netto no topo da pirâmide, como mentores supremos, merecedores das sanções mais severas por sua “posição dominante” na organização, com ameaças diretas a ministros e coordenação de atos executórios como a Punhal Verde-Amarelo. No estrato intermediário, Cid, Garnier e Torres, com penas um tanto menores, por seu “alto índice de participação” como operadores – Cid por delação parcial, Garnier por oferta de tropas, Torres por facilitação logística.
Para os três de pena mais leve – Heleno, Paulo Sérgio e Ramagem –, Dino argumentou com uma linha que prioriza papéis periféricos: Heleno por fornecer mera “assessoria ideológica” sem comando operacional, limitando-se a notas que, embora tóxicas, não moveram exércitos; Paulo Sérgio por “preparativos logísticos” como o relatório fraudulento, mas com tentativas de dissuadir Bolsonaro, sugerindo hesitação; Ramagem por focar em “inteligência paralela” que saiu do governo em março de 2022, antes do pico da trama, evitando crimes diretos como danos patrimoniais. É uma racionalidade jurídica, mas que ironiza a essência: conspirar, mesmo “consultivamente”, é veneno puro – e punição máxima, a meu juízo, seria o único remédio proporcional.
Dino não parou aí: disparou alertas ao Congresso sobre o projeto de anistia em tramitação na Câmara, declarando que crimes contra a democracia são “insuscetíveis a graça ou indulto”, imprescritíveis pela Constituição, e que o STF os rejeitaria como atentado inafiançável. “Não cabe perdoar o imperdoável”, advertiu, ecoando precedentes da Corte e blindando o julgamento de interferências externas, inclusive ameaças estrangeiras.
Anseio que a continuação da apresentação dos votos dos ministros deixe uma mensagem clara na história do Brasil —não serão toleradas absolvições baratas para quem planejou seu funeral.
Este dia no STF não foi mero procedimento; foi um exorcismo nacional, onde provas irrefutáveis desmontam narrativas de inocência. Que os próximos votos sigam o tom – punição sem piedade, para que a democracia respire aliviada.
10 de setembro de 2015
STF encara o maior julgamento do século XXI no Brasil, com o golpe no banco dos réus
Processo contra Bolsonaro e generais leva STF ao maior julgamento do século, com provas que revelam conspiração que levou o país ao abismo


A arte de julgar, alicerce da ordem social, equilibra justiça e equidade em tempos de incerteza. Visualize uma arena onde a balança da justiça oscila, guiada por princípios perenes, não por caprichos. Enquanto o Brasil acompanha um julgamento crucial no Supremo Tribunal Federal (STF), reflitamos sobre essa prática nobre, enraizada nas origens da civilização.
Julgar transcende o ofício: é a prática de sabedoria, ética e coragem que molda o destino de nações.
Na Grécia Antiga, berço da democracia, juízes atuavam coletivamente. Até 500 cidadãos podiam decidir casos em Atenas, como descreve Aristóteles em Constituição dos Atenienses. Sólon, legislador do século VI a.C., reformou leis para promover igualdade, abolindo dívidas escravizantes e criando tribunais acessíveis.
Em Roma, o direito amadureceu com sofisticação. Juristas como Ulpiano (c. 170–228 d.C.) e Papiniano (c. 142–212 d.C.) orientavam os pretores, magistrados encarregados de aplicar as leis. Ulpiano, morto por defender princípios contra abusos imperiais, tornou-se símbolo de independência judicial. Os romanos viam o juiz como guardião do ius civile, adaptando normas à realidade com equidade — herança que influenciaria séculos depois o monumental Código de Justiniano.
É aqui que minhas memórias pessoais se entrelaçam com a história. Essas lições do direito da Antiguidade as assisti com o professor Condorcet, na Faculdade de Direito Cândido Mendes, ali na Praça XV, em sua velha edificação do período imperial, conhecida por “Forte Apache” devido à arquitetura imponente. O professor Condorcet era especialista em Direito Romano. O ano era 1979, eu contava apenas 20 anos de idade. Hoje, infelizmente, grande parte das faculdades de Direito não têm mais a disciplina de Direito Romano em sua grade. Uma lástima, porque essa raiz civilizatória é essencial para compreender o presente.
Enquanto no direito grego o juiz mediava a dikē (justiça) pela retórica, em Roma o iudex aplicava a lei com rigor, amparado nos éditos anuais dos pretores. Em ambos os casos, julgamentos justos exigiam imparcialidade, busca da verdade, proporcionalidade e humanidade, equilibrando rigor e misericórdia.
Máximas latinas cristalizam esses ideais. Fiat iustitia ruat caelum — “Faça-se justiça, ainda que desabem os céus” —, atribuída a Piso, coloca a lei acima de circunstâncias. Já Summum ius, summa iniuria — “A lei suprema pode ser a suprema injustiça” —, de Cícero, alerta contra a rigidez sem contexto. E Ulpiano definiu: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi — “Justiça é a vontade constante de atribuir a cada um o seu direito”.
Esses princípios conectam a Antiguidade ao direito moderno, distinguindo direito natural e positivo. O natural, enraizado em valores universais da razão ou da divindade, transcende leis humanas, como Cícero argumenta em De Legibus. O positivo, criado por autoridades humanas, é mutável e sujeito a revisões históricas. O mito de Antígona, de Sófocles (441 a.C.), ilustra esse dilema: desafiando Creonte, que proibira o sepultamento de seu irmão Polinices, Antígona invoca leis divinas como superiores às ordens do Estado. A tragédia questiona os limites do poder político diante de direitos inalienáveis.
Essa tensão entre natural e positivo ressoa na arte de julgar de hoje, em que provas são o alicerce das decisões. Testemunhos verbais, relatos oculares, registros documentais, perícias técnicas (como exames de DNA) e evidências materiais compõem o conjunto probatório. Colhidos em inquéritos e audiências, devem ser avaliados pela relevância e credibilidade — sempre lembrando que a memória de testemunhas oculares é falível, como comprovam inúmeros estudos psicológicos.
No Brasil, o Código Penal de 1940 estrutura crimes e penas, orientando sanções proporcionais. O princípio do “livre convencimento motivado” garante ao juiz liberdade de análise, mas exige fundamentação clara, em nome da transparência e da confiança pública.
O jurista Rudolf von Ihering, em A Luta pelo Direito (1872), deixou duas lições essenciais. Primeiro: o direito nasce de conflitos sociais e evolui pela luta. Segundo: ele serve a fins coletivos, reconciliando interesses para o bem comum, sempre priorizando a ética. Esse arcabouço é vital para lidar com crimes contra o Estado, como golpes de Estado — a derrubada violenta de governos legítimos, conceito explorado por Curzio Malaparte em Técnica do Golpe de Estado (1931).
No Brasil, a Lei 14.197/2021 redefiniu as bases da proteção ao Estado Democrático de Direito. Criminalizou, de forma inequívoca, qualquer tentativa de subversão da ordem constitucional, mesmo quando desprovida de violência ostensiva. A nova tipificação abrange atentados contra a soberania, contra as instituições e contra a própria normalidade democrática. Foi um amigo — e um dos mais brilhantes advogados de sua geração, Dr. Luigi Roberto Berzoini — quem me chamou a atenção para um detalhe pitoresco. Alguém aqui sabe quem assinou essa lei? Basta recorrer ao Diário Oficial da União:
“Brasília, 1º de setembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Anderson Gustavo Torres
Walter Souza Braga Netto
Damares Regina Alves
Augusto Heleno Ribeiro Pereira”
Eis a ironia: a lei que agora serve de espada contra os conspiradores foi sancionada por eles próprios, como se tivessem redigido de antemão a ata de sua condenação. Só uma figura escapou da cena do crime — a senadora Damares Regina Alves. A história, maliciosa como sempre, adora esse tipo de piada de mau gosto.
É nesse contexto que se insere o julgamento histórico do STF, iniciado em 2 de setembro de 2025. Oito réus, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, respondem por tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada e depredação de patrimônio público.
Ao seu lado estão nomes de peso da antiga cúpula militar e política: os generais Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Walter Souza Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira; o almirante Almir Garnier Santos; o tenente-coronel Mauro Cid; o ex-ministro Anderson Torres; e o ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. A acusação relaciona a trama ao período pós-eleições de 2022, quando um decreto de Garantia da Lei e da Ordem teria sido preparado para sustentar Bolsonaro no poder, em conexão direta com os ataques de 8 de janeiro de 2023.
Hoje, 9 de setembro de 2025, após uma semana de sustentações orais, o relator Alexandre de Moraes abre a votação. Os dois votos mais aguardados são justamente os dele e do ministro Luiz Fux. De Moraes espera-se firmeza, como investigador do caso e também alvo da trama, cuidando sempre para que tudo ocorra dentro do devido processo legal. Merece aplausos da sociedade brasileira por sua incansável busca por justiça.
Já Luiz Fux, ministro carioca, é figura controversa — para dizer o mínimo. Nas últimas semanas, ele e outros dois ministros da Suprema Corte, André Mendonça e Cássio Nunes, foram os únicos poupados pela ira intervencionista e ilegal do presidente Donald Trump. Os três não receberam sanções do governo norte-americano, o que levantou suspeitas sobre sua plena independência. A estranheza aumentou quando se soube de uma carta insólita e abusiva enviada por Trump ao governo brasileiro: nela, condicionava a derrubada das tarifas de 50% sobre produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos à absolvição do ex-presidente Bolsonaro.
Na sequência, votarão também os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, todos integrantes da Primeira Turma. O julgamento deve se encerrar em 12 de setembro, quando serão fixadas as penas individualizadas, considerando agravantes como liderança e participação em atos preparatórios.
Esse processo não é apenas jurídico: é também um teste histórico à democracia brasileira. Em um mundo onde a justiça tantas vezes oscila, julgar com equidade fortalece sociedades e projeta confiança no futuro. Poucos processos julgados neste século reúnem uma quantidade tão extraordinária de provas: são dezenas de horas do réu delator, o tenente-coronel Mauro Cid, centenas de documentos comprometedores e inquestionáveis, centenas de horas gravadas em áudios e vídeos, inclusive daquelas reuniões preparatórias oficiais no Palácio do Planalto onde se tramou boa parte do golpe de Estado. Mas não para por aí. Quem tiver paciência passará algumas semanas ouvindo centenas de horas de depoimentos prestados não apenas pelos réus, mas também pelas testemunhas por eles arroladas e pelas convocadas pela Procuradoria-Geral da República. Somam-se ainda exaustivas diligências e inquéritos minuciosamente investigados e concluídos pela Polícia Federal.
A quantidade de provas contra os meliantes — grande parte delas produzida por eles mesmos para autopromoção em suas redes sociais — é de causar espanto.
Que a arte de julgar, forjada desde a Antiguidade, seja agora a muralha que protege a democracia brasileira diante de seus mais ousados inimigos internos.
10 de setembro de 2015
Meu cartaz diria assim: "Sim, eu sou a humanidade!"
A islamofobia não é o iceberg inteiro, mas apenas uma de suas pontas. Não é o ódio aos muçulmanos que está engolfando a Europa. É o horror, o desprezo e a repulsa a todos os que não são naturais do velho continente


Os franceses tiveram no último dia 7 de janeiro o seu 11 de setembro.
Mas são dois episódios muito distintos:
O 11/9/2001 atingiu duas torres-símbolos do sistema financeiro norte-americano, aniquilando 3.278 vidas humanas.
O 7/1/2015 atingiu a redação de um jornal parisiense, o Charlie Hebdo, conhecido por sua irreverência e paixão pela polêmica fácil e quase sempre de mau gosto.
O 11/9 foi em si o auge da espetacularização do terrorismo seguido por comoção mundial que respaldou e buscou legitimar ações armadas contra o terror no Iraque, Afeganistão, Líbia, Síria.
O 7/1 teve em seu auge imediata comoção mundial seguida por breve caçada dos assassinos, sua morte menos de 48 horas do atentado e uma breve expansão do atentado atingindo supermercado judaico e elevando o número de mortes a 17.
O 11/9 matou pessoas aleatoriamente, tanto poderiam ser pessoas comuns fazendo compras em um dos metas shoppings centers de New York quanto milhares de pessoas circulando em sua mais movimentada estação de metrô.
O 7/1 matou pessoas escolhidas a dedo - todas relacionadas com a atividade jornalística, todas envolvidas com a publicação de charges e desenhos ofensivos ao fundador da religião islâmica, o profeta Muhammad, sendo muitas dessas charges claramente obscenas e para além de qualquer respeito à ideia que devemos ter concernentes à crença religiosa.
O 11/9 motivou imediata resposta midiática do então presidente George Bush deixando claro que o governo que representava distinguia claramente o ataque terrorista feito por extremistas muçulmanos de todo o conjunto de milhões de muçulmanos, ou seja, o inimigo não era o Islã, mas sim uma pequena porção de seguidores radicais, mas na sequência os fatos soterraram as alegadas boas intenções: teve início a guerra no Iraque em busca de armas químicas em poder do regime de Saddam Hussein com saldo de milhares de vítimas fatais e muçulmanos passaram a ser discriminados com muito maior rigor, não apenas nos Estados Unidos, mas também por toda a Europa.
O 7/1 também motivou enfática declaração do presidente francês François Hollande no sentido de separar os dois autores do atentado ao Charlie Hebdo mortos da inteira comunidade islâmica do país.
No campo das ideias reina o bom senso: que país ou que governo seria capaz de incriminar como autores dos dois atentados - 11/9 e 7/1 - nada menos que 1 bilhão e 900 milhões de adeptos da religião do Islã?
Resta saber o que irá prevalecer no campo das ações: aumentará a já imensa islamofobia que assola a Europa e que tem na França um de seus maiores bastiões?
A islamofobia não é o iceberg inteiro, mas apenas uma de suas pontas. Não é o ódio aos muçulmanos que está engolfando a Europa.
É o horror, o desprezo e a repulsa a todos os que não são naturais do velho continente, milhões de imigrantes e refugiados, desempregados e subempregados que vieram à Europa fugindo de perseguições políticas, étnicas, religiosas e econômicas, largos contingentes populacionais que migraram de países árabes, asiáticos, africanos e latino-americanos.
É a velha xenofobia, doença antiga que enferma colonizadores e nações com aspirações imperialistas, e que lhes garantem a crença na falácia que são povos superiores, membros de uma espécie de gênero humano Classe A.
O que o mundo vive neste momento é mais um vigoroso testemunho que não existem integrantes de uma 'humanidade especial' - estamos todos nós, e isso significa a inteira população planetária que abarca mais que 7 bilhões de seres humanos, em uma mesma travessia - a travessia de um mundo debilitado e em estágio terminal, carcomido pela gangrena que reúne a uma só vez os males letais do racismo, nacionalismo e materialismo para o mundo possível com que as pessoas de boa vontade ao longo dos milênios sempre sonharam e esperaram viver, um outro mundo onde ideias como paz mundial e fraternidade humana ultrapassam os limites flexíveis da retórica vã e vazia e fincam raízes profundas no imaginário de uma só e mesma espécie - a espécie humana.
Sim, digamos em alto e bom som, com aquele rosto crispado de sincera indignação:
"Toda forma de terror é abominável, execrável, inaceitável sob qualquer ponto de vista e, por isso mesmo, precisa ser combatido! Todos os povos têm o direito de viver em um ambiente onde se respeitem as liberdades individuais e se possa buscar a felicidade com o sentimento real de segurança!"
Sim, digamos também em alto e bom som, e com o mesmo semblante ainda transtornado pelas cores da mais legítima indignação:
"Nenhuma liberdade é absoluta! Não se pode amparar na marquise das liberdades humanas essa forma bastarda que entende o desrespeito abusivamente repetido as crenças religiosas de outrem como sendo o direito à liberdade de expressão! Nenhuma liberdade que se preze pode ousar incitar o racismo, a xenofobia, pois quando assim se manifesta estamos apenas a poucos passos do estágio de barbárie!"
Eu jamais poderia me imaginar portando um cartaz com os dizeres "Eu sou Charlie - Je suis Charlie!".
Porque em minha mais tenra imaginação não consigo me ver desrespeitando não apenas o Islã, como também não me vejo como agressor contumaz do Cristianismo, Judaísmo, Budismo, pessoas de origem africana, ciganos, minorias étnicas, migrantes e refugiados em geral.
E se tivesse que marchar com um cartaz nas mãos, teria que ser algo que refletisse o meu mundo interior, que abarca a imensa diversidade humana, com seus credos, suas cores e etnias, seus pensamentos, suas visões de mundo.
Meu cartaz diria, então, estas palavras: "Sim, eu sou a humanidade!"
Provavelmente estaria em franca minoria na marcha de mais de 1 milhão de pessoas que em sua grande maioria portavam o equivocado "Je suis Charlie!" nas ruas de Paris na tarde deste domingo, 11 de janeiro.
Mas, pensando bem, quem disse que uma ideia errada conduzida nos braços de milhões de pessoas a tornaria menos errada?
12 de janeiro de 2015
Boff, Suplicy e Paim Campeões da Justiça
Em um mundo que se move sob o signo da instabilidade – política, econômica, social e religiosa – é bem pouco comum ver três personalidades brasileiras levantar suas vozes em defesa de pessoas oprimidas


Em um mundo que se move sob o signo da instabilidade – política, econômica, social e religiosa – é bem pouco comum ver três personalidades brasileiras levantar suas vozes em defesa de pessoas oprimidas que, vivendo no Irã, um país tão distante do Brasil e com cultura tão diversa da nossa, pagam alto preço para ter um direito humano básico – o direito à liberdade de religião.
A essas pessoas, um teólogo e dois parlamentares, sinto-me preso da mais profunda admiração. E não encontro melhor designação para eles que esta: Campeões da Justiça. Em solenidade particular, nos recintos de minha consciência interior reputo Leonardo Boff, Eduardo Suplicy e Paulo Paim como sinceros campeões da justiça.
Cada um à sua maneira, usando os instrumentos que dispõem, não hesitaram em chamar a atenção do mundo para o interminável drama que vivem os cerca de 300.000 seguidores da religião bahá´í no Irã, drama iniciado no distante 1844, início dessa epopéia religiosa que sonhou desde seus primeiros dias com a unidade do gênero humano, a cidadania mundial, a igualdade de direitos para homens e mulheres, o apreço à diversidade de raças e etnias, a defesa do princípio de que a divindade, Deus, é um só e que, portanto, todas as religiões têm uma mesma fundamentação teologal, devendo ser objeto do mais sincero respeito e admiração.
Leonardo Boff foi assertivo quando divulgou documento público em que apoia o esforço de diálogo aberto com todas as religiões - e o respeito a cada uma delas - promovido pelo clérigo iraniano Ayatollah Abdol-Hamid Tehrani. Dentre esses esforços louvados por Boff se encontram o refinado trabalho de Tehrani em produzir iluminuras para trabalho de caligrafia, uma das mais belas artes a caracterizar a milenar cultura artística da Pérsia.
O renomado teólogo islâmico, ao destacar em sua preciosa arte textos sagrados em defesa dos seguidores da religião bahá´í, abriu com esse inusitado gesto enorme clareira em meio ao obscurantismo que por longos séculos aprisiona o Islã em sua difícil convivência com outros credos e outras formas de sentir Deus e de pensar o mundo. E Boff chama a atenção para esse acontecimento, dando relevo também à sua própria atuação como teólogo cristão – ele mostra do que é capaz um coração sem fronteiras aliada a uma mente receptiva às emanações do melhor que pode irradiar da consciência humana. É a coerência em toda sua inteireza, unificando pensamento e gesto, crença e conduta de vida. É um genuíno campeão da justiça porque percebe muitos anos antes de seus contemporâneos que a defesa da justiça precisa ser feita independente das características das vítimas, das religiões que abraçam, dos países em que vivem, dos idiomas em que se comunicam.
Dessa aproximação de Boff a Tehraní em defesa do humano que habita em cada um de nós e que busca conexão com o Sagrado, entendo oportuno destacar essas palavras do teólogo franciscano: "Como não recordar, neste contexto, a extraordinária experiência de convivência pacífica e de profundo diálogo que os seguidores de Allah viveram durante 7 séculos na Espanha com Averroes, Avicena e outros grandes poetas com os cristãos, e contemporâneos como o franciscano Raimundo Lullo. Este criou um centro de diálogo e troca entre muçulmanos, judeus e cristãos na convicção de que ninguém deles, embora com compreensões diferentes, estava fora da verdade. Não só respeitavam os caminhos diferentes, mas admiravam o que cada um podia apresentar para um conhecimento maior do Altíssimo. Que isso nos sirva de inspiração para entender o trabalho tão admirável do Aytatollah Tehrani."
Eduardo Suplicy remonta a uma espécie de líderança política quase em extinção. É essencialmente um pacifista, símbolo perfeito do mundo de sua juventude – os 1960, 1964, 1968 – aquela época em que se fazia revolução fundada na promoção de não mais que duas palavras – paz e amor – e contava com a força vibrante extraída da arte de artistas como Bob Dylan, Chico Buarque, Victor Jara. É de uma determinação exemplar. Ninguém pode deixar de associar o nome Suplicy na política brasileira com sua atuação parlamentar prenhe de justiça social e que desemboca no programa que ele gerou, deu forma e se pôs a defender – o renda básica de cidadania.
No mesmo 14 de maio, para assinalar seis anos de confinamento dos Yarán, nome como são conhecidos os sete líderes bahá´ís presos por professar uma religião não permitida pela República Islâmica do Irã, Suplicy se dirigiu à tribuna do plenário do Senado Federal e, qual águia com sua visão aguda, fez belíssimo voo em defesa dos direitos humanos, em defesa da liberdade de religião, em defesa do estado de justiça. E em defesa dos mesmos bahá´ís, há poucas semanas da contundente defesa vocalizada por Leonardo Boff. O senador paulista, mostra assim, seu melhor eu ao ser voz para esses sofridos da Terra. e ao assomar à tribuna do Senado chama a atenção dos governos do mundo, em especial do governo brasileiro e, também, da imprensa internacional para a gravíssima situação em que lutam por sobreviver os bahá'ís no Irã. Ele entende que precisa ser mais uma potente voz a ecoar a luta por justiça que encontra eco em dezenas de parlamentos e governos do mundo, integra as preocupações de inúmeros pensadores, acadêmicos e intelectuais em geral, que ao se pronunciarem em defesa dos Yarán e, ao exigirem a imediata cessação da violação dos direitos humanos dessas pessoas inocentes no Irã, constroem sólidas cidadelas em volta do conceito maior da cidadania mundial – somos.
Desse libelo de Suplicy a favor da dignidade humana convém destacar essas suas palavras: "Na difusão de uma falaciosa dicotomia, os bahá'ís são retratados pelo governo iraniano como "descrentes", esses que os muçulmanos xiitas elegem para travar guerras físicas e psicológicas. Será mais um grito por justiça e em defesa dos direitos humanos de todos os que destes têm sido privados. Entendem os bahá'ís que "o que infelicita a parte infelicita o todo" e que a consciência espiritual da humanidade não pode continuar vítima da opressão do Estado, nem de quaisquer forças sociais que tolham o direito básico de cada ser humano – o direito de crença [em especial de crença religiosa].Trata-se de uma questão de justiça e respeito ao ordenamento jurídico internacional que tanto prezam os postulados de defesa dos direitos humanos."
Paulo Paim é um intransigente defensor das melhores causas sociais. É profundo conhecedor dos que padecem de injustiças. Seu pensamento não conhece fronteiras e onde houver um necessitado a mendigar direitos, a clamar por justiça, encontrará nesse valente senador gaúcho um apoio, um respaldo, uma trincheira na luta contra o racismo, contra a intolerância religiosa, contra a servidão humana. E isso não é de hoje, vem com ele desde sempre: uma solidariedade latente para com os deserdados do mundo.
No dia 22 de maio, voltou a usar a tribuna do Senado para proclamar a urgência de se respeitar os direitos humanos. Primeiro tratou, ainda pela manhã, do sequestro de centenas de meninas na Nigéria pelo grupo radical islâmico Boko Haram. E, ao final da tarde do mesmo dia, fez pronunciamento em que ecoou o pensamento de Heiner Bielefeldt, relator especial da ONU sobre a liberdade de crença, para quem "os ataques contra Baha'is no Irã representam um dos mais claros casos de perseguição religiosa patrocinada pelo estado no mundo." Paim abordou a situação caótica em que busca sobreviver os milhares de bahá´ís iranianos por uma vertente ainda pouco explorada – o bullying de Estado.
Com rara sensibilidade o líder político gaúcho desenvolveu seu pensamento em torno de uma questão que envolve a vida e também a morte de seres humanos inocentes. E considerou o trágico que é, em pleno século XXI, visualizar o impacto danoso e prejudicial que toda forma de perseguição religiosa tem sobre a vida de um indivíduo. Paim tratou de explicitar o significado dessa opressão sistemática sobre a vida de uma criança bahá´í, começando ainda no jardim de infância, época da vida em que se começa perceber o mundo, apreciar sua diversidade de cores, formas, rostos, imagens.
E concluiu seu discurso assim: "Como deve ser difícil a uma criança ou a um pré-adolescente, ser reprimido desde tão jovem e exposto ao bullying de Estado, instrumentalizado de tal forma a lhe dizer que você traz consigo algum crime genético, alguma ameaça ao seu país, que você é estigmatizado porque tem algo de muito errado com você, com suas crenças e sua maneira de ver o mundo. E, pior ainda, você ser exposto a políticas de estado que lhe dizem desde muito cedo que você precisa mudar e se adaptar ao que o estado dizer ser bom, justo, benéfico. E quando essa criança cumpre todo o ciclo de estudos do ensino fundamental, médio, se sente automaticamente rejeitado pelo sistema público de ensino superior, uma rejeição arbitrária e inimaginável. São numerosos os casos de baha'is que foram expulsos de universidades e outros setores do ensino superior. E mais numerosos ainda o número de jovens bahá´ís a que tem sido negado o direito de matrícula em universidade de virtualmente todas as grandes cidades do Irã."
Desde agora sempre que vir os nomes Leonardo Boff, Eduardo Suplicy e Paulo Paim, pensarei em como eles personificam à altura nossos melhores anseios e esperanças por um novo mundo, onde o primado dos direitos humanos seja tão óbvio e presente quanto o é o ato de respirar, pensar e amar.
Eles se juntam a grandes pensadores que ao longo da história levantaram suas vozes em defesa dos direitos humanos dos bahá´ís, lendas como o Mahatma Gandhi, Leon Tolstói, Romain Rolland. A diferença é que, finalmente, temos um trio brasileiro bem sintonizado com os mais nobres interesses da espécie humana.
https://www.brasil247.com/blog/boff-suplicy-e-paim-campeoes-da-justica
27 de maio de 2014
Precisamos criar já o fundo nacional de combate ao racismo
O déficit do Brasil na luta pela igualdade racial e que impede a implementação das políticas de promoção da igualdade racial é gigantesco e tem nome: a falta ou o contingenciamento de recursos orçamentários


O Brasil está vivendo um momento singular: cresce, dia a dia, o número de pessoas que se engajam na defesa de causas sociais que vão desde a defesa do meio ambiente, o uso consciente dos recursos hídricos, até a promoção dos direitos humanos, o que inclui as questões de gênero e um vigoroso redirecionamento na luta contra toda forma de discriminação racial e suas perversas consequências para a autoestima de populações historicamente vulneráveis.
É como se tivéssemos passado tempo demais atento a posturas comportamentais ditadas pelo espírito do politicamente correto. Essa forma de proceder em sociedade tem sido exitosa em ocultar visões deformadas sobre a real natureza humana, concedem um fugaz verniz de civilidade a ocultar pensamentos, gestos, atitudes e ações eivadas de discriminações raciais.
E, assim meio que de repente, vemos irromper na superfície da sociedade selvagens atos de irracionalidade.
Atos públicos – e também privados - colocam em evidência um dos mais cruéis tipos de racismo – aquele enrustido, abafado que é desde as páginas de nossos livros escolares, e que se esconde intenta se perpetuar sob a fina capa da invisibilidade social, como que a proclamar sua não existência e que, no limite, se revela em todo seu cinismo como discriminação racial enraizada no próprio coração da sociedade brasileira.
Passamos do estágio do reconhecimento que o racismo, além de criminoso, existe e vige em diversas instâncias de nossas estruturas sociais.
Prova disso é que não se passa um dia sequer sem que algum veículo de comunicação divulgue ato explícito de racismo – mas a grande mídia somente trata de divulgar o tema quando este é tão chamativo que logo ao se tomar conhecimento se levante o necessário clamor público.
A discriminação racial que não sai na imprensa é a do tipo mais corriqueira – negros proibidos de ingressar em shoppings e edifícios de alto luxo, negros intimidados ao adentrar em certos clubes sociais em que se reúne aquele pequeno contingente da sociedade que ostenta riqueza que causaria vergonha a tradicionais famílias de banqueiros europeus e a chefes dos chamados "petropotentados"
Também integra o cordão de isolamento midiático as inconvenientes estatísticas oficiais dando conta da discriminação racial no mercado de trabalho e o perverso e sempre imenso número de vítimas de homicídios, em particular, vítimas da própria violência policial nos grandes centros urbanos do Brasil.
O que ainda nos desafia é esse não reconhecimento que o racismo precisa ser combatido noite e dia, hora a hora, momento a momento – é que ele permeia as relações sociais, se manifestam de uma hora para outra de forma tão solene quanto o aparecimento de uma sólida catedral gótica.
E são essas espécies de catedrais de preconceitos acumulados no leito dos séculos que alojados em nosso inconsciente coletivo precisam ser urgentemente demolidas, extirpadas de nosso imaginário.
O racismo, qual persistente carga negativa, nos faz recordar que é ainda bastante longa a caminhada que precisamos trilhar para o estabelecimento da justiça no mundo.
EM BUSCA DAS RAÇAS
Mas, teremos algum tipo de atenuante por portarmos atitudes racistas? Somos mesmos de diferentes raças e dentre estas existiriam gradações entre raças superiores e inferiores?
Antes de tudo devemos ter em consideração que a ciência tem buscado exaustivamente definir as raças que compõem nossa espécie.
Após reconhecer que medir o diâmetro de crânios, braços, pés constituía uma trabalho muito complicado para a definição de uma raça, com o progresso da genética os antropólogos observaram que através de algumas gotas de sangue era possível referenciar as coleções de genes, mas chegaram à conclusão que existem quatro grupos sanguíneos e esses quatro grupos se encontram em todo e qualquer grupo racial.
Posteriormente foram definidos outros sistemas: Rhesus, MNSs, Duffy, Diego, GM e ainda o HL-A. Utilizando todos esses sistemas, cientistas concluíram que devido a multiplicidade de informações recolhidas a classificação em grupos homogêneos tornava-se extremamente difícil.
A opção então recaiu para o método estatístico, segundo os genes que são específicos de cada grupo. Chegamos ao ponto: Sendo a cor negra característica da raça negra, buscou-se então os genes "marcadores" responsáveis pela cor da pele. Os resultados foram também decepcionantes: os genes não são específicos a uma ou duas raças e as conclusões apontaram para o fato de que todas as populações têm mais ou menos os mesmos genes.
DISTÂNCIA GENÉTICA
Chegam então os biólogos e imaginam uma medida chamada "distância genética". Esta distância é tanto maior quanto maior for a diferença entre os patrimônios genéticos de duas ou mais populações comparadas.
A conclusão é clara: a humanidade não pode ser classificada em raças pela simples comparação dos patrimônios genéticos, chegando François Jacob, prêmio Nobel de Biologia a afirmar categoricamente:
"O conceito de raça é, para nossa espécie, não operacional." Jacob não fica solitário nessa declaração. O duplamente premiado com o Nobel de Medicina e de Psicologia, Jean Dausset declara que "a ideia de "raça pura" é um contrassenso biológico."
Se considerarmos a afirmação de muitos expoentes da ciência, de que não existem raças, no entanto, temos que conviver com este pernicioso defeito de nossa civilização: o racismo existe!
É patético então encontrar alguém racista, se não existem meios científicos que elabore a distinção de raças?
O geneticista e escritor francês, Albert Jacquard afirma que "na verdade, temos medo do desconhecido, de encontrar alguém que não seja nosso semelhante, este medo, por sua vez, transforma-se em agressividade e ódio e assim nasce o racismo."
Fruto do medo e do ódio aos que achamos ser nossos "dessemelhantes".
E a cada vitória do medo e do ódio corresponde uma derrota para a Humanidade como um todo.
Mas o mundo, queiramos ou não, encontra-se francamente direcionado para o resgate dos direitos humanos e da unidade racial dentro de um contexto amplo enunciado em meados do século passado: a Unidade do Gênero Humano.
SEM PRETEXTO
O preconceito racial é algo que merece uma ampla reflexão sobre suas origens mais remotas, sempre adquiridas ao longo do tempo pelo sistema de valores reinantes em cada época.
Vejamos a história do Brasil: índios e negros são escravizados para produzir riquezas para o dominador. Tanto negros quanto índios eram considerados inferiores, como seres dotados de baixo nível de inteligência, e isso concedia aos seus "senhores" uma motivação moral para mantê-los no regime escravista.
Como Sartre bem definiu "o racismo é um estado de espírito patológico, uma forma de irracionalidade, um tipo de epidemia."
Em 1986, em importante documento da Casa Universal de Justiça, ficou afirmado que "o racismo, um dos males mais funestos e mais persistentes, constitui obstáculo importante no caminho da paz" e que sua prática "constitui uma violação demasiado ultrajante da dignidade do ser humano para poder ser tolerada sob qualquer pretexto."
Ressalto duas questões de uma pesquisa realizada pela antropóloga Lilia Schwarcz, autora de "O Espetáculo das Raças":
(1) Você é preconceituoso? 99% responderam "não" e
(2) Você conhece alguém preconceituoso? 98% responderam "sim".
O que pode levar alguém a ser superior, parece-me razoável, seria a capacidade desse alguém de praticar o bem, levar avante o progresso da civilização e possuir uma conduta digna e louvável, capaz de não apenas tolerar mas antes saber apreciar a imensa diversidade humana e não se sentir superior devido à cor da pele ou aos contornos do mapa de sua engenharia genética.
FUNDO NACIONAL DE COMBATE AO RACISMO
Nesse estágio atual temos o formidável êxito das ações afirmativas que trouxeram inadiável diversidade racial aos bancos de universidades e do ensino superior em todas as partes do Brasil. Mas, ainda é pouco se considerarmos a dívida que temos com o grande contingente de afrodescendentes brasileiros.
Enquanto faço esta reflexão, saúdo com total apoio o engajamento de dezenas de entidades da sociedade civil, incluindo religiões e partidos políticos, para angariar quase 1,5 milhão de assinaturas para levar avante projeto de lei de iniciativa popular a ser apresentado ao Congresso Nacional e que, em sua essência, cria o Fundo Nacional de Combate ao Racismo (FNCR). A Comunidade Bahá´í do Brasil, da qual faço parte, está mergulhada de corpo e alma na coleta das necessárias assinaturas.
Importante destacar que, segundo a Constituição, um projeto de iniciativa popular precisa receber a assinatura de pelo menos 1% dos eleitores brasileiros – cerca de 1,4 milhão de assinaturas – divididos entre cinco estados, com não menos de 0,3% do eleitorado de cada estado. A assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de nome completo, endereço e número completo do título eleitoral – com zona e seção — e as listas de assinatura devem ser organizadas por município e por estado, de acordo com formulário. Veja aqui.
Uma vez aprovado o projeto de lei, os recursos oriundos do pagamento de penas de multas de crimes raciais, doações orçamentárias específicas, doações de pessoas físicas, de organismos nacionais e internacionais e de outras fontes especificadas serão aplicados num fundo patrimonial que, então, tornará possível o custeio da política de promoção da igualdade racial.
O projeto prevê também que o fundo será administrado por um comitê gestor criado especificamente para administrar os recursos, composto de forma paritária por representantes do governo e da sociedade civil.
A realidade é que precisamos ultrapassar o importante estágio de produção legislativa criminalizando - e penalizando cada vez mais - autores de condutas racistas.
Os recursos governamentais destinados às Políticas de Promoção da Igualdade Racial devem alcançar um patamar à altura dos desafios presentes hoje no Brasil.
Estes desafios incluem a promoção de pesquisas e estudos sobre os males da discriminação racial, produção de material didático para ensino nas escolas e universidades sobre a erradicação do racismo da sociedade brasileira, realização de eventos e campanhas de conscientização sobre os males do racismo e o apreço à rica diversidade humana de que somos todos herdeiros.
O déficit do Brasil na luta pela igualdade racial e que impede a implementação das políticas de promoção da igualdade racial é gigantesco e tem nome: a falta ou o contingenciamento de recursos orçamentários.
É por isso que, - com mais outras 1844 razões - defendemos a criação do FNCR.
https://www.brasil247.com/blog/precisamos-criar-ja-o-fundo-nacional-de-combate-ao-racismo
16 de dezembro de 2014
