Vida e sociedade
Big Brother Brasil 26 transforma o horário nobre em usina de cinismo
Confinamento, vigilância e prêmio erguem um ecossistema onde manipulação vira mérito e brutalidade emocional rende dividendos
27 de fevereiro de 2026


Desde 2001, quando a TV Globo colocou no ar a primeira edição do programa, o Brasil não apenas aprendeu a se assistir dentro de uma casa vigiada por câmeras: aprendeu a normalizar a vigilância como entretenimento e a competição como ética. O que nasceu como experiência televisiva converteu-se numa engrenagem de larga escala, uma máquina de captura de atenção que transforma intimidade em mercadoria e conflito em ativo financeiro.
Dados do Kantar Ibope Media indicam que o programa segue entre as maiores audiências do primeiro trimestre televisivo, liderando o horário nobre em diversas capitais. Em edições recentes, finais ultrapassaram a casa dos bilhões de votos somados nas plataformas digitais da emissora, confirmando o grau de mobilização nacional. O BBB 26 não é apenas entretenimento: é um eixo estruturante da indústria cultural, um negócio que metaboliza tensões sociais e as devolve embaladas como espetáculo. Um show de horrores degradante.
Os números não impressionam apenas — intimidam. O mercado publicitário estima que a edição 26 movimenta cifras próximas de R$ 1,5 bilhão em receitas comerciais, somando cotas tradicionais, ações digitais e ativações multiplataforma. As chamadas cotas Big — pacotes de maior exposição, com direito a provas patrocinadas, inserções no horário nobre e ações integradas — alcançam a casa de R$ 130 milhões. As cotas Camarote orbitam a faixa dos R$ 90 milhões. Já as cotas Brother, menores, ainda assim superam R$ 25 milhões. Parte desse pacote inclui o chamado OOH (Out of Home), publicidade exibida fora de casa — outdoors, painéis digitais, aeroportos, mobiliário urbano — ampliando a colonização das marcas para além da tela doméstica. O prêmio final, mesmo ultrapassando R$ 3 milhões, torna-se quase simbólico diante do volume arrecadado. O vencedor leva milhões; a engrenagem leva bilhões.
Há ainda um componente frequentemente envernizado: os shows semanais. Durante cerca de 90 dias, duas apresentações musicais por semana reúnem artistas entre os mais populares do país. No mercado brasileiro, cachês de grandes nomes variam entre R$ 400 mil e R$ 1,5 milhão por performance, dependendo do porte e da demanda. Ainda que nem todos recebam o teto, a soma dessas noites musicais representa investimento de dezenas de milhões ao longo da temporada.
Não se trata de generosidade cultural, mas de cálculo frio: música como anestesia coletiva, cortina de fumaça sonora que mascara conflitos degradantes exibidos dias antes. Cada show funciona como válvula de escape cuidadosamente programada para aliviar a tensão que o próprio programa produz e explora.
O entretenimento musical não eleva o debate — lubrifica a engrenagem que transforma desgaste moral em audiência lucrativa.
Nos seis primeiros anos do BBB Brasil, no início do século XXI, escrevi semanalmente no Observatório da Imprensa, sob a direção de Alberto Dines, examinando criticamente a televisão brasileira. Analisei o fenômeno dos realities criados pela Endemol, responsável pelo formato original Big Brother, discutindo seus impactos simbólicos e econômicos. Passadas mais de duas décadas, o núcleo permanece intacto: confinamento, competição, conflito e monetização da tensão humana.
O que se sofisticou foi a escala da captura e a naturalização da crueldade como recurso narrativo.
É nesse ambiente que surge o diálogo entre Mateus e Boneco. Quando Mateus declara carregar uma “naturalidade machista” herdada da sociedade patriarcal, não se está diante de confissão redentora, mas de um expediente retórico que dilui responsabilidade no abstrato. Reconhece-se a estrutura para evitar a ruptura. Ao tratar o machismo como herança difusa, desloca-se o foco da ação concreta para a paisagem cultural, como se o problema fosse inevitável e, portanto, tolerável. Televisionada para milhões, essa fala não é neutra: romantiza a complacência. Ensina que admitir basta, que nomear substitui transformar. A indústria do espetáculo agradece: a tensão é preservada, a mudança é adiada.
Em contraste, a intervenção de Ana Paula Renault ao defender que água, luz e Correios não devem ser privatizados introduz densidade política num espaço desenhado para rivalidades pessoais. Ao sustentar que serviços essenciais estruturam a própria ideia de cidadania, desloca o eixo do jogo do indivíduo para o coletivo. Pode-se discordar de sua posição, mas há ali formulação, há visão de Estado, há enfrentamento de desigualdades estruturais. Num reality cuja lógica é reduzir conflitos complexos a embates personalistas, trazer políticas públicas ao centro da arena expõe uma fissura no roteiro previsível. O programa prefere gritos; o debate exige argumento.
Mas o formato não sobrevive de argumentos — sobrevive de atrito. Inspirado no modelo original do Big Brother, parte da premissa de que isolamento, vigilância permanente e competição financeira produzem narrativa vendável. A calmaria não converte; a conciliação não viraliza; a ponderação não gera trending topics. O conflito é ativo comercial, matéria-prima de alto rendimento.
Nesse ambiente, consolida-se uma distorção ética inquietante.
Quanto mais estratégico e menos transparente o participante, maiores suas chances de permanência. A franqueza vira ingenuidade; o cálculo frio torna-se competência; o cinismo passa a ser lido como inteligência social.
Explosões emocionais rendem cortes virais, humilhações alimentam debates inflamados, desumanizações transformam-se em memes compartilháveis. O confinamento não apenas registra comportamentos extremos: incentiva-os. E o público, ao votar e comentar, participa da curadoria dessa escalada.
A estética reforça o quadro. Corpos atléticos e hiperexpostos ocupam o centro da vitrine midiática. A exposição física converte-se em capital simbólico negociável. Nem sempre, contudo, essa centralidade corporal vem acompanhada de densidade intelectual ou projeto coletivo consistente. O contraste entre exuberância formal e fragilidade argumentativa compõe retrato perturbador de uma cultura que valoriza performance acima de substância.
O palco é iluminado; o conteúdo, frequentemente, é raso. Tem a altura de uma gilete deitada.
O BBB não inventa machismo, racismo, culto à imagem ou individualismo competitivo; ele os intensifica sob holofotes. A casa funciona como uma usina de alta pressão que acelera traços já presentes na sociedade brasileira. Em 90 dias, condensa disputas que, fora dali, se estendem por décadas. O problema não é revelar contradições — é premiar quem melhor as manipula e instrumentaliza.
A engrenagem econômica fecha o circuito. Conflito gera audiência. Audiência seduz patrocinadores. Patrocinadores irrigam o espetáculo. O espetáculo exige novos conflitos.
Trata-se de um ciclo eficiente, rentável, replicável — e profundamente cínico. Rentabilidade aqui não caminha ao lado de responsabilidade pública; caminha ao lado da exploração sistemática da vulnerabilidade humana como produto.
A televisão aberta opera sob concessão pública, mas o que se observa é a privatização simbólica do espaço coletivo em favor de uma dramaturgia da degradação. O lucro é contabilizado; o impacto cultural, raramente.
O BBB 26 escancara um país que flerta simultaneamente com discursos progressistas e práticas regressivas. Na mesma sala convivem falas sobre igualdade e gestos excludentes; consciência estrutural e conveniência estratégica; debates pontuais e desumanização banalizada. A casa mais vigiada do país opera como uma centrífuga moral: gira em alta velocidade até que nuances desapareçam e reste apenas o que é mais ruidoso, mais vendável, mais polarizador. Não se trata apenas de entretenimento popular — trata-se da fabricação reiterada de padrões comportamentais que, repetidos à exaustão, deixam de chocar e passam a moldar expectativas sociais.
O ponto decisivo não é desligar a televisão — é reconhecer a cumplicidade estrutural.
Que valores são legitimados quando se aplaude a manipulação como estratégia brilhante? Que mensagem se envia quando o preconceito é relativizado como traço cultural? Que aprendizado coletivo se consolida quando o cinismo é premiado com fama, contratos e monetização digital? O reality termina após 90 dias; a pedagogia da indiferença permanece. Se a degradação ética se converte em vantagem competitiva sob aplausos massivos, então já não se pode fingir inocência.
O problema não está apenas dentro da casa. Está na audiência que consome, nas marcas que financiam e na indústria que transforma fragilidade humana em espetáculo rentável — e insiste em chamar isso de simples diversão. Não é. É escolha social reiterada, é mercado operando sem freios culturais e é sintoma de um país que precisa decidir se quer entretenimento ou quer caráter.
https://www.brasil247.com/blog/big-brother-brasil-26-transforma-o-horario-nobre-em-usina-de-cinismo
As Veias Abertas da América Latina — mito digital ou revisão honesta de um autor que mudou de linguagem, mas não de convicção?
Correspondências, afinidades e convergências revelam um pensador que evoluiu na linguagem sem abdicar da denúncia contra a colonização cultural e a desigualdade
26 de fevereiro de 2026


Volta e meia, as redes sociais ressuscitam um boato com aparência de revelação histórica: Eduardo Galeano teria renegado sua obra mais famosa, publicada em 1971, tornando-se uma espécie de crítico tardio de si mesmo. A frase circula em posts apressados, em vídeos de poucos segundos, em comentários que dispensam contexto. Mas a realidade — quando confrontada com documentos, entrevistas e testemunhos pessoais — é menos espetacular e muito mais interessante.
Publicado em 1971, As Veias Abertas da América Latina projetou o nome de Eduardo Galeano para além das fronteiras do Uruguai. O livro tornou-se referência obrigatória nos debates sobre dependência econômica, colonialismo e subdesenvolvimento estrutural no continente. Escrito com fôlego narrativo e indignação histórica, defendia a tese de que o colonialismo não havia terminado: apenas se metamorfoseara. A América Latina continuava a transferir suas riquezas — minerais, agrícolas, energéticas — para os centros de poder global e para elites internas associadas.
Não era um tratado acadêmico convencional. Era literatura de denúncia, ensaio histórico com nervo poético. E talvez tenha sido exatamente essa mistura que o transformou em obra de culto para gerações de leitores, sobretudo durante as décadas de 1970 e 1980, quando ditaduras militares e dependência externa compunham o pano de fundo político do continente.
Décadas depois, no entanto, surgiu a controvérsia.
Em 2006, Galeano concedeu entrevista ao jornalista Fernando Arellano, publicada sob o título “O mundo está de cabeça para baixo”. Questionado sobre o que mudaria caso reeditasse As Veias Abertas da América Latina, respondeu com a serenidade de quem compreende a própria trajetória:
“Os livros nascem em um momento e em um lugar, e de certa forma pertencem a esse momento e a esse lugar; às vezes eles têm a sorte de se projetar mais além, como aconteceu com as ‘Veias…’, que continuam funcionando muito bem, porque continuam se encontrando com leitores em línguas diferentes, em diferentes lugares do mundo.
É um livro do qual não me arrependo de nenhuma vírgula; ao contrário, guardo por ele um orgulho sereno.
Mas daí repetir-me como se fosse uma prisão perpétua, não.
Publiquei há mais de dois anos outro livro que se parece com ‘Veias…’ de certa forma, e que se chama De Perto: A Escola do Mundo ao Contrário, mas a linguagem é totalmente diferente, porque, 30 anos depois, eu sou outro.
Mas sim, eu continuo leal às ideias que crio e às pessoas que amo.”
As palavras são inequívocas. Não há arrependimento. Não há repúdio. Não há desautorização do conteúdo. O que há é uma afirmação madura: um autor não é prisioneiro de sua obra inaugural.
E aqui permito-me acrescentar algo que transcende a citação documental e entra no território da experiência vivida. Em 1996, logo após concluir o livro Cuba Cantando em Lágrimas Viva, publicado pela Thesaurus Editora, iniciei correspondência com Galeano. Ele em Montevidéu, eu em Brasília. Trocamos cartas, reflexões, ideias que atravessavam fronteiras geográficas e aproximavam inquietações intelectuais.
Descobri — e afirmo isso com convicção — uma convergência profunda. Visão de mundo. Visão de América Latina. Visão sobre economia e sobre povos espoliados. A mesma indignação diante da colonização cultural que insiste em vestir-se de modernidade. O mesmo repúdio ao pensamento egocêntrico travestido de racionalidade neutra.
Já havia publicado, em 1992, Estão Desaparecendo da Terra, sobre os povos indígenas, obra que lhe foi indicada por Dom Pedro Casaldáliga, de São Félix do Araguaia. Galeano a leu, comentou e dialogou. Ali floresceu uma amizade marcada por afinidades éticas e políticas, especialmente na defesa intransigente dos povos originários da América. Não se tratava de coincidências retóricas, mas de um chão comum: a convicção de que a história do continente só pode ser narrada a partir daqueles que pagaram — e ainda pagam — o preço da pilhagem.
Trago esse testemunho não como argumento de autoridade, mas como elemento factual. Galeano não era um homem que renegava convicções ao sabor dos ventos. Era alguém que refinava a linguagem, ampliava o repertório e aprofundava complexidades, sem abdicar do eixo moral que o orientava.
A confusão ganhou novo fôlego quando, anos mais tarde, Galeano comentou que o livro fora escrito sem formação acadêmica formal em economia política e que hoje não o escreveria da mesma maneira. Parte da imprensa internacional destacou essa fala como se fosse uma autocrítica devastadora. Mas a distinção é essencial: reconhecer limitações formais não equivale a negar convicções substantivas.
Um escritor pode revisar seu método sem abandonar sua visão de mundo. Pode amadurecer o estilo sem revogar a ética que o orientou.
Ao longo das décadas, Galeano publicou obras que confirmam essa continuidade de pensamento, ainda que com outra tessitura literária, como Memória do Fogo e De Perto: A Escola do Mundo ao Contrário. O fio condutor permaneceu: crítica às estruturas globais de poder, defesa da dignidade latino-americana, denúncia das assimetrias históricas.
A narrativa de que teria “renegado” o livro funciona, nas redes, como atalho retórico. Serve tanto para desqualificar a obra quanto para tentar deslegitimar tradições críticas latino-americanas. É mais fácil dizer que o autor abandonou suas ideias do que enfrentá-las no debate.
Mas os fatos resistem.
Galeano afirmou não se arrepender de nenhuma vírgula e manter intacto o orgulho pela obra. Disse manter-se leal às ideias que criou. Recusou apenas a fossilização — a obrigação de repetir eternamente a mesma linguagem. É uma diferença decisiva. Autores que sobrevivem ao próprio tempo sabem que a linguagem precisa evoluir. Permanecer imóvel é que seria traição.
Há, nesse episódio, uma lição que vai além da figura do escritor uruguaio. Em tempos de circulação acelerada de informações fragmentadas, uma frase retirada de contexto pode transformar nuance em escândalo. A complexidade é substituída por slogans. O debate intelectual vira torcida.
Eduardo Galeano morreu em 2015 — não em 2017, como por vezes se lê apressadamente —, deixando uma obra que atravessa fronteiras ideológicas e gerações. Seu legado não é o de um dogmático, mas o de um narrador da história latino-americana que compreendia que o tempo modifica as formas, mas não necessariamente os compromissos.
Renegar seria declarar erro essencial, pedir desculpas públicas, desautorizar o próprio livro. Nada disso ocorreu.
O que houve foi algo mais raro e mais honesto: um autor reconhecendo que envelheceu, que mudou a voz, que ampliou ferramentas — mas que continua fiel às ideias que o moveram.
E afirmo, à luz do que vivi e troquei com ele: a coerência intelectual de Galeano não era pose literária. Era prática cotidiana.
Em uma época em que a memória coletiva é constantemente reescrita por algoritmos e simplificações convenientes, talvez valha repetir, com rigor documental e testemunhal: Eduardo Galeano não renegou As Veias Abertas da América Latina. O que fez foi libertar-se da obrigação de ser apenas o autor daquele livro.
E essa diferença — fundamental — muda tudo.
A arquitetura milenar da opressão feminina
Desmontar essa arquitetura exige mais que reformas legais e impõe revisão profunda das bases culturais que sustentaram a dominação masculina
24 de fevereiro de 2026


A história da humanidade é, em larga medida, a história de um erro masculino reiterado. Durante séculos, nós homens erguemos sistemas jurídicos, religiosos, filosóficos e políticos que reduziram deliberadamente a mulher a papel secundário. Não foi descuido cultural; foi arquitetura consciente de poder. Ao negar às mulheres educação, cidadania, autonomia econômica e voz pública, atrasamos a própria espécie.
Cada vez que impedimos que ocupassem o lugar que lhes pertence por direito natural, amputamos metade da inteligência, da sensibilidade e da capacidade criativa do mundo. O preço dessa mutilação histórica não foi pago apenas por elas — foi pago pela humanidade inteira, que caminhou mancando enquanto celebrava sua própria superioridade ilusória.
Os preconceitos contra as mulheres vêm de muito longe. Estão nos provérbios — “fevereiro tem 28 dias. É o mês em que as mulheres falam menos.” — e nas canções populares — “Paraíba masculina, mulher macho sim senhor.” Espalham-se nos conselhos dos mais velhos, nos sermões religiosos, nos tratados filosóficos, nos textos literários e nos discursos políticos.
Seja na religião, na literatura, na vida social ou na arena pública, não é difícil mapear, cronologicamente, focos persistentes desse preconceito. Ele atravessou séculos como herança cultural naturalizada, ensinada como prudência moral e reproduzida como tradição inquestionável.
Atrizes protestam contra a censura em 1968/Foto: Arquivo Nacional
8 de Março
A Organização das Nações Unidas designou 1975 como o Ano Internacional da Mulher e instituiu o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. A data remete a 8 de março de 1857, quando 159 operárias de uma indústria têxtil em Nova York foram queimadas vivas durante um incêndio criminoso, no contexto de uma greve por igualdade salarial e redução da jornada de trabalho. O episódio tornou-se símbolo de uma luta árdua por direitos elementares.
Não foi um acidente isolado; foi expressão de um sistema que considerava descartável a vida feminina quando esta ousava reivindicar dignidade.
No campo religioso, a matriz simbólica consolidou hierarquias.
O Gênese (2:22) apresenta a mulher formada a partir da costela do homem: “E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lha trouxe.” A metáfora da derivação converteu-se, ao longo dos séculos, em argumento de subordinação. A leitura literal sustentou a ideia de que a mulher era ontologicamente secundária. Essa interpretação moldou estruturas familiares, códigos civis e práticas pastorais que ainda ecoam em 2026, quando debates sobre papéis de gênero continuam ancorados em leituras antigas.
Um ser “ocasional”
Santo Tomás de Aquino (1225–1274) escreveu que a mulher é “mas occasionatus”, um macho imperfeito, um ser “ocasional” e “acidental”. Ao afirmar isso, não produziu apenas especulação teológica; ofereceu legitimidade filosófica à desigualdade. Seu pensamento estruturou currículos universitários e formação clerical por séculos. Quando Aquino naturaliza a inferioridade feminina, ele fornece à cristandade medieval — e às mentalidades posteriores — uma gramática moral que associa hierarquia a ordem divina. Ainda hoje, argumentos teológicos contra igualdade recorrem, consciente ou inconscientemente, a essa herança, demonstrando como uma formulação medieval pode atravessar séculos como verdade aparentemente intocável.
No Livro de Provérbios (11:22), lê-se: “A mulher virtuosa é a coroa de seu marido.” E em 31:10: “Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede em muito o de finas joias.” A linguagem é reveladora: a virtude feminina é medida por sua utilidade ao homem; seu “valor” é comparado a mercadoria preciosa. A metáfora econômica traduz o feminino em objeto valioso, mas ainda objeto. Essa lógica atravessou códigos matrimoniais e justificou séculos de tutela legal. A ideia de que a mulher “vale” muito quando virtuosa, mas deve ser encontrada, possuída e administrada, estrutura mentalidades que ainda operam sob verniz contemporâneo.
Medo masculino
Eurípedes (485–406 a.C.) escreveu, em Hipólito, que “a mulher é um flagelo desmedido que posso provar; o pai que a gera estabelece um dote a quem a leve, a quem o livre de tamanha praga.” Em Medéia, colocou na boca da protagonista: “Se a natureza fez-nos incapazes para as boas ações, não há para a maldade artífices mais competentes do que nós.” Essas frases não são simples exageros dramáticos; elas expressam o medo masculino diante da autonomia feminina na Atenas clássica. Ao retratar a mulher como ameaça moral, Eurípedes contribuiu para consolidar um imaginário que justificava sua exclusão da cidadania numa sociedade que celebrava a democracia apenas para homens livres.
Virgílio (70–19 a.C.) definiu a mulher como “varium et mutabile semper femina” — “coisa sempre variável e mutável.” A frase, repetida por séculos em tratados morais e sermões, cristalizou a associação entre feminino e instabilidade. Ao transformar a inconstância em essência feminina, a literatura latina ajudou a justificar a desconfiança jurídica e política que impedia mulheres de administrar bens ou participar da vida pública. O impacto cultural dessa sentença atravessou a Idade Média e foi citada em compêndios morais até o século XIX.
Jovens feministas/Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Simplificação emocional
Publílio Siro (século I a.C.) declarou em suas Sentenças: “A mulher ou ama ou odeia; não há outra alternativa.” A simplificação emocional reforçou a caricatura da irracionalidade feminina. Se a mulher é governada por extremos afetivos, conclui-se que não deve governar cidades nem decisões estratégicas. Essa visão ecoa ainda hoje em discursos que questionam liderança feminina sob o pretexto de “instabilidade emocional”, demonstrando como um aforismo antigo pode alimentar preconceitos contemporâneos.
Petrônio (27–66) escreveu: “Confia teu barco aos ventos, mas às meninas não confies tua alma.” A ironia elegante do autor romano converteu-se em ensinamento cultural transmitido como prudência masculina. Ao sugerir que a fidelidade feminina é menos confiável que o mar, Petrônio reforça a suspeita permanente sobre a moral feminina. Essa suspeita alimentou narrativas literárias e códigos de honra que, por séculos, controlaram a sexualidade feminina com severidade desproporcional.
Montaigne (1533–1592) afirmou: “A ciência e ocupação mais útil e honrosa para uma mulher é o governo da casa.” E ainda que seu papel seria “sofrer, obedecer, consentir.” Em pleno florescimento do humanismo renascentista, quando a dignidade do homem era celebrada como centro do universo, o universalismo não incluía plenamente as mulheres. O pensamento de Montaigne influenciou gerações ao naturalizar a divisão entre esfera pública masculina e esfera doméstica feminina, ajudando a consolidar a exclusão feminina dos espaços de decisão.
Fragilidade moral
Shakespeare (1564–1616) colocou em Hamlet: “Frailty, thy name is woman” — “Leviandade, teu nome é mulher.” A força poética da frase eternizou a associação entre fragilidade moral e feminino. A dramaturgia shakespeariana, ensinada em escolas e universidades do mundo inteiro, perpetuou um arquétipo que ainda permeia imaginários culturais. A literatura não apenas reflete mentalidades; ela as forma.
Montesquieu (1689–1755) escreveu que “nas mulheres jovens, a beleza supre o espírito; nas velhas, o espírito supre a beleza.” A frase sugere que inteligência feminina é compensação estética, não atributo autônomo. Em época de formulação das bases da separação de poderes e do constitucionalismo moderno, Montesquieu contribuiu, ainda que de modo aparentemente leve, para relativizar a capacidade intelectual feminina num período crucial de organização política do Ocidente.
Sangue mais aquoso
Voltaire (1694–1778) alegou que “o sangue delas é mais aquoso.” O argumento pseudobiológico buscava fundamentar a inferioridade feminina em diferenças naturais. Ao recorrer à biologia para justificar desigualdade, Voltaire antecipou discursos científicos posteriores que legitimariam hierarquias raciais e de gênero. A autoridade iluminista deu peso racional a preconceitos antigos.
Rousseau (1712–1778) escreveu que cabia às mulheres “agradar aos homens, servi-los, fazerem-se amar por eles.” Em Emílio, defendeu educação distinta para meninas, voltada à docilidade. A pedagogia rousseauniana influenciou sistemas educacionais europeus, consolidando currículos que limitavam horizontes femininos. Ao estruturar papéis de gênero como naturais, Rousseau ajudou a perpetuar a desigualdade sob aparência de ordem social.
“Nossa propriedade”
Napoleão Bonaparte (1769–1821) declarou: “A mulher é nossa propriedade.” Seu Código Civil restringiu direitos patrimoniais e consolidou tutela masculina sobre esposas. A influência napoleônica espalhou-se pela Europa e pelas Américas, institucionalizando desigualdade legal. Não era opinião isolada; era norma jurídica exportada.
Nietzsche (1844–1900) escreveu em Assim Falou Zaratustra: “Vais ver mulheres? Não esqueças o chicote.” A frase, muitas vezes relativizada como metáfora provocativa, carrega violência simbólica explícita. Nietzsche criticava moralidades estabelecidas e denunciava a hipocrisia da cultura europeia, mas não rompeu com a tradição de desconfiança em relação à emancipação feminina. Sua obra, amplamente estudada até hoje, continua a influenciar debates contemporâneos. Contextualizar essa frase é fundamental para evitar que genialidade filosófica sirva de escudo para preconceito estrutural.
Essa genealogia de frases não é inventário anedótico; é linha de transmissão cultural. Quando autores canônicos descrevem mulheres como frágeis, inconstantes ou propriedades, suas palavras ecoam em instituições, legislações e mentalidades.
Mulheres extraordinárias
No Brasil, temos mulheres realmente extraordinárias, no melhor significado da palavra. Destacarei apenas algumas dessas luminárias, uma vez que entendo que cada nome representa fissura irreversível na muralha patriarcal.
Tereza de Benguela (c.1730–1770), conhecida como “Rainha Tereza”, governou o Quilombo do Quariterê por cerca de duas décadas no Mato Grosso. Organizou sistema de defesa, comércio e administração coletiva. Documentos coloniais registram sua liderança com temor. Sua atuação prova que mulheres negras não foram apenas vítimas da escravidão; foram arquitetas de resistência organizada.
Bárbara de Alencar (1760–1832) participou da Revolução Pernambucana de 1817 e da Confederação do Equador. Presa aos 57 anos, tornou-se a primeira presa política do Brasil. Sua firmeza inspirou gerações. Ao enfrentar cárcere e perseguição, demonstrou que o ideal de independência nacional também teve rosto feminino.
Luiza Mahin (1812–?), segundo registros de historiadores como João José Reis, teria articulado bilhetes e estratégias na Revolta dos Malês de 1835, em Salvador. Mulher negra, possivelmente alforriada, atuou na retaguarda de um levante que aterrorizou as elites escravocratas. Sua imagem foi silenciada por décadas, reaparecendo como símbolo da mulher negra insurgente. Ao ser presa e deportada, sua história revelou que resistência feminina negra sempre foi dupla: contra o racismo e contra o patriarcado.
Bertha Lutz (1894–1976), bióloga e diplomata, afirmou em discurso: “Não pedimos favores, pedimos direitos.” Fundadora da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, articulou a campanha pelo voto feminino, conquistado em 1932. Sua atuação na Assembleia Constituinte de 1934 consolidou direitos trabalhistas e civis para mulheres. Lutz compreendeu que igualdade formal precisava transformar-se em legislação concreta.
Luta contínua
Olhando no retrovisor da história as quatro mulheres acima percebe-se que a luta feminina no Brasil não foi episódica, mas contínua, atravessando escravidão, Império, República e ditaduras. Cada uma dessas mulheres inscreveu no tecido nacional a convicção de que cidadania não é concessão, mas conquista.
Antes mesmo que o direito ao voto fosse conquistado ou que reformas legais fossem promulgadas, mulheres já travavam outra batalha decisiva: a de existir como sujeito de pensamento, criação e palavra.
Incômodo diante da voz feminina
Safo (c.630–570 a.C.) já desafiava, na Grécia arcaica, a ideia de que a experiência feminina deveria permanecer subterrânea. Seus fragmentos líricos — “Parece-me igual aos deuses aquele homem que se senta diante de ti” — não são apenas versos amorosos; são afirmação de subjetividade feminina em primeira pessoa. Num mundo que estruturava a palavra pública como prerrogativa masculina, Safo escreveu desejo, perda, intensidade, autonomia emocional. Sua genialidade não reside apenas na poesia, mas no gesto histórico de inscrever a mulher como sujeito de linguagem, e não como objeto do olhar alheio. O fato de sua obra ter sido fragmentada, dispersa e em parte destruída ao longo dos séculos revela o incômodo persistente diante de uma voz feminina plena.
Autonomia financeira
Virginia Woolf (1882–1941) compreendeu que a exclusão feminina da produção intelectual não era acidente, mas engenharia econômica. Em Um teto todo seu escreveu: “Uma mulher precisa de dinheiro e um quarto próprio para escrever ficção.” A frase, frequentemente citada, é diagnóstico estrutural: sem autonomia financeira e espaço simbólico, não há criação livre. Woolf desmontou a falsa neutralidade do cânone literário ao mostrar que a ausência de mulheres na história da literatura não era prova de incapacidade, mas consequência de confinamento social. Sua análise continua atual em 2026, quando desigualdades de financiamento, reconhecimento crítico e distribuição editorial ainda afetam autoras no mundo inteiro.
Simone de Beauvoir (1908–1986) radicalizou o debate ao escrever em O Segundo Sexo: “Ninguém nasce mulher, torna-se.” A frase desloca o eixo do determinismo biológico para a construção social. Beauvoir demonstrou que aquilo que se chamava “natureza feminina” era, em larga medida, produto de educação diferenciada, expectativas restritivas e dispositivos culturais de contenção. Sua obra não apenas analisou a opressão; ofereceu instrumental teórico para desmantelá-la. Ao transformar experiência pessoal em investigação filosófica sistemática, Beauvoir reposicionou a mulher como sujeito histórico consciente, não como destino biológico inevitável.
Clarice Lispector (1920–1977) levou essa transformação para o território da interioridade radical. Em A Paixão segundo G.H. e A Hora da Estrela, desestabilizou convenções narrativas para revelar a complexidade da experiência feminina invisibilizada. Quando escreve “Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome”, Clarice ultrapassa a reivindicação jurídica e toca a dimensão existencial da emancipação. Sua literatura não pede permissão; ela exige reconhecimento da densidade psíquica feminina num mundo que, por séculos, reduziu mulheres a papéis funcionais. Clarice mostrou que a revolução feminina também é linguagem, silêncio rompido, consciência que se recusa a caber nas categorias herdadas.
Durante séculos, homens legislaram sobre corpos que não eram seus, definiram destinos que não lhes pertenciam e impuseram limites que jamais aceitariam para si próprios. Cada frase misógina de um pensador influente tornou-se tijolo de sistemas excludentes.
Cada silêncio imposto a uma mulher significou atraso científico, empobrecimento cultural e instabilidade política.
Revolução ética
Se há uma revolução que pode redefinir o século em curso, não será tecnológica nem militar. Será ética. E essa revolução começa com um gesto simples e radical ao mesmo tempo: reconhecer que a humanidade jamais alcançará equilíbrio enquanto insistir em governar-se a partir de uma metade que historicamente silenciou a outra.
A emancipação feminina não é capítulo lateral da história; é eixo reorganizador da própria condição humana. Ignorá-la não é apenas injustiça — é sabotagem do futuro coletivo. Como afirmou Bahá’u’lláh (1817–1892), “a humanidade é um pássaro, uma asa é o homem e a outra a mulher; um pássaro não pode alçar voo sem o equilíbrio das duas asas.” Durante séculos, insistimos em fortalecer apenas uma delas, imaginando que a outra poderia permanecer atrofiada sem comprometer o voo.
O resultado está diante de nós: guerras recorrentes, desigualdades persistentes, estruturas de poder desequilibradas. Se quisermos finalmente elevar a humanidade a um patamar de maturidade moral compatível com seu potencial intelectual, será indispensável fortalecer ambas as asas com igual vigor, dignidade e liberdade.
Qualquer projeto de paz que ignore essa simetria fundamental estará condenado à instabilidade. A verdadeira ascensão da espécie humana começa no momento em que deixamos de temer a igualdade e passamos a compreendê-la como condição de sobrevivência civilizatória.
(P.S.: Dedico esse artigo às minhas netas Cecília, Lua, Nina, Jade, Clarissa. A mais velha tem 4 anos e as duas mais novas menos de um ano cada. Ainda terão que lutar muito, lamentavelmente, para conquistar o que é seu por direito.)
https://revistaforum.com.br/opiniao/a-arquitetura-milenar-da-opressao-feminina/
Andrew perdeu, a Coroa venceu: a escolha de Rei Charles III
A prisão do irmão do rei transforma o bordão 'ninguém está acima da lei' em ato verificável e obriga Charles III a provar que a monarquia não é blindagem penal
20 de fevereiro de 2026


Em 19 de fevereiro de 2026, às 13h24 pelo horário de Brasília (11h24 na costa leste dos Estados Unidos), Londres confirmou o que durante anos pareceu politicamente inimaginável: Andrew Mountbatten-Windsor, irmão mais novo do rei Charles III, foi preso sob suspeita de má conduta em cargo público. A acusação é objetiva: enquanto atuava como enviado comercial britânico, teria compartilhado informações governamentais confidenciais com Jeffrey Epstein.
A cena não foi simbólica. Foi operacional. Policiais no portão. Procedimento formal. Custódia. Nenhuma deferência pública ao sobrenome.
A prisão ocorreu na propriedade de Sandringham, em Norfolk — área privada da Coroa com cerca de 81 quilômetros quadrados (aproximadamente 20 mil acres). Ali, Andrew residia após ser removido do Royal Lodge, decisão tomada meses antes pelo próprio rei.
A Polícia do Vale do Tâmisa confirmou a detenção. O comunicado não mencionou acusações de abuso sexual ou tráfico humano, concentrando-se na suspeita de violação de dever funcional. Após 12 horas de interrogatório na delegacia de Aylsham, em Norfolk, Andrew foi liberado, segundo a Sky News. A polícia confirmou a conclusão das buscas locais, mas ressaltou que o inquérito permanece aberto e sob análise formal.
Ainda assim, o pano de fundo é inseparável da longa associação entre Andrew e Epstein, condenado por aliciamento de menor em 2008 e preso novamente em 2019 por tráfico sexual.
O divisor institucional
A investigação ganhou novo impulso após a divulgação, em janeiro de 2026, de três milhões de páginas de documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Entre os registros, e-mails sugerem que Andrew teria encaminhado relatórios oficiais de viagens ao Sul da Ásia enquanto exercia função pública entre 2001 e 2011.
A questão central não é moralista. É técnica: houve violação consciente da confiança pública inerente ao cargo?
O advogado Andrew Gilmore, sócio da Grosvenor Law, explicou que a promotoria precisará demonstrar que o então representante oficial “negligenciou intencionalmente o cumprimento de seu dever a ponto de configurar abuso da confiança pública nele depositada”. Trata-se de um dos tipos penais mais difíceis de comprovar no direito britânico.
Andrew nega qualquer irregularidade.
Mas a erosão reputacional não começou agora.
Em 2019, sua entrevista ao programa “Newsnight”, da BBC, marcou o colapso público de sua credibilidade. Não foi apenas a afirmação de que não se lembrava da fotografia com Virginia Giuffre. Foi o conjunto: ausência de empatia explícita às vítimas, respostas consideradas evasivas e justificativas fisiológicas improváveis que minaram a percepção pública de honestidade. Dias depois, afastou-se das funções reais.
A entrevista não encerrou a crise. Consolidou-a.
Elizabeth poupada, Charles testado
Elizabeth II reinou por 70 anos, de 1952 a 2022. Atravessou crises familiares e turbulências políticas, mas jamais viu um filho conduzido sob custódia policial. Andrew era frequentemente descrito como seu filho favorito. Durante seu reinado, o escândalo permaneceu no campo da imagem.
Com Charles III, a abordagem foi estrutural.
No fim de 2025, o rei retirou formalmente os títulos e honrarias do irmão — medida inédita na monarquia moderna. Andrew deixou de ser tratado como príncipe. Foi removido do Royal Lodge e transferido para residência mais discreta.
Após a prisão, Charles declarou apoiar um “processo completo, justo e adequado” e afirmou de forma inequívoca: “Deixe-me ser claro: a lei deve seguir seu curso”.
David Lammy, vice-primeiro-ministro e secretário de Justiça do Reino Unido, reforçou à BBC: “Ninguém neste país está acima da lei”.
Desta vez, a frase não soa protocolar. Quando a polícia prende o irmão do soberano, o princípio deixa de ser retórica constitucional e passa a ser prática verificável.
A família de Virginia Giuffre declarou: “Finalmente. Ninguém está acima da lei, nem mesmo a realeza”. A afirmação sintetiza a dimensão simbólica do momento.
Reino Unido e Brasil: dois padrões
Andrew construiu trajetória marcada por contraste. Serviu na Marinha Real durante a Guerra das Malvinas. Foi celebrado como oficial de combate. Tornou-se enviado comercial, transitou entre chefes de Estado e magnatas globais. A amizade com Epstein persistiu mesmo após a condenação do financista em 2008. Fotografias no Central Park, em 2010, ampliaram a perplexidade pública.
O que diferencia este episódio não é apenas o conteúdo das acusações, mas a resposta institucional.
No Reino Unido, a polícia age. O rei se afasta. O governo reafirma a independência do processo. A instituição se protege permitindo que a investigação avance sem bloqueios.
No Brasil, o padrão muitas vezes se inverte. Autoridades sob suspeita de envolvimento em esquemas bilionários invocam a defesa da “imagem da instituição” enquanto resistem a qualquer providência concreta que assegure investigação autônoma. Não se declaram impedidas. Não se afastam. Não solicitam licença. Não sinalizam disposição inequívoca de que a apuração avance até o limite das responsabilidades pessoais.
Ao contrário: mobilizam narrativas, instrumentalizam discursos corporativos e frequentemente transformam a defesa institucional em mecanismo de autoproteção. O resultado é corrosivo: erosão da confiança pública, banalização do conflito de interesses e perpetuação de zonas de opacidade que protegem indivíduos sob o pretexto de preservar a estrutura.
A diferença não é cultural nem cosmética pra “inglês ver”. Aqui, ela é tanto ética quanto estrutural.
Em Londres, proteger a Coroa significa aceitar o risco da investigação. Em Brasília, frequentemente proteger a instituição significa blindar seus integrantes até que o desgaste perca tração política.
A prisão de Andrew não é condenação. É início formal de escrutínio.
Mas o fato de que o escrutínio não tenha sido bloqueado pelo sobrenome altera o eixo da discussão democrática.
O que está em jogo não é apenas a reputação de um homem que já atravessou palácios, campos de batalha e salões exclusivos do poder global. O que está em jogo é a capacidade de uma instituição milenar demonstrar que sua legitimidade depende da submissão à lei — inclusive quando a lei alcança o próprio núcleo do poder.
Charles III parece ter compreendido algo essencial: o trono não é escudo penal.
O que este fevereiro de 2026 revela é simples e incômodo: instituições não se defendem abafando investigações. Defendem-se submetendo-se a elas.
https://revistaforum.com.br/opiniao/andrew-perdeu-a-coroa-venceu-a-escolha-de-rei-charles-iii/
River e Joaquin Phoenix: dois destinos, uma mesma chama
Enquanto River se tornou promessa interrompida, Joaquin converteu ausência em método, atravessando personagens extremos até conquistar o Oscar de 2020 por “Coringa”, marco incontornável
19 de fevereiro de 2026


No teatro dos mitos, a fênix não apenas arde — ela enfrenta o próprio incêndio como quem atravessa uma verdade incômoda. Ao se consumir, não desaparece: transforma combustão em reinício. A história de Joaquin Phoenix é atravessada por essa lógica incandescente. Não se trata de metáfora fácil, mas de uma biografia que se construiu entre deslocamentos espirituais, perdas irreparáveis e escolhas artísticas radicais.
Joaquin nasceu em 28 de outubro de 1974, em Río Piedras, San Juan, Porto Rico, como Joaquin Rafael Bottom. Seus pais integraram o grupo religioso Children of God e percorreram a América Latina como missionários. Anos depois, a organização seria amplamente denunciada por práticas abusivas e manipulações internas. A família viveu em países como Venezuela sob condições materiais instáveis. Os irmãos cantavam nas ruas para complementar renda. River, já adulto, referiu-se ao grupo como “repugnante”, sintetizando o desencanto de quem percebe ter crescido sob uma estrutura espiritual corroída por contradições éticas.
Phoenix
Por volta de 1977, os pais romperam com a organização e regressaram aos Estados Unidos com cinco filhos e quase nenhum recurso. O sobrenome Bottom foi abandonado. A família escolheu Phoenix como declaração simbólica de renascimento. Não era marketing: era sobrevivência psíquica.
Instalados na Flórida, as crianças voltaram a cantar e participar de programas de talentos. A mãe conseguiu emprego na NBC, o que abriu portas para testes e agentes. O talento dos irmãos era evidente e rapidamente notado.
River Phoenix tornou-se o primeiro a alcançar reconhecimento internacional. Em Stand by Me (Conta Comigo), imortalizou Chris Chambers, adolescente sensível que confessa: “Eu só queria ir para um lugar onde ninguém me conhecesse.” A frase parecia antecipar sua própria condição de jovem estrela pressionada. Em My Own Private Idaho (Garotos de Programa), como Mike Waters, declarou: “Eu poderia amar alguém mesmo que não fosse pago por isso.” Seus personagens carregavam uma fragilidade rara, misto de ternura e desajuste.
Morte precoce
River jamais ganhou um Oscar. Recebeu, contudo, uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 1989 por Running on Empty (À Beira do Abismo), tornando-se um dos indicados mais jovens da categoria. Era considerado uma promessa extraordinária quando, em 31 de outubro de 1993, diante do clube The Viper Room, sofreu overdose fatal aos 23 anos. Joaquin, então com 19, fez a ligação para o serviço de emergência. Na gravação, ouve-se sua voz aflita dizendo: “Ele não está respirando… por favor, ele está tendo convulsões.” A exposição pública desse áudio transformou um momento íntimo de desespero em material de consumo midiático.
Joaquin afastou-se temporariamente da atuação. O retorno veio com To Die For (Um Sonho Sem Limites). Em Gladiator (Gladiador), interpretando o imperador Commodus, pergunta com frieza: “Eu não sou misericordioso?” O papel lhe rendeu indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2001.
Globo de Ouro e Oscar
Em Walk the Line (Johnny & June), vivendo Johnny Cash, conquistou o Globo de Ouro e recebeu indicação ao Oscar de Melhor Ator em 2006. A consagração definitiva veio com Joker (Coringa). Por sua interpretação de Arthur Fleck, venceu o Oscar de Melhor Ator em 2020, além do Globo de Ouro e do BAFTA no mesmo ciclo de premiações. No discurso, citou palavras escritas por River na adolescência: “Corra para salvar com amor, e a paz virá em seguida.”
Milton Nascimento
Há ainda um capítulo pouco lembrado no Brasil. River desenvolveu forte admiração pela música latino-americana e aproximou-se do universo de Milton Nascimento. O cantor mineiro, referência internacional da canção brasileira, reconheceu no jovem ator uma sensibilidade incomum e chegou a dedicar-lhe a canção “River Phoenix (Carta a um Jovem Ator)”, composta após sua morte, transformando a perda em tributo musical. Esse gesto estabeleceu uma ponte rara entre Hollywood e Minas Gerais — um encontro entre cinema e canção, entre juventude interrompida e memória cultural.
Anos depois, Joaquin deu ao filho o nome de River. Não é apenas homenagem fraterna. É gesto de continuidade. A família que atravessou uma seita controversa, enfrentou pobreza e perdeu um filho sob holofotes impiedosos decidiu não endurecer. A fênix que escolheram como sobrenome não simboliza milagre. Simboliza permanência. Alguns sucumbem ao fogo. Outros aprendem a atravessá-lo — e deixam que a luz revele o que ainda pode ser salvo.
https://revistaforum.com.br/opiniao/river-e-joaquin-phoenix-dois-destinos-uma-mesma-chama/
A ciência começa a medir o poder da amabilidade
Mario Alonso Puig, ex-cirurgião e pesquisador em neurociência, explica os efeitos sistémicos da amabilidade; Elizabeth Blackburn, vencedora do Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina, revela seu impacto nos telômeros
18 de fevereiro de 2026


Num momento histórico em que ansiedade, depressão e doenças inflamatórias avançam como epidemias silenciosas, um dado começa a deslocar certezas na medicina contemporânea: a forma como tratamos os outros interfere diretamente na nossa própria biologia. Não se trata de moralismo ou autoajuda açucarada. Pesquisas em neurociência e endocrinologia indicam que a amabilidade altera o ritmo cardíaco, modula hormonas do stress e influencia mecanismos celulares ligados à longevidade. O que antes era virtude doméstica passa a ser variável clínica.
O médico e pesquisador espanhol Mario Alonso Puig sustenta essa tese com a autoridade de quem passou mais de vinte anos no bloco cirúrgico antes de mergulhar na investigação sobre comportamento humano e cérebro. Segundo ele, quando alguém age com genuína amabilidade, ativa-se o nervo vago anterior, estrutura essencial do sistema nervoso parassimpático. Essa ativação produz a chamada coerência cardíaca — um padrão mais harmonioso de funcionamento do coração.
Essa harmonia cardíaca envia sinais ao cérebro, favorecendo a cooperação entre os hemisférios direito e esquerdo, frequentemente tensionados na vida adulta. Não é apenas sensação subjetiva de bem-estar; há sincronização fisiológica mensurável. A coerência cardíaca também comunica com as glândulas suprarrenais, estimulando a libertação de DHEA — dehidroepiandrosterona — hormona associada ao fortalecimento do sistema imunitário, à redução do colesterol LDL e à diminuição do cortisol, marcador do stress crónico. Há ainda impacto sobre regeneração de tecidos, massa muscular e densidade óssea. A gentileza, portanto, produz efeitos sistémicos.
Telomerase
O argumento ganha densidade quando se recorda o trabalho da cientista Elizabeth Blackburn, laureada com o Prémio Nobel de Medicina em 2009 pela descoberta da telomerase. A enzima protege os telómeros, estruturas que preservam a integridade dos cromossomas e influenciam a longevidade celular. Estudos subsequentes sugerem que estados emocionais positivos, associados à libertação de oxitocina e à activação do nervo vago, relacionam-se com maior actividade dessa enzima. Vínculos saudáveis parecem proteger as próprias células.
Mas a discussão não se esgota na fisiologia. Há tradições espirituais que há muito afirmam que a amabilidade não é etiqueta social, mas disciplina de carácter. Nos Escritos de Bahá’u’lláh e de ‘Abdu’l-Bahá, ela é apresentada como prática universal: tratar o estranho com a mesma dignidade dispensada ao familiar, manter um padrão ético que não dependa de simpatia ou conveniência. A radicalidade está precisamente aí — na coerência.
Álibi para a injustiça
Ao mesmo tempo, essa visão rejeita qualquer sentimentalismo ingénuo. ‘Abdu’l-Bahá adverte que a bondade não pode servir de álibi para a injustiça. Não se alimenta a tirania com complacência nem se fortalece o engano com permissividade. A verdadeira amabilidade exige discernimento: busca reconciliação quando possível, mas preserva a integridade moral quando confrontada com o abuso.
Essa síntese entre ciência e consciência revela algo que o debate público raramente admite: comportamento humano é infraestrutura biológica e também arquitetura ética. Num mundo marcado por polarizações agressivas, interações digitais hostis e discursos inflamados, a escolha por um trato respeitoso deixa de ser mera etiqueta social. Torna-se estratégia de saúde e de coesão civilizatória.
Entre o coração e o cérebro
A gentileza não substitui políticas públicas nem terapias complexas. Mas cria o ambiente interno e relacional onde tais medidas encontram terreno fértil. Entre o coração e o cérebro, há um nervo; entre as pessoas, há uma decisão. E essa decisão, confirmam laboratório e tradição espiritual, pode regenerar tecidos — e também relações.
https://revistaforum.com.br/opiniao/a-ciencia-comeca-a-medir-o-poder-da-amabilidade/
Empresa que enxerga só a árvore perde a floresta inteira
Confiança se constrói na clareza das divergências e na lealdade aos fatos; quando decisões empresariais nascem de intrigas, instalam-se falhas estratégicas imprevisíveis que nenhuma votação unânime consegue corrigir depois
17 de fevereiro de 2026


Erros estratégicos raramente explodem no instante da decisão. Eles se formam antes, no conforto enganoso da unanimidade. A concordância rápida produz sensação de maturidade institucional, mas pode esconder superficialidade analítica. Como advertiu Daniel Kahneman, psicólogo israelense, Prêmio Nobel de Economia e uma das maiores autoridades contemporâneas no estudo dos vieses cognitivos que afetam julgamentos gerenciais e decisões empresariais complexas, “a confiança é um sentimento, não um julgamento”. Sentir-se seguro não é o mesmo que estar certo.
Processos decisórios falham menos por incapacidade técnica e mais por complacência coletiva. A necessidade de pertencimento, o receio de atrito e o desejo de preservar harmonia reduzem o espaço da crítica.
Irving Janis, psicólogo social norte-americano da Universidade de Yale, referência incontornável na análise de falhas catastróficas em governos e corporações e formulador do conceito de groupthink, demonstrou que, quando grupos priorizam unanimidade, deixam de avaliar alternativas com rigor. A busca por coesão passa a valer mais que a busca pela verdade factual e estratégica.
É nesse ponto que a veracidade das informações se torna central. Sem dados consistentes, checados, auditáveis e contextualizados, qualquer decisão é vulnerável.
Informações imprecisas, impressões pessoais ou narrativas convenientes podem ganhar aparência de evidência quando não são confrontadas metodologicamente. Decidir exige método estruturado: questionar fontes, exigir indicadores objetivos, comparar cenários, separar fatos verificáveis de interpretações subjetivas.
Para não ficar apenas na teoria, apresento a seguir exemplo direto e recorrente no mundo empresarial:
Doze sócios reúnem-se para decidir se mantêm ou afastam um diretor. Não há relatório que indique falhas estruturais. Ao contrário: os resultados financeiros são sólidos, a equipe demonstra estabilidade, clientes reconhecem sua capacidade de escuta, sua empatia no trato comercial e sua visão estratégica de longo prazo. Trata-se de um profissional experiente, respeitado no mercado, tecnicamente consistente e reconhecido por sua habilidade de transformar complexidade em decisões ponderadas e sustentáveis.
Ainda assim, um dos executivos inicia movimento para retirá-lo. Não o faz de forma transparente. Em conversas reservadas, passa a insinuar que o diretor estaria “menos engajado”, “pouco alinhado ao espírito coletivo” ou “perdendo energia estratégica”. As formulações são imprecisas, apoiadas em percepções subjetivas e não em indicadores concretos de performance. Não apresenta métricas de desempenho nem registra resultados insatisfatórios; ao contrário, procura rotular uma trajetória comprovadamente positiva a partir de um único ponto que, a seu ver, poderia ter sido conduzido de maneira diferente. Substitui evidência por interpretação pessoal. Em vez de formalizar uma divergência clara diante do colegiado, opta por construir um ambiente de dúvida difusa — suficiente para contaminar o julgamento, mas insuficiente para sustentar uma acusação consistente e tecnicamente defensável.
Não se trata de discordância legítima sustentada por dados. Trata-se de sabotagem silenciosa. A motivação não nasce de análise estratégica estruturada, mas de vaidade ferida, ciúme profissional e insegurança diante do talento alheio.
A competência do diretor é percebida como ameaça simbólica à própria relevância. Em vez de elevar o padrão de desempenho pessoal, o executivo inseguro tenta enfraquecer quem se destaca.
Se o colegiado não interrompe esse fluxo para exigir provas concretas, avaliações comparativas independentes e debate aberto com critérios objetivos, legitima uma decisão baseada em ressentimento. A narrativa preventiva — “evitar desalinhamentos futuros” — pode soar prudente, mas prudência sem verificação é cumplicidade institucional. A exclusão parecerá técnica, quando terá sido profundamente pessoal.
Cass Sunstein, jurista norte-americano, professor de Harvard, especialista em arquitetura de escolhas, governança regulatória e processos deliberativos em organizações públicas e privadas, alerta que grupos precisam de mecanismos formais de contestação estruturada para evitar distorções previsíveis. Sem incentivo explícito à discordância fundamentada e à avaliação crítica sistemática, prevalece a versão mais conveniente — não necessariamente a mais verdadeira ou estrategicamente sólida.
Afastar o diretor, nesse cenário, significaria perder experiência acumulada, capital relacional construído ao longo de anos, liderança empática e capacidade de leitura estratégica do mercado sem justificativa factual consistente. O dano não seria apenas operacional ou financeiro. A mensagem interna seria inequívoca: talento pode ser punido quando provoca insegurança. Esse sinal corrói cultura organizacional, enfraquece confiança entre pares e desencoraja excelência.
Opinar em ambiente decisório é responsabilidade, não ornamento retórico.
Cada diretor deve apresentar argumentos com clareza técnica, sustentar dados verificáveis e expor motivações à luz do grupo. Uma vez expressa, a opinião deixa de ser propriedade individual e passa a ser objeto coletivo de análise crítica.
O debate não julga pessoas; examina fundamentos, premissas e evidências. E isso vale para pessoas, processos, clientes que esperam solidez e planejamento estratégico que os represente da melhor forma possível, com qualidade e consistência na entrega.
Processos maduros exigem franqueza institucional. Divergências devem ser públicas, não subterrâneas. Críticas precisam ser documentadas, não sussurradas em corredores. O jogo limpo é condição mínima de governança corporativa séria.
Confiança não se decreta em ata; constrói-se ao longo do tempo, na coerência entre palavra e prática, na lealdade aos fatos e no respeito ao mérito comprovado. Desconfiança, ao contrário, infiltra-se rapidamente — como limão em vasilha de leite, azeda o ambiente inteiro e altera a textura das relações profissionais.
Num colegiado de doze diretores, voltando ao exemplo antes mencionado, a base precisa ser lealdade institucional: lealdade aos fatos, ao mérito, à transparência e ao compromisso estratégico com a floresta inteira da organização, não com a árvore isolada das rivalidades pessoais.
Quem sabota nos bastidores rompe esse pacto essencial. E quando a lealdade é corroída, o que se instala não é apenas desconforto — é a semente de fracassos estratégicos, reputacionais e morais que nenhuma votação unânime será capaz de reparar.
https://revistaforum.com.br/opiniao/empresa-que-enxerga-so-a-arvore-perde-a-floresta-inteira/
Braathen faz dos Alpes de Bormio o cenário eterno do ouro olímpico brasileiro
O ouro de Bormio não celebra apenas um atleta, mas inaugura uma nova era para os esportes de inverno brasileiros, provando que nenhum sonho é distante demais
15 de fevereiro de 2026


Bormio, no coração dos Alpes italianos, amanheceu branca e silenciosa naquele 14 de fevereiro de 2026. Mas o silêncio foi apenas uma moldura provisória para o que se tornaria um terremoto simbólico na história esportiva brasileira. No Stelvio Ski Center, uma das pistas mais técnicas e implacáveis do circuito internacional, Lucas Pinheiro Braathen fez o que nenhuma geração antes dele ousara sequer imaginar: conquistou o primeiro ouro do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno.
O feito ganha contornos ainda mais dramáticos quando se compreende o contexto. O Brasil, país tropical, estreou em Olimpíadas de Inverno em 1992, em Albertville. Desde então, a participação sempre foi marcada por pioneirismo, esforço quase artesanal e resultados discretos. Nunca uma medalha. Nunca um pódio. Apenas a obstinação de atletas que treinavam longe de casa, financiados por sonhos maiores que a estrutura disponível
Foi preciso que um jovem de 25 anos, nascido na Noruega e filho de mãe brasileira, decidisse, há dois anos, competir sob a bandeira verde e amarela para alterar essa narrativa. Lucas Pinheiro Braathen já era nome consolidado na Copa do Mundo de esqui alpino quando optou por representar o Brasil. Sua decisão foi interpretada por alguns como gesto afetivo; agora, é também marco geopolítico do esporte.
A modalidade em que ele se consagrou — o slalom gigante — é uma prova de precisão e velocidade que exige equilíbrio quase coreográfico entre técnica e coragem. Diferente do slalom tradicional, em que os portões são mais próximos e as curvas mais fechadas, o slalom gigante combina alta velocidade com curvas amplas e ritmadas. Em Bormio, o traçado desenhado pela Federação Internacional apresentava cerca de cinquenta portas distribuídas ao longo de pouco mais de um quilômetro e meio de extensão, com desnível vertical superior a 400 metros. A inclinação variava entre trechos mais abertos, que exigiam aceleração máxima, e setores técnicos, onde qualquer centésimo perdido se tornava sentença.
São duas descidas, chamadas mangas. O tempo é somado. Vence quem apresentar o menor tempo combinado — e, sobretudo, quem souber ler a pista como quem lê um texto complexo: antecipando curvas, ajustando linhas, preservando velocidade na saída de cada arco.
Mais do que vencer
Em Bormio, Lucas fez mais do que vencer. Ele desafiou Marco Odermatt, o suíço amplamente considerado um dos maiores nomes do esqui alpino contemporâneo, dono de 53 vitórias em etapas de Copa do Mundo e campeão olímpico do slalom gigante em 2022. Na primeira manga, o brasileiro registrou uma descida tecnicamente impecável, com linhas agressivas nas partes mais inclinadas e transições limpas nos trechos de maior compressão. Abriu quase um segundo de vantagem — uma eternidade em provas decididas por centésimos.
Na segunda manga, largando por último entre os líderes, precisava apenas manter a compostura diante da pressão que transforma joelhos em chumbo e pensamento em ruído. A neve já estava marcada, sulcada por dezenas de esquis. O piso mais quebrado exigia ajustes constantes de ângulo e distribuição de peso. Não houve ruído. Houve lucidez.
O tempo final: 2min25s, somando as duas descidas. Cinquenta e oito centésimos à frente de Marco Odermatt, medalha de prata. Mais de um segundo à frente de Loïc Meillard, também da Suíça, que conquistou o bronze. O pódio, portanto, foi majoritariamente suíço — com uma exceção histórica vestida de verde e amarelo.
Quando cruzou a linha, Lucas desabou na neve. Não era teatralidade. Era a ruptura de uma fronteira invisível.
O grito que atravessou o Atlântico
A narração brasileira explodiu em uníssono: “É agora ou nunca! É agora!” A contagem regressiva virou clamor coletivo. Cinquenta centésimos abaixo. O Brasil inteiro empurrando nas últimas curvas. E então o grito que atravessou o Atlântico: medalha de ouro para o Brasil. Um momento para a história, repetido como mantra.
Minutos depois, já no pódio, ao som do Hino Nacional, Lucas cantou cada verso com a voz embargada. Não era protocolo; era pertencimento. O ouro brilhava no peito, mas o que cintilava nos olhos era algo mais antigo: identidade.
Logo depois de descer do pódio, ainda com o ouro no peito e a respiração entrecortada, Lucas explicou com simplicidade o que havia acontecido na pista: “É inexplicável. Não sei colocar em palavras.” E completou: queria que aquilo servisse de inspiração para crianças que acreditam que nada é impossível, independentemente da origem ou da cor da pele.
Esquiando com o coração
A um repórter italiano respondeu: “E claro que, como a gente tava falando, né, entre as descidas, a neve é completamente diferente. Era preciso fazer ajustes. Eu consegui isso. Eu achei o balanço. Tava esquiando com o coração. E quando você esquia do jeito que você é, e possui uma fé gigante, tudo é possível.”
No instante em que a neve se calou para ouvir o Brasil, essas suas palavras pareciam ecoar algo muito maior do que uma análise técnica da corrida. Lucas encarnava, ali, uma antiga sentença de ‘Abdu’l-Bahá, registrada por volta de 1919: “Nada lhe será impossível se tiver fé, pois, assim como é a sua fé, assim serão seus poderes e talentos.” O que se viu em Bormio foi precisamente isso: fé transformada em precisão, coragem convertida em linha perfeita, e o impossível cintilando como ouro sob o céu frio dos Alpes.
Ele descreveu a segunda descida como “uma guerra”. A neve estava irregular, exigindo leitura constante do terreno. “Eu tava puxando, tentando achar o flow”, disse. Encontrou o equilíbrio. Esquiou com o coração. E quando cruzou a linha, o grito que saiu foi em português: “Vamos!”. Exausto, pernas queimando, pensamento misturado entre três idiomas, escolheu a língua da mãe.
Pertencimento
Foi nesse instante, diante da tela, que não consegui conter as lágrimas. Ao vê-lo cantar o hino no alto do pódio, senti algo que ultrapassava o esporte. Era um sentimento vivo de pertencimento a um povo, a uma história compartilhada. Havia ali identidade. Havia humanidade comum.
Talvez por isso essa conquista tenha ressoado em mim com uma camada adicional de memória. Meu primeiro encontro com a neve aconteceu em setembro de 1997, na Suíça, na Academia Landegg, em Rorschach, onde ministrei um curso intitulado “O Pensamento Vivo de Shoghi Effendi”. Entre aulas e conversas, observava pela janela a montanha branca que me parecia tão distante quanto um planeta.
Num fim de tarde, amigos perguntaram se eu tinha algum sonho ainda não realizado. Respondi: sempre quis esquiar. Cresci no Nordeste brasileiro; neve era paisagem de cinema. No dia seguinte, após breves instruções, tentei descer a montanha na estação mais baixa. O primeiro desafio foi manter-me em pé. Os esquis pareciam gigantes, pesados, indomáveis. Vieram quedas sucessivas. A neve salvava o corpo; o ego, nem tanto.
Consegui duas fotos — era um tempo anterior aos smartphones. Foi uma experiência intensa, quase épica na minha escala pessoal. Talvez por isso eu saiba que a montanha nunca concede nada de graça. Cada curva exige decisão. Cada descida é um pacto entre técnica e coragem.
Estabilidade e estrutura
Há uma dimensão estrutural nessa conquista. Ao migrar da poderosa federação norueguesa para a pequena Confederação Brasileira, Lucas abriu mão de estabilidade e estrutura. Montou equipe, reorganizou carreira, ficou um ano fora das competições. Retornou em processo de reconstrução. O ouro não nasceu do improviso; nasceu de planejamento e convicção.
O Brasil já não pode mais dizer que a neve lhe é estranha. Em Bormio, sob o céu cinza dos Alpes, a bandeira verde e amarela dialogou com o branco absoluto da montanha. Lucas Pinheiro Braathen não venceu apenas uma corrida. Ele redefiniu os limites do possível — com marcas técnicas impecáveis, precisão cirúrgica e, acima de tudo, um coração que soube transformar frio em pertencimento.
Sessão reservada do STF vaza e levanta suspeita sobre autoria da gravação
O conteúdo vazado destaca manifestações de apoio de oito ministros, mas a pergunta central permanece: quem gravou a reunião convocada por Fachin no auge da pressão?
14 de fevereiro de 2026


Oque está em jogo no Supremo não é um detalhe de procedimento. É a integridade do próprio ambiente de deliberação. A sessão reservada realizada na quarta-feira, 12 de fevereiro de 2026, convocada pelo presidente da Corte, Luiz Edson Fachin, para discutir a permanência de Dias Toffoli na relatoria do caso Banco Master, não está sob suspeita de ter sido registrada.
A suspeita é outra, muito mais grave: quem teria feito a gravação que deu origem ao vazamento?
Os relatos minuciosos da reunião vieram a público no próprio dia 12, inicialmente divulgados pelo site Poder 360, com descrição detalhada das falas e do ambiente interno. O ponto que chama atenção é a natureza do material vazado.
As informações divulgadas reproduzem, em sua maioria, manifestações de apoio ao ministro, frases contundentes de colegas que defenderam sua continuidade na relatoria. O teor não é acusatório; é protetivo.
Apoio a Toffoli
Segundo nota tornada pública após o encontro, oito ministros afirmaram que “não há suspeição ou impedimento” e registraram “apoio pessoal” a Toffoli. Outros teriam ressaltado que ele “atendeu integralmente às solicitações da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República”. São declarações fortes, inequívocas, alinhadas à manutenção do relator no caso.
O problema não está no apoio — colegialidade é parte do funcionamento do Supremo Tribunal Federal —, mas na dinâmica do vazamento.
A leitura política é inevitável: se o conteúdo divulgado favorece majoritariamente um dos participantes, a pergunta deixa de ser se houve gravação e passa a ser quem se beneficiou dela. Em um colegiado de onze ministros, a hipótese que circula nos bastidores é que a gravação possa ter partido de quem tinha maior interesse direto na consolidação pública daquele apoio.
Toffoli deixou a relatoria no próprio dia 12, após horas de deliberação. O gesto foi interpretado como tentativa de preservar a instituição e reduzir a temperatura da crise. Ainda assim, a sucessão de fatos — reunião reservada, apoio formal de oito ministros, vazamento seletivo e renúncia à relatoria — compõe uma sequência que alimenta dúvidas.
Crise estrutural
Se confirmada a autoria da gravação por parte do próprio interessado, o impacto ultrapassa o caso Banco Master. O Supremo depende de um espaço de franqueza interna para funcionar. Ministros precisam falar sem receio de que cada frase se transforme em manchete estratégica.
Quando a suspeita recai sobre o próprio beneficiário do conteúdo vazado, a crise deixa de ser jurídica e se torna estrutural.
Não se trata apenas de reputação individual. Trata-se da capacidade de uma Corte constitucional deliberar sob confiança recíproca.
E confiança, uma vez abalada, não se recompõe com notas oficiais. Recompõe-se com transparência, responsabilidade e, sobretudo, com a clara definição de limites.
O escândalo Epstein e a engrenagem obscena do poder global
E-mails registram presentes, empregos e favores sexuais como moeda de poder, envolvendo Hollywood, monarquia britânica, ex-presidentes e 74 menções a Bolsonaro
11 de fevereiro de 2026
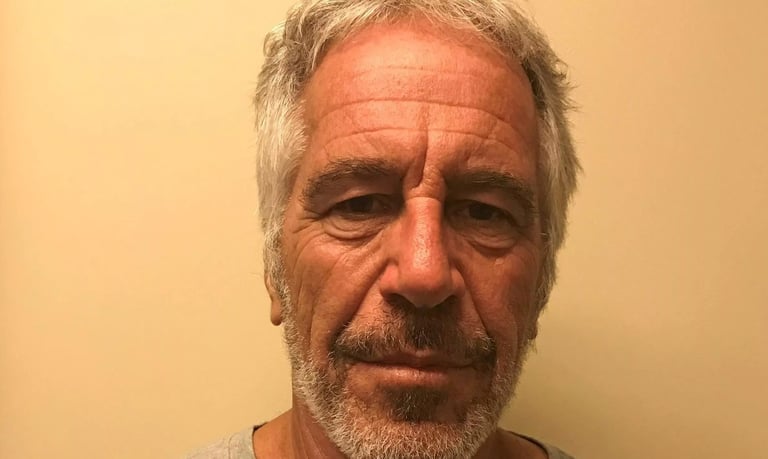

A divulgação escalonada dos arquivos ligados a Jeffrey Epstein produziu um abalo que ultrapassa o campo policial e invade o coração do poder contemporâneo. Não se trata apenas da exposição tardia de um predador sexual em série, mas da revelação de um sistema transnacional de cumplicidades que envolveu autoridades públicas, celebridades, empresários, intelectuais e intermediários financeiros em diversos países. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, circuitos de Hollywood e, em menor escala, conexões que alcançam o Brasil aparecem entrelaçados em documentos oficiais liberados pelo Departamento de Justiça norte-americano entre 2023 e 2026.
O impacto é global porque o esquema era global. E porque lança suspeitas sobre instituições inteiras, corroendo a confiança pública em democracias já fragilizadas.
effrey Epstein entrará para a história como um dos mais bem-sucedidos — e mais repulsivos — operadores sociais do século XXI. Não construiu poder formal, mas dominou os bastidores. Circulava com desenvoltura entre banqueiros, cientistas renomados, políticos, bilionários e figuras centrais da indústria cultural.
Seu método era direto: troca de favores, acesso privilegiado, presentes de alto valor, exploração sexual sistemática de jovens vulneráveis e, segundo investigadores, a manutenção deliberada de ambientes propícios à chantagem. Poucos pareciam fora de seu alcance. Apenas Vladimir Putin, segundo os registros conhecidos até agora, jamais apareceu em sua órbita.
Um padrão se repete nos arquivos: a negação organizada. Quase todos os citados afirmaram publicamente que “mal o conheciam”. Diante da liberação de e-mails, fotos, agendas de voo, listas de convidados e mensagens diretas, a narrativa migrou para outra defesa: diziam não saber o suficiente para perceber crimes sexuais contra menores.
O resultado foi previsível: carreiras interrompidas, conselhos administrativos desfeitos, contratos rompidos, reputações irremediavelmente manchadas. O espanto não está na queda, mas no tempo de tolerância social que a antecedeu.
Mesmo após sua condenação em 2008, na Flórida, por crimes sexuais envolvendo menores, Epstein continuou a ser recebido por figuras centrais do establishment. Em 2019, quando voltou à prisão acusado de tráfico sexual em âmbito federal, o círculo de relações ainda estava ativo. O sofrimento das vítimas — muitas delas adolescentes recrutadas em situação de vulnerabilidade econômica e emocional — permaneceu, por anos, em segundo plano.
A razão é brutalmente simples: Epstein oferecia vantagens concretas. Acesso a redes exclusivas, atalhos profissionais, viagens privadas, prestígio simbólico e um fluxo contínuo de benefícios materiais. Os arquivos revelam, com clareza desconfortável, o desejo de uma elite que se julgava acima das regras.
Os exemplos são explícitos. Bolsas de luxo, voos em jatos particulares, estadias em ilhas privadas no Caribe, doações direcionadas a escolas e fundações, empregos arranjados para filhos e protegidos. Uma jovem conseguiu trabalhar em um filme de Woody Allen; trata-se de uma vítima inserida no circuito profissional por intermediação direta de Epstein, o que reforça o padrão de favorecimento pessoal e a assimetria de poder presente nessas relações. Outros receberam “companhias femininas” descritas em linguagem fria, técnica, quase administrativa.
Tudo registrado sem constrangimento, como se fosse parte natural de um sistema de trocas.
Anand Giridharadas definiu bem o mecanismo ao analisar lotes anteriores de e-mails: tratava-se de uma economia de trocas baseada em privilégios e informações não públicas. Não era o mundo das gentilezas sociais, mas o da negociação silenciosa. Epstein operava como um facilitador de luxo, um articulador de acessos no interior do poder global. Providenciava helicópteros, aviões, festas, encontros seletivos e conexões estratégicas.
Em 2012, trocou mensagens diretas com Elon Musk sobre transporte aéreo e eventos privados. Nada era acidental, improvisado ou inocente.
A lista de presentes documentados impressiona. Relógios caros, bolsas Hermès, roupas sob medida, milhares de dólares em vestuário enviados a Steve Bannon, Noam Chomsky e ao próprio Woody Allen. O jornalista Michael Wolff aparece reiteradamente agradecendo mimos recebidos, com naturalidade constrangedora, como se a troca de favores fosse parte banal do cotidiano.
Entre os casos mais simbólicos está o do príncipe Andrew, figura central da família real britânica à época e filho direto da rainha Elizabeth II. Fotografado com Virginia Giuffre, então com 17 anos, Andrew tornou-se um dos rostos mais visíveis do escândalo.
A repercussão foi tão devastadora que, em 2022, ele foi obrigado a se afastar da vida pública, perdeu seus títulos militares honorários e deixou de usar o tratamento de “Sua Alteza Real”, em uma decisão inédita e profundamente constrangedora para a monarquia britânica moderna. O episódio abalou o prestígio simbólico da Coroa e expôs fissuras éticas em seu círculo mais fechado.
Há também registros envolvendo Bill Clinton, que aparece em fotografias, agendas e registros de deslocamento ligados a viagens e encontros privados.
O que não deveria surpreender, dado o abismo sem fundo em que a cúpula do poder político e econômico em uma dezena de países do mundo se encontra, é que nenhuma dessas conexões foi suficiente, à época, para romper o pacto de conveniência que protegia Epstein e preservava o silêncio coletivo.
Os arquivos revelam ainda conexões com o Brasil. O nome do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece citado 74 vezes nos documentos analisados por autoridades norte-americanas, em registros de contatos indiretos, menções cruzadas e relações com figuras que transitavam no mesmo circuito internacional de Epstein. Não há, até o momento, acusação formal de crime, mas o volume de citações levanta questões legítimas sobre proximidade política, redes de relacionamento e a normalização de ambientes frequentados por um criminoso sexual já conhecido internacionalmente.
Há algo que precisa ser dito com clareza, sem eufemismos nem cautela diplomática.
O que os arquivos Epstein revelam é uma rede marcada por promiscuidade sistêmica, pela banalização da prostituição e pelo tráfico sexual de meninas menores de idade, exploradas como mercadoria em ambientes de poder. Não se trata de excessos individuais, mas de um padrão de comportamento que naturalizou a violência sexual como parte do jogo social.
O silêncio cúmplice, a relativização moral e a disposição em “não perguntar demais” transformaram o crime em rotina e a exploração em moeda. Essa rede não apenas abusou de menores — ela contou com adultos instruídos, ricos e influentes que escolheram olhar para o outro lado.
O nome de Donald Trump aparece milhares de vezes nos arquivos. Ironia histórica: foi ele quem prometeu desmontar a elite corrupta que Epstein simbolizava. O discurso colou, alimentou ressentimentos e abriu espaço para teorias conspiratórias como o QAnon.
Delirantes na forma, mas ancoradas em uma intuição real: existia, de fato, uma elite global blindada pela impunidade.
Os arquivos Epstein misturam o banal e o monstruoso, a vaidade e o crime. Revelam que a condenação moral jamais foi um obstáculo quando havia algo a ganhar.
Epstein não foi uma exceção isolada. Foi um sintoma extremo de um sistema que normalizou a amoralidade como método, o abuso como privilégio e o silêncio como proteção. E é isso — mais do que os nomes — que torna esse caso verdadeiramente explosivo. Os estilhaços continuarão repercutindo neste e nos próximos anos, se as investigações forem conduzidas com a seriedade que todos esperam.
https://www.brasil247.com/blog/o-escandalo-epstein-e-a-engrenagem-obscena-do-poder-global
No Super Bowl, Bad Bunny rompe fronteiras culturais e expõe a exclusão estrutural
O espetáculo, recheado de símbolos e referências à identidade latina, transforma a vitrine global do Super Bowl em ação direta contra normas que marginalizam vozes dissidentes
10 de fevereiro de 2026


No intervalo mais vigiado do planeta, Bad Bunny fez algo que a indústria do entretenimento evita com disciplina quase militar: recusou a neutralidade, rejeitou a conciliação simbólica e afrontou, com elegância e rigor, o conforto da hegemonia cultural. Diante de uma audiência estimada em 135,4 milhões de espectadores apenas nos Estados Unidos, segundo dados preliminares da NBC, no coração do espetáculo esportivo mais assistido do país, ele não pediu licença, não traduziu sua língua, não suavizou sua origem nem negociou identidade em troca de aceitação.
Transformou o palco do Super Bowl LX num quintal latino — e quintal, aqui, não é metáfora doméstica menor, mas território simbólico, espaço político de pertencimento, chão histórico marcado por exploração, resistência e memória viva.
O cenário escolhido dizia tudo antes da primeira nota e não admitia leituras ingênuas. Campos de cana-de-açúcar, trabalhadores anônimos, vendedores de rua, mesas de dominó, um salão improvisado de beleza.
Laboratório de exploração econômica
Nada ali era ornamento exótico para consumo turístico ou ilustração folclórica para plateia global. Era memória social encenada com precisão e dureza. Era a lembrança incômoda de que Porto Rico foi laboratório de exploração econômica e política, de que a doçura do açúcar sempre teve gosto amargo para quem cortava o talo e permanecia invisível na história oficial. Bad Bunny começou ali, entre a colheita e o suor, para depois emergir sobre La Casita, réplica da casa porto-riquenha que já havia sido símbolo de sua residência artística em San Juan.
O mundo não foi convidado a entrar; foi ele quem decidiu sair, levando consigo o peso da história — nos próprios termos.
A decisão de cantar quase integralmente em espanhol não foi detalhe estético nem capricho autoral. Foi um gesto político frontal. Pela primeira vez, o show de intervalo mais visto da televisão americana recusou submeter-se à língua hegemônica como condição de inteligibilidade.
A bem da verdade factual nesse show do intervalo não houve qualquer concessão pedagógica, explicação emocional ou tradução cultural para tranquilizar o espectador dominante. Houve afirmação.
O Grammy. E não o latino
Dias antes, Bad Bunny já havia quebrado outro tabu ao conquistar o Grammy de Álbum do Ano, feito inédito para um disco integralmente em espanhol. O Super Bowl não foi celebração de um triunfo individual; foi extensão coerente de um projeto artístico que reconecta sucesso global e raiz local, fama e responsabilidade histórica.
A apresentação avançou como narrativa de múltiplas camadas.
Houve festa, dança e erotismo, mas também apagões, quedas e faíscas. Em “El Apagón”, trabalhadores despencam de postes elétricos, referência direta aos colapsos energéticos que paralisaram Porto Rico após o furacão Maria. O espetáculo lembrou que a cidadania porto-riquenha continua suspensa: americana no passaporte, colonial na prática, vulnerável no cotidiano. Ao costurar gerações do pop latino, Bad Bunny deixou claro que a presença latina na música dos Estados Unidos nunca foi periférica — apenas sistematicamente empurrada para fora do centro do poder simbólico.
O desfile de referências ao reggaeton — gênero criminalizado antes de ser globalizado — surgiu não como nostalgia, mas como arquivo vivo de resistência cultural. Quando Bad Bunny canta “Yo Perreo Sola”, não entrega apenas um sucesso radiofônico: confronta uma indústria que normalizou a misoginia enquanto lucrava com corpos femininos.
No alto da casa, o protesto virou festa porque também isso é política: a recusa em separar alegria e consciência.
Juntos, somos América
O ápice veio no final. Dançarinos entraram carregando bandeiras de todos os países das Américas. Bad Bunny pronunciou cada nome, lentamente, do sul ao norte, encerrando com Porto Rico. O Brasil e sua bandeira entraram pela porta da frente e não pelos fundos da latinidade. Cuba também, mas por outras evidentes razões. Não foi gesto retórico. Foi reposicionamento simbólico.
Ao segurar uma bola com a frase “Together, We Are America”, desmontou a definição estreita de nação propagada pelo nacionalismo excludente. A reação furiosa de Donald Trump nas redes, chamando o show de “uma afronta à grandeza da América” e reclamando de “não entender uma palavra”, acabou funcionando como confirmação involuntária do acerto artístico: o problema nunca foi a língua, mas o pertencimento.
Recorde de audiência
Os números escancaram a dimensão do impacto. A audiência do intervalo do jogo superou o recorde anterior e ultrapassou apresentações recentes consideradas históricas.
No ambiente digital, a transmissão oficial acumulou dezenas de milhões de visualizações adicionais. Plataformas de streaming registraram picos extraordinários: mais de 20 músicas de Bad Bunny entraram simultaneamente no Top 100 Global, várias no Top 10, e a faixa final da apresentação alcançou o primeiro lugar em diversos países. O artista não recebeu cachê — como ocorre com todos os headliners do Super Bowl —, mas obteve algo mais estratégico: exposição massiva convertida em capital cultural e político.
Quem é Bad Bunny
Encerrado o espetáculo, impôs-se a pergunta inevitável: quem é o artista capaz de provocar tamanho deslocamento? Nascido em 1994, em Vega Baja, Porto Rico, filho de um caminhoneiro e de uma professora, antes de assumir o nome artístico Bad Bunny, “era apenas um rapaz latino-americano” (viva Belchior!) chamado Benito Antonio Martínez Ocasio. Trabalhou em supermercado enquanto produzia músicas de forma independente. Sua formação artística ocorreu no atrito entre periferia, observação social e sensibilidade rara para linguagem, ritmo e imagem.
Antes de ser popstar, foi cronista de sua geração. Recusou traduções convenientes, rejeitou padrões de masculinidade impostos, posicionou-se politicamente quando o silêncio seria mais lucrativo. Sua obra alterna celebração e denúncia, prazer e memória, crítica social e imaginação radical.
Força da natureza
É nesse ponto que a análise se torna experiência vivida. Assisti à apresentação em casa, ao lado de minha filha Lara, de 27 anos. Enquanto eu observava atento, ela cantava cada música, cada refrão, cada batida, com naturalidade absoluta. Perguntei-me, desconcertado: em que bolha musical eu vivi para não perceber a dimensão desse fenômeno? Longe de produto de marketing, Bad Bunny revelou-se força da natureza: talento, voz, ritmo, dança e denúncia de um mundo que insiste em tratar os diferentes como sub-humanos.
Mergulhei então nas músicas e nas mensagens — urgentes, necessárias — como celebração concreta de um outro mundo possível.
Um mundo sem dessemelhantes. Um mundo onde somos, simplesmente, humanos.
Bad Bunny não fez um discurso. Fez algo mais perigoso: apresentou uma visão de mundo sem pedir autorização. No centro do império midiático, mostrou que a América é maior, mais complexa e mais humana do que o mapa estreito que o poder insiste em desenhar.
O mundo que cabe num celular é o mesmo que desaparece num assalto
Do bolso ao banco, tudo cabe no celular — e tudo pode ser levado. Do Reino Unido ao Brasil, cada tela roubada revela uma sociedade sem proteção digital
06 de fevereiro de 2026


Esta epidemia tecnológica, que começou discretamente nas esquinas de São Paulo e hoje se alastra como vírus digital em metrópoles de todos os continentes, tem um símbolo perverso: o telefone celular. O objeto que nos conecta ao mundo transformou-se no elo mais frágil entre o cidadão e o crime. Em Londres, por exemplo, 80 mil aparelhos foram roubados em 2024 — um a cada seis minutos — tornando a cidade o epicentro europeu de um fenômeno que mistura tecnologia, desatenção e redes criminosas internacionais.
O que antes era o furto ocasional de um distraído virou indústria. A capital britânica, que já inspirou Charles Dickens a retratar a miséria urbana e a esperteza dos pequenos ladrões, agora vê bandos mascarados, sobre bicicletas elétricas, arrancarem celulares das mãos de transeuntes atordoados. E, ao contrário dos tempos de Oliver Twist, os novos “artistas do furto” não trabalham para um Fagin de esquina, mas para redes globais que exportam lucros e impunidade.
A economia subterrânea do toque
As recentes operações da Scotland Yard revelaram que o roubo de celulares deixou de ser microcriminalidade e passou a operar em escala industrial. Um armazém próximo ao aeroporto de Heathrow guardava mil iPhones prontos para embarcar rumo a Hong Kong, disfarçados sob rótulos de “baterias”. Em outras palavras: o lixo tecnológico de um país vira ouro em outro. A cadeia criminosa vai do ladrão de bicicleta ao intermediário que compra o aparelho em lojas de segunda mão, até chegar ao exportador que despacha contêineres cheios de tecnologia roubada.
Os números impressionam. Desde o fim de 2024, cerca de 40 mil celulares saíram do Reino Unido com destino à China e à Argélia. Lá, cada aparelho de ponta, bloqueado no Ocidente, é desbloqueado com facilidade, pois as operadoras locais não aderem à lista internacional de dispositivos roubados. Resultado: um iPhone furtado em Londres por £300 pode ser revendido por US$ 5.000 em Xangai. Uma engenharia perfeita entre brechas tecnológicas e fronteiras complacentes.
Há, porém, um agravante: o celular é hoje o cofre da vida financeira. Com ele, acessamos bancos, investimentos, chaves Pix, carteiras digitais, tokens e assinaturas eletrônicas. Quando o aparelho cai nas mãos erradas, não se perde apenas um item caro: abre-se uma porta para o roubo de identidade, transferências-relâmpago, empréstimos fraudulentos e sequestro de contas por engenharia social. O crime salta do valor do hardware para o saque invisível do patrimônio pessoal — em minutos.
Cortes, descuidos e a anatomia da impunidade
O colapso da segurança pública britânica tem endereço político. Na década de 2010, sucessivos governos conservadores cortaram orçamentos e reduziram o número de policiais nas ruas. Em 2017, a própria corporação anunciou que não investigaria “crimes de baixo impacto”. O sinal foi dado: pequenos delinquentes descobriram que podiam agir com liberdade. E agiram. De 64 mil roubos em 2023, o número saltou para 80 mil no ano seguinte. Apenas 495 casos resultaram em prisão ou confissão. Um índice de punição de 0,5% — ou, em bom português, a certeza de que o crime compensa.
A crise também é estrutural: os ladrões não são apenas jovens de periferia, mas parte de um ecossistema que inclui comerciantes, despachantes, falsificadores e hackers. É a globalização da delinquência em sua versão 5G — veloz, articulada e difícil de rastrear.
Bicicletas elétricas, balaclavas
Em cena, a cidade se tornou palco de uma coreografia de alta velocidade. Os ladrões sobem nas calçadas com bicicletas elétricas alugadas, escondem o rosto sob capuzes e, em segundos, arrancam das mãos um bem que concentra vida, dados, afetos, identidade e — agora — patrimônio financeiro. O policial que tenta persegui-los enfrenta o dilema contemporâneo: arriscar vidas por um aparelho de mil libras?
“Vale o risco?”, perguntam-se as autoridades, enquanto os números continuam a subir.
A estética do crime mudou. O assalto deixou de ser o ato brusco do revólver para ser o gesto rápido de um dedo que arrasta, uma bike que avança, uma cidade que assiste. O celular tornou-se o ponto fraco mais exposto da rotina. Perdê-lo é perder o centro de uma existência digital: fotos, senhas, conversas, trajetórias e o dinheiro que circula por aplicativos.
Do Itaim Bibi ao Plano Piloto: o retrato brasileiro
No Brasil, o problema assumiu contornos trágicos recentes. Em São Paulo, o ciclista e empresário Vitor Felisberto Medrado, de 46 anos, foi morto em 13 de fevereiro de 2025, em frente ao Parque do Povo, no Itaim Bibi, quando dois homens em uma moto o abordaram durante um assalto e levaram o celular. O caso gerou comoção e, meses depois, o Ministério Público denunciou dois suspeitos por latrocínio; a polícia atribuiu o crime a uma quadrilha especializada que também receptava e revendia aparelhos.
Na capital federal, a violência atingiu uma comunidade inteira. Em 17 de outubro de 2025, o estudante Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes, 16 anos, foi esfaqueado na entrequadra 112/113 Sul, enquanto jogava vôlei com amigos, após o grupo ser abordado e ter celulares levados. Isaac correu para tentar recuperar o aparelho e recebeu um golpe fatal no tórax. Adolescentes foram apreendidos e o caso, classificado como latrocínio, desencadeou vigílias, protestos e um velório comovente.
A fotografia do momento dispensa metáforas: São Paulo registrou 146,2 mil roubos e furtos de celulares entre janeiro e agosto de 2025, segundo dados oficiais da SSP-SP consolidados pela imprensa — uma média de um aparelho levado a cada três minutos.
As delegacias se enchem de vítimas, enquanto aplicativos de rastreamento — Find My iPhone, Google Find My Device — ajudam a mapear rotas de fuga, sem devolver a sensação de segurança. De cada dez amigos próximos, quatro tiveram seus aparelhos roubados nos últimos dezoito meses. E não faltam relatos de pessoas que, após o assalto, viram contas esvaziadas e perfis sequestrados por golpes que combinam credenciais salvas, SMS interceptado e engenharia social com dados vazados.
A pedagogia do descuido
Há algo de trágico na imagem cotidiana dos pedestres caminhando com os olhos colados à tela. Somos a sociedade que desaprendeu a checar o entorno. O criminólogo Lawrence Sherman, da Universidade de Cambridge, condensa a contradição: “Você não contaria seu dinheiro andando na rua. Por que, então, caminha exibindo um telefone de mil libras?”.
A resposta é simples e incômoda: o celular deixou de ser só objeto. É extensão de quem se é — agenda, documentos, chaves bancárias, memórias.
E assim seguimos, de São Paulo a Londres, de Nova York a Argel, tentando equilibrar-nos entre a necessidade de conexão e o medo da perda. Entre a promessa de proteção dos aplicativos e a realidade das esquinas onde o crime se profissionalizou.
No fim, o que essa epidemia tecnológica revela é mais do que um problema policial. É um retrato de época. Vivemos cercados de dispositivos inteligentes, mas distraídos demais para perceber o que realmente se perde: tempo, atenção, presença — e, cada vez mais, dinheiro.
Roubaram-nos o celular — e, junto com ele, o controle sobre a vida digital. O crime do século XXI não está apenas nas ruas: está na crescente distância entre o que somos e o que fingimos ser atrás de uma tela.
https://www.brasil247.com/blog/o-mundo-que-cabe-num-celular-e-o-mesmo-que-desaparece-num-assalto
Entre o slogan e os dados: por que o agro está longe de ser tudo
A força econômica do agronegócio contrasta com sua dependência do Estado, subsídios recordes e baixa contrapartida social
05 de fevereiro de 2026


Li com atenção o artigo “O Agro é POP, o Agro Tech, Agro é tudo (as polêmicas que envolvem o agronegócio do Brasil)”, do mineiro Renato S. Borges, publicado em fevereiro de 2026. Leio-o não como panfleto ideológico, mas como um exercício raro de franqueza num debate frequentemente capturado pela publicidade e por estatísticas lançadas sem contexto. O texto de Borges cumpre o papel incômodo de desmontar a narrativa dominante segundo a qual o agronegócio brasileiro prospera essencialmente por eficiência própria, espírito empreendedor e plena inserção no mercado.
É inegável que o agro ocupa posição central na economia nacional, respondendo por algo entre 23% e 29% do PIB, a depender da metodologia. O problema começa quando esse número vira salvo-conduto moral.
O que se omite é que esse protagonismo está alicerçado numa engrenagem profundamente dependente do Estado brasileiro. Banco do Brasil, BNDES, fundos constitucionais e o Plano Safra formam um sistema em que o risco é socializado e o retorno permanece concentrado. Na safra 2025/2026, o Plano Safra destinado à agricultura empresarial alcançou R$ 516,2 bilhões, o maior volume da história, com quase 90% dos recursos direcionados à agricultura de grande escala.
A equalização de juros escancara essa assimetria estrutural. Enquanto a taxa Selic permanece em torno de 15% ao ano, produtores acessam crédito com juros fixos entre 3% e 10%, diferença assumida diretamente pelo Tesouro Nacional. Apenas na última safra, esse mecanismo custou aproximadamente R$ 13,5 bilhões aos cofres públicos.
Não se trata de incentivo pontual, mas de política recorrente. A comparação é eloquente: um cidadão comum que financia um automóvel paga juros anuais superiores a 20%; um produtor rural, financiando o mesmo bem por linhas oficiais, paga algo próximo de 6% ao ano. A economia é significativa — e a conta, coletiva.
O passivo não termina aí.
A carteira agro do Banco do Brasil enfrenta deterioração relevante, com crescimento expressivo da inadimplência e, sobretudo, do custo do crédito, que já projeta valores na casa de R$ 60 bilhões em provisões e perdas potenciais. A distinção é técnica, mas o efeito é o mesmo: quando o risco se materializa, o impacto recai sobre um banco público e, por consequência, sobre o Tesouro Nacional. A história recente ensina quem paga essa conta. Foi assim nas décadas de 1980 e 1990, quando o banco precisou ser capitalizado com dívida pública.
Não há heroísmo nesse arranjo. Há transferência regressiva de renda.
No plano produtivo, outra fissura se impõe. O agro brasileiro produz majoritariamente commodities, não alimentos voltados prioritariamente ao mercado interno. Em 2025, o país colheu cerca de 55 milhões de sacas de café, exportando aproximadamente 40 milhões — justamente as de melhor qualidade. A soja seguiu lógica semelhante: a produção ultrapassou 166 milhões de toneladas, com exportações na casa de 100 milhões de toneladas, destinadas sobretudo à ração animal no exterior. Carnes nobres deixam o país enquanto se tornam inacessíveis para parcelas crescentes da população. O Brasil saiu do Mapa da Fome em 2025, mas isso ocorreu por políticas de renda e proteção social, não pela lógica distributiva do agronegócio.
Há ainda aspectos sistematicamente silenciados.
Multas ambientais tratadas como custo operacional, estoques bilionários de autuações não quitadas, resistência histórica à rastreabilidade da produção e à transparência fundiária.
Soma-se a isso a oposição recorrente a normas de proteção ambiental e às leis trabalhistas, como se direitos sociais e preservação fossem entraves, e não pilares de uma economia minimamente sustentável e civilizada.
A evolução recente do Plano Safra ilumina uma contradição política eloquente. Em 2019/2020, o volume girava em torno de R$ 225,6 bilhões. Em 2020/2021, passou para R$ 236,3 bilhões; em 2021/2022, alcançou R$ 251,2 bilhões. A inflexão ocorre a partir de 2023/2024, quando o montante salta para R$ 364,2 bilhões. Em 2024/2025, o Plano Safra total atingiu R$ 475,5 bilhões, culminando agora nos R$ 516,2 bilhões da safra 2025/2026. Paradoxalmente, foi sob governos progressistas — tão combatidos no discurso por parte do empresariado rural — que o agronegócio recebeu o maior volume de crédito, subsídios e proteção institucional de sua história recente.
Esse paradoxo revela algo ainda mais incômodo: o slogan “o agro é pop, é tech, é tudo” já não se sustenta diante de uma leitura honesta da realidade social brasileira. Vamos lá:
O agro não é pop porque não dialoga com o cotidiano da maioria da população, que enfrenta alimentos caros e insegurança alimentar persistente. É tech apenas para poucos, concentrando tecnologia, crédito e inovação em grandes conglomerados.
E está a galáxias de distância de ser tudo, porque depende estruturalmente do Estado, amplia desigualdades, pressiona o meio ambiente e oferece contrapartidas insuficientes a uma sociedade que o financia, o sustenta e já não aceita slogans publicitários como substitutos da verdade.
https://www.brasil247.com/blog/entre-o-slogan-e-os-dados-por-que-o-agro-esta-longe-de-ser-tudo
Quando o slogan cai: o mito do agro pop, tech e tudo
Crédito público recorde, subsídios permanentes e impactos sociais ocultos revelam um agronegócio distante do Brasil real, apesar da propaganda que o apresenta como motor absoluto do país
05 de ffevereiro de 2026


Li com atenção o artigo “O Agro é POP, o Agro Tech, Agro é tudo (as polêmicas que envolvem o agronegócio do Brasil)”, do mineiro Renato S. Borges, publicado em fevereiro de 2026. Leio-o não como panfleto ideológico, mas como um exercício raro de franqueza num debate frequentemente capturado pela publicidade e por estatísticas lançadas sem contexto. O texto de Borges cumpre o papel incômodo de desmontar a narrativa dominante segundo a qual o agronegócio brasileiro prospera essencialmente por eficiência própria, espírito empreendedor e plena inserção no mercado.
É inegável que o agro ocupa posição central na economia nacional, respondendo por algo entre 23% e 29% do PIB, a depender da metodologia. O problema começa quando esse número vira salvo-conduto moral.
O que se omite é que esse protagonismo está alicerçado numa engrenagem profundamente dependente do Estado brasileiro. Banco do Brasil, BNDES, fundos constitucionais e o Plano Safra formam um sistema em que o risco é socializado e o retorno permanece concentrado. Na safra 2025/2026, o Plano Safra destinado à agricultura empresarial alcançou R$ 516,2 bilhões, o maior volume da história, com quase 90% dos recursos direcionados à agricultura de grande escala.
A equalização de juros escancara essa assimetria estrutural. Enquanto a taxa Selic permanece em torno de 15% ao ano, produtores acessam crédito com juros fixos entre 3% e 10%, diferença assumida diretamente pelo Tesouro Nacional. Apenas na última safra, esse mecanismo custou aproximadamente R$ 13,5 bilhões aos cofres públicos.
Não se trata de incentivo pontual, mas de política recorrente. A comparação é eloquente: um cidadão comum que financia um automóvel paga juros anuais superiores a 20%; um produtor rural, financiando o mesmo bem por linhas oficiais, paga algo próximo de 6% ao ano. A economia é significativa — e a conta, coletiva.
O passivo não termina aí.
A carteira agro do Banco do Brasil enfrenta deterioração relevante, com crescimento expressivo da inadimplência e, sobretudo, do custo do crédito, que já projeta valores na casa de R$ 60 bilhões em provisões e perdas potenciais. A distinção é técnica, mas o efeito é o mesmo: quando o risco se materializa, o impacto recai sobre um banco público e, por consequência, sobre o Tesouro Nacional. A história recente ensina quem paga essa conta. Foi assim nas décadas de 1980 e 1990, quando o banco precisou ser capitalizado com dívida pública.
Não há heroísmo nesse arranjo. Há transferência regressiva de renda.
No plano produtivo, outra fissura se impõe. O agro brasileiro produz majoritariamente commodities, não alimentos voltados prioritariamente ao mercado interno. Em 2025, o país colheu cerca de 55 milhões de sacas de café, exportando aproximadamente 40 milhões — justamente as de melhor qualidade. A soja seguiu lógica semelhante: a produção ultrapassou 166 milhões de toneladas, com exportações na casa de 100 milhões de toneladas, destinadas sobretudo à ração animal no exterior. Carnes nobres deixam o país enquanto se tornam inacessíveis para parcelas crescentes da população. O Brasil saiu do Mapa da Fome em 2025, mas isso ocorreu por políticas de renda e proteção social, não pela lógica distributiva do agronegócio.
Há ainda aspectos sistematicamente silenciados.
Multas ambientais tratadas como custo operacional, estoques bilionários de autuações não quitadas, resistência histórica à rastreabilidade da produção e à transparência fundiária.
Soma-se a isso a oposição recorrente a normas de proteção ambiental e às leis trabalhistas, como se direitos sociais e preservação fossem entraves, e não pilares de uma economia minimamente sustentável e civilizada.
A evolução recente do Plano Safra ilumina uma contradição política eloquente. Em 2019/2020, o volume girava em torno de R$ 225,6 bilhões. Em 2020/2021, passou para R$ 236,3 bilhões; em 2021/2022, alcançou R$ 251,2 bilhões. A inflexão ocorre a partir de 2023/2024, quando o montante salta para R$ 364,2 bilhões. Em 2024/2025, o Plano Safra total atingiu R$ 475,5 bilhões, culminando agora nos R$ 516,2 bilhões da safra 2025/2026. Paradoxalmente, foi sob governos progressistas — tão combatidos no discurso por parte do empresariado rural — que o agronegócio recebeu o maior volume de crédito, subsídios e proteção institucional de sua história recente.
Esse paradoxo revela algo ainda mais incômodo: o slogan “o agro é pop, é tech, é tudo” já não se sustenta diante de uma leitura honesta da realidade social brasileira. Vamos lá:
O agro não é pop porque não dialoga com o cotidiano da maioria da população, que enfrenta alimentos caros e insegurança alimentar persistente. É tech apenas para poucos, concentrando tecnologia, crédito e inovação em grandes conglomerados.
E está a galáxias de distância de ser tudo, porque depende estruturalmente do Estado, amplia desigualdades, pressiona o meio ambiente e oferece contrapartidas insuficientes a uma sociedade que o financia, o sustenta e já não aceita slogans publicitários como substitutos da verdade.
https://revistaforum.com.br/opiniao/quando-o-slogan-cai-o-mito-do-agro-pop-tech-e-tudo/
Bruce Springsteen reage à violência migratória nos EUA
Duas mortes causadas por agentes migratórios em Minneapolis levam Bruce Springsteen a transformar fatos, nomes e datas em canção política
30 de janeiro de 2026


Minneapolis deixou de ser apenas um endereço urbano e passou a nomear um capítulo sombrio da política migratória dos Estados Unidos. Em janeiro de 2026, duas mortes provocadas por agentes federais de imigração expuseram, em sequência, o grau de violência institucional que marca a nova ofensiva do governo Trump.
Poucos dias depois, Bruce Springsteen respondeu como sabe fazer: transformando fatos em canção, denúncia e memória pública.
No dia 7 de janeiro, Renee Good, 37 anos, mãe de três filhos, foi morta por um agente do ICE quando tentava deixar uma rua residencial com seu carro. Imagens analisadas posteriormente mostraram que ela não representava ameaça iminente. Em 25 de janeiro, Alex Pretti, também de 37 anos, enfermeiro de UTI, foi morto durante uma operação migratória. Pretti portava legalmente uma arma, mas já havia sido desarmado quando os agentes atiraram.
Os dois episódios desencadearam protestos em Minneapolis, com moradores filmando abordagens, usando apitos para alertar vizinhos e denunciando uma política que passou a tratar civis como alvos.
É desse chão concreto que nasce “Streets of Minneapolis”. “Their claim was self-defense, sir / Just don’t believe your eyes” (“A alegação deles foi legítima defesa, senhor / Só não acredite no que seus olhos veem”), canta Springsteen, desmontando a versão oficial apresentada pela Casa Branca. Em outro trecho, a letra sintetiza o conflito contemporâneo: “It’s our blood and bones / And these whistles and phones” (“É o nosso sangue e nossos ossos / E esses apitos e celulares”).
A canção opõe o aparato armado do Estado a corpos vulneráveis que tentam sobreviver registrando provas. Isto é arte e reação cidadã.
Springsteen vai além da metáfora. Cita Stephen Miller e Kristi Noem, figuras centrais da política migratória trumpista, a quem atribui “mentiras sujas”. Chama Donald Trump de “rei”, cercado por um “exército privado”. Não há ambiguidade poética: há acusação direta, consciente de que a disputa política hoje se dá também na arena cultural.
O gesto dialoga com um marco anterior de sua carreira. Em 11 de fevereiro de 1994, Springsteen lançou “Streets of Philadelphia”, tema do filme Philadelphia, de Jonathan Demme, protagonizado por Tom Hanks e Denzel Washington. À época, a música ajudou a romper o silêncio em torno da epidemia de HIV/Aids. O impacto foi mensurável: Top 10 da Billboard Hot 100, Oscar de Melhor Canção Original em 1994 e Grammy de Canção do Ano em 1995. Rádio, MTV, vendas físicas e premiações funcionaram como indicadores objetivos de um alcance que ultrapassou o cinema e entrou no debate público.
Há, porém, uma diferença decisiva:
Se “Streets of Philadelphia” traduziu uma dor social ainda marcada pelo silêncio e pelo estigma, “Streets of Minneapolis” recusa o recolhimento. Exige testemunhas imediatas, convoca a exposição pública e assume que, na era dos celulares e das redes, a memória é um campo de batalha.
Nascido em 23 de setembro de 1949, em Long Branch, Nova Jersey, Bruce Springsteen construiu uma obra atravessada pela crítica social. Autor de clássicos como “Born to Run”, “The River”, “Dancing in the Dark” e “Born in the U.S.A.”, costuma dizer que “a música é o lugar onde a verdade ainda pode respirar”. Ao longo de cinco décadas, Bruce Springsteen transformou canções em arquivos morais dos Estados Unidos.
“Streets of Minneapolis” talvez nunca seja medida por Oscars ou Grammys.
Seu impacto será aferido por outros critérios: circulação nas redes, presença em protestos, reações oficiais e tentativas de silenciamento. Como em outros momentos decisivos, Springsteen lembra que há horas em que a arte não serve para consolar.
Serve para acusar, registrar — e impedir que o esquecimento se imponha. Não é à toa que há muito tempo sabemos do papel fundamental que a classe artística tem como aquilo que são: antenas da raça.
https://www.brasil247.com/blog/bruce-springsteen-reage-a-violencia-migratoria-nos-eua
O dia em que a comentarista rompeu o silêncio na GloboNews
Defender o lugar de fala da mulher jornalista é proteger o jornalismo da falsa neutralidade que desconsidera poder, contexto, desigualdade e a realidade cotidiana vivida por muitas
29 de janeiro de 2026


Amotivação para este texto não nasceu de uma pauta editorial nem de uma urgência noticiosa. Nasceu de um incômodo tardio — e, por isso mesmo, imperdoável. Um aluno de jornalismo pediu-me que refletisse sobre duas falas de comentaristas exibidas na GloboNews, ocorridas em novembro de 2024. O episódio havia passado quase despercebido por mim, soterrado pelo excesso de ruído informativo que caracteriza nosso tempo. O pedido ficou em suspenso. O vídeo também. Até que hoje, ao revê-lo com atenção, tornou-se impossível ignorar o que ali estava exposto. Alguns temas não envelhecem; apenas aguardam que alguém assuma a responsabilidade de encará-los.
O momento em que Sandra Coutinho e Demétrio Magnoli se confrontam ao vivo não é um episódio menor da televisão opinativa. É um retrato fiel — e desconfortável — das fissuras que atravessam o debate público contemporâneo quando gênero, autoridade intelectual e experiência de vida colidem sem mediação possível.
Sandra inicia sua argumentação a partir da observação empírica e da vivência direta. “As pessoas têm vergonha de dizer que são misóginas, sabe?”, afirma, antes de detalhar que acompanhou relatos na Geórgia e na Carolina do Norte de eleitores que “não querem uma mulher na presidência”. O ponto não é retórico. É factual. É escutado no mundo real. E é daí que ela afirma: “Desculpa, mas nesse assunto, eu sei que pauta identitária, ninguém mais tem paciência, mas quem tem lugar de fala sou eu”.
A frase não é um veto. É uma reivindicação. Mas é recebida como interdição.
Magnoli reage de imediato. “Não, não, não! Eu também tenho lugar de fala”, diz, deslocando o debate para o campo profissional. “Eu tenho lugar de fala também porque eu sou um analista político”. Para ele, o critério não é gênero, mas método. “Eu analiso o voto de todos os setores do eleitorado em qualquer país. É uma coisa real! Isso é uma questão profissional, Sandra”.
O diálogo, porém, já não é mais linear. As falas se atropelam porque partem de pressupostos inconciliáveis naquele instante. Sandra insiste: “O caminho pras mulheres é mais difícil. É mais difícil, é mais difícil…”. Magnoli responde no mesmo tom: “Se você diz que eu não posso analisar o comportamento de parte do eleitorado mesmo naquele país, você está proibindo que eu exerça a minha profissão”.
É nesse ponto que o conflito muda de natureza. Sandra não recua, mas corrige o enquadramento: “Não foi isso que eu disse. De jeito nenhum!”. Ela reivindica o direito de explicar sua posição e introduz o elemento central de sua argumentação: “A minha experiência de vida me mostra que é mais difícil a gente conseguir o que quer que seja pelo fato de ser mulher”.
A tensão aumenta quando a jornalista amplia o foco das chamadas pautas identitárias. “Eu acho que as pautas identitárias hoje, que cresceram muito, com razão absoluta, são racismo, LGBTQIA+fobia, mas a questão feminina não está resolvida, Demétrio”. E traz o dado incômodo: “As mulheres continuam ganhando trinta por cento a menos do que os homens em mesmas funções”.
Nesse instante, o debate deixa de ser apenas conceitual. Torna-se performativo. Sandra acusa: “Você tá me interrompendo, você tá fazendo uma coisa feia que chama mansplaining. Deixa eu terminar de falar”. E acrescenta algo ainda mais delicado: “Eu acho, inclusive, que é feio você rir debochadamente. Eu não faço isso com você. Eu tenho respeito pela sua opinião”.
Magnoli não aceita o enquadramento. Sua reação é típica de quem se sente deslocado do campo da legitimidade discursiva. Para ele, a acusação de mansplaining transforma o debate em tribunal simbólico. Sandra, por sua vez, tenta reduzir a temperatura e faz uma inflexão: “Eu fiz uma brincadeira sobre o lugar de fala”. Mas imediatamente alerta: “É importante entender que isso não se trata de mi-mi-mi”.
O que ela tenta afirmar, com insistência, é que reduzir fenômenos eleitorais complexos apenas à variável econômica empobrece a análise. “Muita gente fala que ‘ah, é a questão econômica’, mas a questão também conta. Conta o fato de ela ser mulher”, diz, referindo-se ao contexto político dos Estados Unidos, onde resistências culturais profundas ainda moldam o comportamento eleitoral.
O que emerge com clareza, ao fim do embate, é que Sandra Coutinho fala com a voz da razão e da realidade. Sua argumentação não nasce de ressentimento nem de retórica identitária vazia, mas de um pensamento cristalino, ancorado em fatos históricos, dados objetivos e experiência concreta. Ao insistir que a desigualdade de gênero permanece aberta — nos salários, no acesso ao poder, no julgamento simbólico das mulheres — ela não dramatiza: nomeia uma injustiça estrutural.
Já as falas de Demétrio Magnoli revelam-se fora de foco e eticamente rarefeitas. Ao transformar uma denúncia concreta de desigualdade em defesa abstrata do próprio método, abandona o problema real. A discriminação não desapareceu; sofisticou-se. Quando isso ocorre ao vivo, não é opinião: é falha jornalística.
https://revistaforum.com.br/opiniao/o-dia-em-que-a-comentarista-rompeu-o-silencio-na-globonews/
O tempo depois da mãe
Ao longo de dez anos, perdas familiares sucessivas transformam o tempo em camadas de luto, sobrepostas com delicadeza, fragilidade e a persistência de seguir vivendo
26 de janeiro de 2026


Hoje, minha mente gostaria de falar de outras urgências. Gostaria de se ocupar da situação dos direitos humanos no Irã, de refletir sobre o que deve estar guardado nos celulares apreendidos no rumoroso caso do Banco Master, de seguir o fluxo natural do jornalismo, onde a razão organiza o mundo em fatos, dados e responsabilidades. Mas meu coração quer falar de outra coisa. Algo mais antigo, mais íntimo e, talvez por isso mesmo, mais urgente. Hoje, ele insiste em falar da minha mãe.
Janeiro não é apenas um mês. É um estado do tempo. Há janeiros que não passam; permanecem como uma dobra invisível no calendário da vida. Foi em janeiro de 2016 que minha mãe morreu, e desde então todo começo de ano traz consigo essa sensação de desalinho interior, como se o mundo continuasse girando com precisão matemática enquanto algo em mim permanecesse atento, à escuta do que não retorna. O tempo cumpre seu ritual, mas não nos pede licença para avançar.
Nascemos, somos nutridos, partimos — e ficamos. Essa sequência simples, quase biológica, contém uma filosofia inteira da existência. Minha mãe partiu, mas ficou. Ficou no modo como organizo o silêncio, na forma cuidadosa de amar, na vigilância afetiva que herdei sem perceber.
Sentimos falta do som das pessoas que amamos; muitas vezes, é a primeira coisa que perdemos. A voz, o chamado, o “chegou bem?”. Chamamos para que voltem, mesmo sabendo que certas presenças não retornam ao mundo — apenas se instalam dentro de nós.
O luto pela mãe é um abalo profundo nas placas tectônicas do nosso universo interior. Nada permanece na mesma órbita.
Ao longo desses dez anos, os lutos foram se acumulando lentamente, quase sem trégua: primeiro meu pai, depois dois irmãos, depois minha única irmã. Tudo nesse breve espaço de 10 anos. Não foi uma queda súbita, mas um processo contínuo de desgaste afetivo. Para quem se comoveu com Éramos Seis, talvez seja possível imaginar essas perdas como camadas finíssimas depositadas sobre uma alma cuja principal característica sempre foi a leveza — e, por isso mesmo, a fragilidade. Se minha história fosse romance, chamar-se-ia Éramos Oito. Neste ano, somos apenas três. Existem ausências que impõem sua presença, como se a vida, em sua pedagogia severa, nos obrigasse a aprender a seguir.
Minha mãe tinha 78 anos. Esse é o dado objetivo, tem tintura jornalística.
O que não cabe nos números é que ela tinha a idade do mundo. Com meu pai, construiu algo raro e silencioso: uma família sem espetáculo, sem encenação de felicidade. Uso o verbo “partiu” com cuidado. Partir sugere ausência definitiva, quando, na verdade, ela apenas mudou de lugar dentro de mim — como quem atravessa um cômodo invisível da casa e passa a morar onde a luz não falha, em nossos corações.
Dez primaveras que renascem, dez verões que incendeiam, dez outonos que desfolham, dez invernos que nos fecham em silêncio. Não é só geometria celeste: são dez anos que passam, levando juventudes, trazendo rugas, mudando cidades, governos, amores.
O calendário gira, impiedoso, e o que era promessa se transforma em memória. O tempo não negocia; ele apenas avança.
Hoje faz dez anos que minha mãe morreu. A saudade não diminuiu — amadureceu. Tornou-se mais silenciosa, mais funda, mais estrutural. Já não grita; sustenta. É ela que orienta meus afetos, que dá espessura às escolhas, que me lembra da urgência de amar enquanto é possível.
Posso escrever sobre paz e guerras, escândalos e crises institucionais. Falo, e falarei. Mas hoje, o que verdadeiramente importa é isso: a idade do tempo não se mede em anos, e sim na ausência que aprendemos a carregar sem deixar de viver.
Rio domesticado em janeiro
O crescimento do turismo internacional expõe o Brasil ao desejo global, mas também revela o risco de reduzir cultura viva a estética exportável
25 de janeiro de 2026


Caminhar pelo Rio de Janeiro no início de 2026 é atravessar uma cidade que passou a ser observada como objeto. Idiomas se misturam nas calçadas, câmeras se erguem como extensões naturais do olhar estrangeiro e a paisagem parece confirmada por uma expectativa prévia.
Não se trata de descoberta, mas de reconhecimento: o mundo vê no Rio aquilo que já decidiu ver.
Os números ajudam a dimensionar esse movimento. Em 2025, o Brasil recebeu cerca de 6,9 milhões de turistas internacionais, crescimento superior a 8% em relação ao ano anterior. O Rio concentrou parte significativa desse fluxo, impulsionado por eventos culturais, retomada de voos e forte exposição internacional. O turismo injetou aproximadamente US$ 7 bilhões na economia nacional, gerando empregos diretos e indiretos. Os dados são celebrados, mas silenciam outra contabilidade: a simbólica.
Chamaram esse fenômeno de Brasilcore. Um rótulo elegante para um processo antigo. Não é a cultura brasileira que se internacionaliza espontaneamente; é o olhar externo que seleciona, recorta e devolve uma imagem tratada, sem arestas. O que circula são cores, corpos, festas e paisagens.
O que fica fora do enquadramento é o conflito, a desigualdade, o trabalho invisível e a história que sustenta essa aparência de leveza contínua.
O Rio não virou moda. Foi enquadrado.
A cidade passa a existir como linguagem publicitária, ajustada para não incomodar. Samba sem tensão vira trilha sonora. Carnaval sem política vira espetáculo exótico. Favela sem história vira pano de fundo. A cultura permanece reconhecível na forma, mas esvaziada no conteúdo.
Se João do Rio (1881–1921) caminhasse hoje por essas mesmas ruas, talvez repetisse, com outra inflexão, que “a rua é o elemento vital da cidade”, mas notaria que ela passou a ser também vitrine. O cronista que enxergava alma nos becos, febre nos carnavais e contradição nas multidões talvez se espantasse ao ver a rua convertida em experiência curada, filtrada, pronta para consumo. Aquele que escreveu que “as cidades têm nervos” perceberia que alguns deles foram anestesiados para não incomodar o visitante apressado. O Rio que João do Rio percorreu era excesso, choque, mistura indomável. O Rio de agora corre o risco de ser apenas circulação bonita, esvaziada de espanto — quando a rua deixa de narrar e passa apenas a exibir, algo essencial se perde no caminho.
A metáfora adequada não é a da vitrine, mas a do aquário. O mundo observa encantado os peixes coloridos, o movimento suave da água, a sensação de harmonia. O que não se vê são os filtros, os limites de vidro e o fato de que aquele ecossistema foi isolado do mar real. O aquário é belo justamente porque elimina o imprevisível. Cultura, quando perde imprevisibilidade, deixa de ser vida e passa a ser ornamento.
Não se trata de rejeitar o turismo nem de negar o intercâmbio cultural.
O problema começa quando o Rio aceita ser apenas aquário e abdica do oceano. Quando adapta sua linguagem para agradar, quando suaviza suas contradições para não assustar, quando transforma identidade em performance contínua. A economia agradece no curto prazo. A cultura cobra no longo.
O dilema do Rio não é ser visto, mas ser reduzido ao que não incomoda. Entre o aplauso externo e a erosão interna, a cidade corre o risco de trocar densidade por aceitação. Tendências passam. A perda simbólica permanece.
Cultura não é figurino nem cenário: é território, memória e conflito. Sem isso, o Rio deixa de ser narrativa e passa a ser apenas imagem — bonita, rentável e descartável.
Condenados pela cor da pele
Racismo estrutural explica por que desigualdades raciais persistem no Brasil moderno mesmo sem leis segregacionistas explícitas moldando oportunidades violência e silêncios cotidianos históricos
24 de janeiro de 2026


Há uma tentação recorrente — confortável e enganosa — de tratar o racismo no Brasil como exceção moral, desvio individual ou falha de caráter. Como se ele surgisse apenas quando alguém ofende, agride ou discrimina de modo explícito. Essa leitura é insuficiente.
O racismo brasileiro não é um acidente de percurso. Ele é método. É arquitetura. É estrutura e daquelas com muito cimento e muito ferro, com durabilidade a perder de vista. Infelizmente.
O conceito de racismo estrutural descreve um fenômeno mais profundo: trata-se de um sistema histórico, social, econômico e simbólico que organiza oportunidades, distribui vulnerabilidades e naturaliza desigualdades a partir da raça, mesmo quando ninguém “declara” ser racista.
Ele opera antes da intenção individual e sobrevive a ela.
No Brasil, o racismo não nasceu com o preconceito — nasceu com o projeto de país.
Desde a colonização, a sociedade brasileira foi desenhada sobre uma hierarquia racial rígida.
A escravidão não foi apenas um regime de trabalho forçado; foi uma pedagogia social. Durante mais de três séculos, o Estado, a Igreja, a economia e a cultura ensinaram — diariamente — quem mandava, quem obedecia, quem valia mais e quem podia ser descartado.
Quando a escravidão acabou formalmente, em 1888, nada foi feito para desmontar essa lógica. Libertaram-se corpos, mas preservaram-se as engrenagens.
Darcy Ribeiro (1922–1997) foi um dos intelectuais que melhor enxergaram esse impasse fundador. Em tom cortante, afirmava que “a marca mais profunda da sociedade brasileira é o racismo disfarçado, que se recusa a dizer seu nome enquanto organiza todas as desigualdades”.
Para Darcy, pessoa que tenho orgulho de ter privado da amizade por longos anos nos tempos em que conversávamos amiúde no Senado, o Brasil não fracassou por excesso de miscigenação, como repetiram elites racistas, mas por nunca ter assumido o dever histórico de integrar plenamente aqueles que construiu como subalternos.
O país aboliu a escravidão sem reforma agrária, sem políticas de integração, sem acesso à educação, sem proteção social. Ao mesmo tempo, incentivou a imigração europeia com o discurso explícito do “branqueamento” da população.
O recado era claro: negros estavam livres, mas não eram desejados.
Entendo que é essa a contradição que funda o racismo estrutural brasileiro — um sistema que exclui sem precisar declarar exclusão.
Existe algo mais perverso do que isso?
Com o passar do tempo, o racismo foi se tornando mais sofisticado. Saiu da lei e entrou nos costumes. Deixou de ser gritado e passou a ser sussurrado. Transformou-se em piada, em suspeita automática, em expectativa rebaixada, em estatística previsível.
Normalizou-se.
A literatura brasileira tem sido um dos raros espaços onde essa história ganha corpo, voz e memória. O romance Defeito de Cor, da escritora Ana Maria Gonçalves, é exemplar nesse sentido.
O livro narra a trajetória de Kehinde, mulher africana escravizada que atravessa o Atlântico, resiste à violência colonial, reconstrói laços, preserva memória e identidade, revelando a escravidão pelo olhar feminino, negro e insurgente, ausente da história oficial brasileira. Recomendo a leitura e, um tempo depois, a releitura.
A normalização do racismo estrutural é talvez sua face mais cruel. Ele se sustenta porque se apresenta como “ordem natural das coisas”.
Quando a maioria dos pobres é negra, isso vira “questão social”.
Quando a maioria dos mortos pela polícia é negra, vira “combate ao crime”.
Quando a maioria dos presos é negra, vira “mérito negativo”.
O sistema cria as condições e depois culpa as vítimas pelos resultados.
E esse mecanismo se reproduz de geração em geração não apenas pela herança econômica, mas pela herança simbólica. Crianças negras crescem vendo quem ocupa os lugares de poder, quem é tratado como suspeito, quem aparece nos livros, quem protagoniza as histórias, quem é silenciado. Aprendem cedo que precisam ser duas vezes melhores para chegar à metade. Crianças brancas, por sua vez, aprendem — muitas vezes sem perceber — que seu lugar é o centro, que sua presença é neutra, que seus erros são individuais, nunca coletivos.
O racismo estrutural não precisa de vilões caricatos. Ele funciona com pessoas “de bem”, instituições respeitáveis e discursos aparentemente técnicos. Uma rápida explicação: hoje pega muito mal usar a expressão “pessoa de bem”, porque essas assim rotuladas são exatamente os pigmeus éticos de nossos tempos.
Há momentos, porém, em que o racismo estrutural se revela de corpo inteiro, sem disfarce.
O primeiro deles está na abordagem policial. Jovens negros são parados, revistados, interrogados e mortos em proporções infinitamente superiores às de jovens brancos. Não porque cometem mais crimes, mas porque são vistos como ameaça antes de qualquer ação. O racismo aqui antecede o fato. O corpo negro é lido como risco. A farda apenas executa uma suspeita que a sociedade inteira já ensinou.
O segundo aparece no mercado de trabalho. Pessoas negras, mesmo com escolaridade equivalente, recebem salários menores, ocupam menos cargos de chefia e enfrentam mais barreiras para ascender. Quando chegam ao topo, são tratados como exceção, nunca como regra.
A competência do negro é sempre colocada sob suspeita; a do branco, presumida. Isso não é coincidência. É estrutura operando em silêncio.
O terceiro se impõe no sistema de justiça.
A cor da pele influencia quem é preso, quem aguarda julgamento em liberdade, quem recebe penas mais duras. Crimes semelhantes têm desfechos distintos conforme o réu.
O direito, que deveria ser cego, no Brasil enxerga — e enxerga muito bem. A toga não neutraliza a história; frequentemente a reproduz.
É nesse ponto que a reflexão ética precisa ir além da denúncia sociológica. O sábio persa ‘Abdu’l-Bahá (1844–1921) ofereceu uma metáfora de extraordinária potência simbólica: comparou as pessoas negras à pupila do olho — negra, central, essencial. É por ela que a luz entra. É nela que o mundo se reflete. Embora cercada pelo branco, a pupila é o centro da visão. Assim também a humanidade: sem reconhecer as pessoas negras como núcleo vital, espiritual e histórico, a sociedade perde a capacidade de enxergar a si mesma.
Não se trata de tolerar o outro, mas de entender que a diversidade humana é o que sustenta e dá sentido à nossa existência coletiva.
Tratar aqui nesse veículo de grande audiência em racismo estrutural, portanto, não é acusar indivíduos isolados, mas questionar uma engrenagem inteira. É compreender que boa vontade não basta, que neutralidade não existe e que silêncio é cumplicidade involuntária. É reconhecer que igualdade formal não corrige desigualdade histórica.
O Brasil só se tornará uma democracia plena quando encarar, sem rodeios, a verdade incômoda: o racismo não é um problema à margem da sociedade. Ele é um dos seus eixos centrais.
Reconhecê-lo não divide o país. O que divide — há séculos — é fingir que ele não existe.
https://revistaforum.com.br/opiniao/racismo-condenados-cor-da-pele/
Inferno astral do STF tem nome: Master
A sucessão de decisões no STF abre o Banco Master desloca o foco da investigação para a Corte
22 de janeiro de 2026


A liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central em 18 de novembro de 2025, deveria ter encerrado um capítulo sensível do sistema financeiro brasileiro. O que se seguiu, porém, foi a abertura de um processo muito mais amplo, com ramificações financeiras, institucionais e políticas que passaram a tensionar não apenas o mercado bancário, mas o próprio sistema de Justiça. A sequência de desdobramentos — que incluiu a posterior liquidação da REAG e do Will Bank, braço digital do mesmo conglomerado — transformou um episódio bancário em um teste de resistência das instituições.
Os números dão a dimensão do problema.
Estimativas consolidadas ao longo das investigações indicam que as operações envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB) superam R$ 12 bilhões, valor que expõe o grau de comprometimento entre o banco liquidado e uma instituição financeira pública. Além disso, projeções preliminares apontam que a quebra do Master pode gerar impactos da ordem de R$ 40 bilhões, com possível acionamento do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Não se trata de cifras abstratas: são recursos capazes de afetar a estabilidade do sistema financeiro e a confiança nos seus mecanismos de proteção.
Nesse contexto, o BRB deixa de ser coadjuvante e passa a ocupar posição central. A instituição manteve relações financeiras relevantes com o Banco Master, incluindo operações que colocaram seu então presidente, Paulo Henrique Costa, no núcleo das apurações.
A presença do BRB no caso não é acessória; ela conecta o escândalo ao setor público e amplia a responsabilidade institucional. Ignorá-la é reduzir o problema a uma falência privada, quando os fatos apontam para algo mais complexo.
As investigações da Polícia Federal, conduzidas no âmbito das operações Compliance e Compliance 2.0, avançaram sobre o coração probatório do caso. Foram apreendidos dezenas de celulares, computadores, documentos, dinheiro em espécie, veículos e registros eletrônicos.
É a partir desse material que se podem reconstituir fluxos financeiros, cadeias decisórias e eventuais ilícitos. Em processos dessa magnitude, a cadeia de custódia não é formalidade: é a espinha dorsal da credibilidade investigativa.
A partir do início de 2026, contudo, o caso passou a produzir efeitos diretos sobre o Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli, relator de procedimentos relacionados ao escândalo, assumiu protagonismo incomum na condução da apuração.
Suas decisões — da retirada inicial da custódia das provas da Polícia Federal, com repasse à Procuradoria-Geral da República, ao posterior recuo parcial; da determinação de acareação entre personagens centrais em fase considerada precoce; à nomeação direta de quatro peritos de sua escolha pessoal para analisar o conteúdo dos aparelhos apreendidos — passaram a ser observadas não apenas sob o prisma jurídico, mas também sob o impacto institucional que produziam.
O desconforto se intensificou com fatos ocorridos no entorno temporal da liquidação. Poucos dias antes da decisão do Banco Central, Toffoli realizou uma viagem a Lima, no Peru, entre 28 e 30 de novembro de 2025, para assistir à final da Copa Libertadores, em 29 de novembro. A viagem ocorreu em aeronave particular utilizada por empresários e contou com a presença de Augusto Paredes, advogado e sócio de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master naquele momento já submetido a severa pressão regulatória. O episódio ganhou relevância não pelo futebol, mas pela coincidência temporal e pelas relações diretas com o núcleo empresarial investigado.
Nas semanas seguintes, vieram à tona informações sobre relações financeiras envolvendo familiares do ministro e estruturas de investimento associadas ao Banco Master, incluindo aportes em um empreendimento turístico do tipo resort. Em entrevista pública, o senador Alessandro Vieira afirmou que o empreendimento seria, na prática, de propriedade do próprio Toffoli — declaração grave, feita de forma categórica, que ampliou a cobrança por esclarecimentos institucionais.
Até o momento, tais afirmações permanecem no campo do debate político e jornalístico, sem respostas proporcionais à sua gravidade.
Aqui, a filosofia deixa de ser capa de livro empoeirado e passa a cumprir uma função que o bom jornalismo reconhece bem: disciplinar a mente investigativa contra o autoengano do poder.
Platão não escreveu sobre abstrações etéreas, mas sobre mecanismos de defesa diante da luz. A alegoria da caverna descreve um padrão recorrente: quando a verdade ameaça a ordem, ela não é enfrentada — é administrada, relativizada ou deslocada. Para o jornalismo, essa lição é método: desconfiar das zonas de conforto institucionais, insistir no fato verificável, resistir às versões convenientes.
Nietzsche aprofunda essa intuição ao lembrar que a verdade exige força para não perder o controle do enredo. No exercício do poder, essa força é rara. A verdade cobra custos reais — reputacionais, institucionais, políticos — e, por isso, tende a ser contida por tecnicalidades, excepcionalidades procedimentais e rearranjos de competência que preservam a aparência de legalidade enquanto produzem opacidade.
O caso Banco Master tornou-se, assim, mais do que um escândalo financeiro. Ele inaugurou o inferno astral do STF em 2026, ao colocar a Corte no centro de uma narrativa em que decisões judiciais passaram a ser lidas também como gestos políticos. O risco é evidente: quando a Suprema Corte parece hesitar diante da verdade factual, não é apenas um processo que se fragiliza, mas a confiança pública na instituição.
Algo precisa ser feito — e com urgência.
O Supremo Tribunal Federal tem papel decisivo na consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil pós-2022. Preservar essa conquista exige transparência, previsibilidade e apego rigoroso aos ritos. Não para satisfazer críticos ocasionais, mas para proteger a própria Corte de um desgaste que não lhe convém nem lhe faz justiça.
Platão nos alertaria: está na hora de sair da caverna. Nietzsche, com seu desprezo característico, acrescentaria que isso exige uma coragem que poucos possuem. A Alegoria da Caverna permanece cruelmente atual — continuamos odiando quem nos arrasta para a luz do sol e preferindo as ilusões confortáveis que nos mantêm acorrentados.
A frase falsamente atribuída a Nietzsche apenas escancara o óbvio: somos, em nossa maioria, fracos demais para engolir a verdade sem o adoçante das mentiras. O problema maior é quando quem vende o adoçante das mentiras é o próprio Banco Master.
https://www.brasil247.com/blog/inferno-astral-do-stf-tem-nome-master
O tolo, o imbecil e a encruzilhada
O problema não é ignorância, é a recusa consciente dos fatos — organizada, ruidosa e politicamente funcional para sabotar políticas públicas e paralisar instituições
19 de janeiro de 2026


Você sabe diferenciar um tolo de um imbecil? A pergunta deixou de ser filosófica e passou a ser diagnóstica. Ela ajuda a explicar por que sociedades informadas tomam decisões ruins, por que governos insistem em políticas fracassadas e por que o mundo repete erros já amplamente documentados.
Não vivemos uma crise de conhecimento. Vivemos uma crise de disposição para aprender. E viver no modo aprendizagem é a mais urgente necessidade do mundo atual.
O tolo erra porque não sabe. Falta-lhe contexto, método ou experiência. Ele tropeça, cai, identifica a causa da queda e se levanta. Aprende com o impacto e ajusta o passo. Esse movimento — errar, corrigir, avançar — sustenta a história humana, a ciência, a política e o progresso institucional. O tolo não transforma o erro em identidade. Trata-o como algo provisório.
O imbecil opera em outra lógica. Ele também tropeça, mas, em vez de se levantar, se agarra à pedra que o derrubou. Examina-a, defende-a, justifica-a e passa a apresentá-la como fundamento. Permanece no chão por vontade própria. Levantar-se exigiria admitir que estava errado, e isso, para ele, é inaceitável. O erro deixa de ser circunstancial e vira convicção.
Essa distinção ajuda a compreender fenômenos contemporâneos que desafiam qualquer racionalidade mínima. A crença de que a Terra é plana persiste apesar de satélites, mapas digitais e imagens acessíveis em tempo real. O negacionismo vacinal sobrevive mesmo diante de décadas de pesquisas, estatísticas e milhões de vidas salvas. Não se trata de desconhecimento. Trata-se de apego emocional a narrativas refutadas. E isso tendo muito próximo de nós os horrores da pandemia do COVID que só foi eliminada graças a cooperação global na área de saúde e a criação de vacinas eficazes.
No campo geopolítico, a teimosia organizada produz efeitos ainda mais graves. Vemos ressurgir a ideia de que um país pode ser autossuficiente, isolado do mundo, ignorando cadeias produtivas globais, fluxos financeiros, crises sanitárias e mudanças climáticas.
O planeta é um corpo indivisível: se um membro adoece, o organismo inteiro sofre. Não há como fingir que uma infecção no dedo mindinho não afeta o corpo todo. Da mesma forma, uma crise em qualquer canto do mundo ressoa globalmente. Ignorar a interdependência é como ignorar um ferimento que pode gangrenar tudo.
O unilateralismo é vendido como virtude, quando na prática gera fragilidade, instabilidade e conflito.
Nada disso ocorre por falta de alertas. Eles existem, são públicos e reiterados. Relatórios econômicos, estudos científicos e experiências históricas demonstram os limites dessas fantasias. Ainda assim, líderes insistem nelas porque admitir complexidade exige abandonar slogans simples. E slogans rendem mais aplausos do que correções de rota.
O custo dessa escolha raramente recai sobre quem decide. Sistemas de saúde entram em colapso, economias se enfraquecem, conflitos se prolongam. O tolo, quando erra em posição de poder, ainda pode corrigir o caminho. O imbecil dobra a aposta. Confunde teimosia com firmeza e persistência no erro com coragem.
As plataformas digitais agravaram esse quadro. A recusa em aprender virou espetáculo. A convicção vazia ganhou palco, seguidores e engajamento. Permanecer caído passou a ser apresentado como resistência moral. O erro reiterado deixou de ser acidente e se transformou em método de mobilização política e social.
Distinguir tolice de imbecilidade deixou de ser exercício intelectual. Tornou-se necessidade institucional. Com o tolo, ainda há espaço para educação, diálogo e aprendizado. Com o imbecil, é preciso estabelecer limites claros, para que sua decisão consciente de permanecer no chão não paralise sociedades inteiras.
No fundo, a realidade impõe uma verdade inescapável: a Terra funciona como um único território interdependente, e a humanidade compartilha riscos, recursos e destinos. Negar isso não muda os fatos. Apenas adia soluções e amplia danos.
Ser tolo é humano e transitório. Ser imbecil é uma escolha reiterada.
O dilema do nosso tempo não é se vamos errar, mas se teremos coragem política, ética e intelectual de levantar — ou se continuaremos no chão, abraçados à pedra que já provou, inúmeras vezes, ser apenas um obstáculo.
https://revistaforum.com.br/opiniao/o-tolo-o-imbecil-e-a-encruzilhada/
Nobel não se entrega, se honra
Ao entregar sua medalha a Donald Trump, Maria Corina destrói o sentido do Nobel, afronta a Fundação sueca e reduz uma honra universal a gesto servil, vazio e humilhante
17 de janeiro de 2026


Desde 1901, quando o testamento de Alfred Nobel instituiu os prêmios que levariam seu nome, a distinção consolidou-se como um pacto moral entre mérito comprovado e responsabilidade histórica. O Nobel nunca foi um objeto cerimonial desprovido de densidade ética. Ele carrega um compromisso público com a humanidade, com a ciência, com a cultura, com a paz. Por isso, o gesto de María Corina Machado ao entregar a medalha do Nobel da Paz a Donald Trump não pode ser tratado como deslize protocolar. Trata-se de uma fratura simbólica grave, que atinge o próprio sentido da honraria.
O episódio ocorreu na quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, durante um almoço privado na Casa Branca, marcado para as 12h30, horário de Washington. Não houve solenidade, nem declaração conjunta, nem anúncio político relevante. Trump não a recebeu à porta, não sinalizou apoio explícito a uma transição democrática na Venezuela e, após o encontro, limitou-se a agradecer a medalha em uma postagem lacônica nas redes sociais. O silêncio institucional foi ensurdecedor.
O contexto amplia o constrangimento. Àquela altura, a política externa americana reiterava interesses claros em petróleo e investimentos, enquanto interlocuções paralelas avançavam com figuras ligadas ao aparato estatal venezuelano. A democracia, outrora evocada como causa central, desapareceu do discurso. Nesse cenário, a medalha — objeto simbólico, pessoal e intransferível, cunhado com a efígie dourada de Alfred Nobel — foi convertida em gesto de deferência pessoal, quase em moeda de aproximação política.
Talvez Maria Corina imagine que medalhas históricas funcionem como cartões de visita: oferecem-se, sorri-se e aguarda-se retorno, ainda que à custa da dignidade e da história. Essa suposição, porém, colide frontalmente com tudo o que o Nobel representa. A honraria não é instrumento de persuasão, nem ornamento diplomático, muito menos prova de lealdade política.
Convém recordar como o Prêmio Nobel opera. Os comitês responsáveis — Academia Sueca, Instituto Karolinska e Comitê Norueguês — avaliam impacto mensurável, persistência histórica e legado verificável. O prêmio inclui medalha, diploma e um valor financeiro que, nos últimos anos, gira em torno de 11 milhões de coroas suecas, aproximadamente um milhão de dólares. Nada ali é casual. Tudo é deliberado, documentado e submetido a escrutínio rigoroso.
A história do Nobel registra recusas raríssimas, todas marcadas por densidade ética. Em 22 de outubro de 1964, Jean-Paul Sartre recusou o Nobel de Literatura por convicção. Explicou que sempre rejeitara distinções oficiais e temia que o prêmio transformasse o escritor em instituição. Anos depois, resumiu sua posição com clareza: “O escritor deve recusar-se a deixar-se transformar”. Ao dizer não, Sartre preservou o sentido do Nobel — não o esvaziou.
Em 16 de outubro de 1973, Lê Đức Thọ recusou o Nobel da Paz porque a guerra no Vietnã continuava. Sua frase atravessou décadas: “Enquanto não houver paz real no Vietnã, não posso aceitar o prêmio”. Foi um gesto de coerência histórica que expôs a distância entre acordos diplomáticos e a realidade concreta do conflito.
Em contraste, há exemplos de grandeza afirmativa. Marie Curie esteve em Estocolmo em 10 de dezembro de 1903, ao receber o Nobel de Física, e retornou em 10 de dezembro de 1911, quando recebeu o Nobel de Química — caso único na história. Em seus pronunciamentos, defendeu a ética do conhecimento e da responsabilidade científica: “Na vida, nada deve ser temido, apenas compreendido. Agora é hora de compreender mais, para que temamos menos”. Curie nunca tratou a medalha como símbolo de poder pessoal, mas como consequência de um trabalho que transformou para melhor a humanidade.
O mesmo ocorreu com Gabriel García Márquez, laureado em 10 de dezembro de 1982. Em sua conferência em Estocolmo, afirmou que a missão da literatura latino-americana era dar voz a realidades historicamente silenciadas e concluiu: “Diante da opressão, da pilhagem e do abandono, nossa resposta é a vida”. O Nobel, ali, foi reconhecimento coletivo, não moeda de troca individual.
É à luz dessa tradição que a atitude de Maria Corina precisa ser julgada com severidade. Em mais de um século de história, não há registro de um laureado que tenha tratado o Nobel com tamanha leviandade, desfazendo-se dele como gesto de submissão pessoal dias após recebê-lo. O ato não desrespeita apenas a Fundação Nobel; desrespeita todos os que compreenderam o peso simbólico da distinção.
A leitura política torna o quadro ainda mais duro. Enquanto se teatralizava a entrega da medalha naquele almoço de janeiro, decisões concretas seguiam outra lógica. Democracia não foi prioridade. Petróleo, sim. O gesto não produziu reciprocidade, não fortaleceu alianças e ainda isolou politicamente quem o praticou.
Machado de Assis, com sua ironia precisa, deixou a sentença que encerra este episódio: “A honra não consiste em recebê-los, mas em merecê-los; essa é a honra que fica”. Quando uma medalha que carrega a efígie de Alfred Nobel é lançada ao vazio, o que cai não é o ouro. É a compreensão do que seja honra — e isso não se recompõe.
https://revistaforum.com.br/opiniao/nobel-nao-se-entrega-se-honra/
O Brasil que insiste em ir de caminhão ao século XXI
A Transnordestina em movimento expõe o custo político e econômico de um país que adiou os trilhos, apostou no improviso rodoviário e perdeu competitividade
16 de janeiro de 2026


O Brasil vive de horizontes adiados. Sempre que uma crise obriga o país a olhar para os próprios pés, descobre-se parado no acostamento, esperando que as mesmas rodovias de sempre resolvam problemas que elas próprias criaram. É um país que insiste em correr para frente olhando apenas o retrovisor.
Na última semana de dezembro de 2025, porém, um fato concreto interrompeu esse velho automatismo. A Ferrovia Transnordestina realizou sua primeira viagem em operação comissionada, percorrendo 585 quilômetros entre o Piauí e o Ceará, com o transporte de uma carga de milho. Não houve cerimônia grandiloquente nem discursos inflados. Houve um trem em movimento — algo raro demais na história recente da infraestrutura brasileira para ser tratado como detalhe.
A Transnordestina Logística S.A., concessionária responsável pela obra e pela futura operação comercial, informou que a ferrovia foi concebida para transporte de cargas de alto desempenho. Quando plenamente autorizada, deverá escoar grãos, milho, soja, algodão, minérios, gesso, gipsita e contêineres, conectando áreas produtivas do interior nordestino aos portos e aos grandes corredores logísticos do país. Depois de anos simbolizando atraso, a Transnordestina começa, ainda que tardiamente, a simbolizar viabilidade.
O impacto potencial é expressivo. Estudos técnicos associados ao projeto indicam capacidade inicial para dezenas de milhões de toneladas por ano, com redução estimada de até 30% no custo logístico de produtos agrícolas e minerais do Nordeste. Estados historicamente penalizados pela distância dos portos passam a ganhar competitividade real. O efeito se propaga: menor custo de frete, maior margem ao produtor, estímulo à industrialização regional e geração de empregos diretos e indiretos ao longo da cadeia logística.
O significado desse teste vai além da carga transportada. Ele sinaliza que ferrovias não são abstrações nem promessas eleitorais: são infraestrutura concreta. Cada trem que entra em operação representa dezenas de caminhões a menos nas estradas, menos diesel queimado, menos acidentes, menos desgaste do asfalto e menor custo sistêmico para a economia. É logística funcionando como política pública silenciosa — daquelas que não rendem manchetes diárias, mas transformam territórios.
A dependência excessiva das rodovias ajuda a explicar por que esse movimento é tão relevante. A cada greve de caminhoneiros, o país reaprende que depende de um único modal — caro, frágil, vulnerável e estruturalmente insuficiente para uma economia continental. É como tentar mover um búfalo sobre pernas de galinha. Enquanto isso, os trilhos, que poderiam ter costurado o território como uma coluna vertebral moderna, foram sendo abandonados à margem do planejamento nacional.
Essa escolha não foi casual; foi política. Desde meados do século XX, o Brasil trocou projetos de Estado por soluções de governo, desmontando qualquer estratégia ferroviária de longo prazo em nome de ciclos curtos, inaugurações rápidas e alianças circunstanciais. Obras foram iniciadas sem continuidade, concessões mal desenhadas foram interrompidas, e a lógica do improviso venceu a do planejamento. O resultado é um país que transporta riquezas do século XXI sobre infraestrutura do século passado.
Em abril de 1854, o Barão de Mauá inaugurou a primeira ferrovia brasileira, ligando o porto de Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro. Eram pouco mais de 14 quilômetros, modestos na extensão, gigantescos no significado. Mauá compreendia algo essencial: ferrovias não são obras isoladas, mas sistemas estruturantes. Transformam território em economia e economia em integração nacional.
Ainda assim, o impulso inicial se perdeu. Em 1922, no centenário da Independência, o Brasil já possuía cerca de 29 mil quilômetros de ferrovias. Hoje, mais de um século depois, esse número mal ultrapassa os 30 mil. Crescemos em população, produção agrícola, exportações e ambição; em trilhos, permanecemos praticamente imóveis.
O contraste internacional é desconfortável. Os Estados Unidos operam quase 300 mil quilômetros de ferrovias. A China, que há quatro décadas ainda engatinhava na industrialização, ultrapassou os 120 mil quilômetros, muitos deles de alta velocidade. Não se trata apenas de volume, mas de visão estratégica: ambos compreenderam que logística é soberania econômica.
No Brasil, construir estradas custa caro; mantê-las custa ainda mais. Um quilômetro de rodovia pavimentada consome milhões de reais e exige manutenção constante. Não por acaso, mais de dois terços da malha pavimentada encontram-se em condição regular, ruim ou péssima, elevando em mais de 30% o custo do transporte de cargas. Persistir nesse modelo não é erro técnico; é decisão política reiterada.
As ferrovias, mesmo incompletas, oferecem outra rota. A Norte-Sul opera como eixo estruturante. A FIOL avança lentamente rumo ao Atlântico. A FICO busca integrar Goiás e Mato Grosso. A Transnordestina, agora testada em operação comissionada, começa a deixar de ser promessa crônica e a disputar espaço no mundo real da logística.
É nesse cenário que reaparece, em 2025, a ideia da ferrovia bioceânica — um corredor ligando o interior brasileiro ao Pacífico, atravessando o Peru até o porto de Chancay. O projeto ainda está em fase de estudos, sem traçado definitivo ou financiamento assegurado. Mas, diferentemente de outras ideias, encontra hoje uma base logística concreta em território brasileiro.
O porto de Chancay altera o cálculo estratégico. Conectado diretamente às rotas asiáticas, pode reduzir em até doze dias o tempo de transporte entre o Brasil e a China. Para grãos, minérios e produtos de grande volume, isso representa ganho competitivo real, não retórico.
A questão central, portanto, não é engenharia. É decisão. O Brasil precisa escolher se continuará refém de um modelo rodoviário exaurido ou se assumirá, finalmente, a maturidade de tratar infraestrutura como política de Estado — não como vitrine de governo. Planejamento exige continuidade, metas verificáveis e responsabilidade intergeracional. O improviso pode render manchetes; o atraso cobra a conta por décadas.
O histórico brasileiro é eloquente. Ferrovias foram iniciadas sem conclusão, redes foram fragmentadas por disputas políticas, concessões foram redesenhadas ao sabor de ciclos eleitorais. Faltou ao país o mais elementar dos compromissos republicanos: respeitar o planejamento técnico mesmo quando ele não rende dividendos imediatos. A logística brasileira não sofre por ausência de projetos, mas por excesso de desistências.
A Transnordestina em movimento expõe esse contraste de forma incômoda. Mostra que o problema nunca foi impossibilidade técnica, mas falta de decisão política sustentada. Quando o Estado abandona a lógica do espetáculo e permite que a infraestrutura avance no ritmo correto — lento, contínuo e verificável — o resultado aparece. Não em aplausos, mas em eficiência.
Um país ferroviário não elimina caminhoneiros; amplia possibilidades. Não destrói empregos; cria novos. Não escolhe um modal contra outro; constrói redundância, segurança logística e soberania econômica. Persistir no modelo rodoviário exclusivo não é neutralidade: é escolha política que transfere custos ao produtor, ao consumidor e às futuras gerações.
Mauá compreendeu isso em 1854. Pagou caro por enxergar cedo demais. Nós, que já não podemos alegar ignorância, seguimos pagando por enxergar tarde. Perdemos trilhos, tempo, dinheiro e competitividade. Se o Brasil falhar novamente em transformar sinais concretos — como a Transnordestina operando — em política de Estado, não será por falta de aviso histórico.
O futuro não tem acostamento.
Só trens. De carga, de passageiros. Trens-bala também.
https://www.brasil247.com/blog/o-brasil-que-insiste-em-ir-de-caminhao-ao-seculo-xxi
Um rombo bilionário e um Supremo fora do script
A condução personalista do ministro Dias Toffoli lança suspeitas graves sobre limites, legalidade e poder no Judiciário
15 de janeiro de 2026


A condução personalista do ministro Dias Toffoli no caso Banco Master, marcada por avocação frágil, idas e vindas decisórias e controle atípico das provas, lança suspeitas graves sobre limites, legalidade e poder no Judiciário
A liquidação do Banco Master, decretada pelo Banco Central em novembro de 2025, escancarou um escândalo financeiro de proporções raras no Brasil contemporâneo. As investigações conduzidas pela Polícia Federal estimam que as fraudes ultrapassem R$ 12,2 bilhões, com impacto potencial de até R$ 41 bilhões sobre o Fundo Garantidor de Créditos. Trata-se de crimes clássicos contra o sistema financeiro nacional: gestão fraudulenta, organização criminosa, lavagem de dinheiro e desvio sistemático de recursos.
Nada disso, isoladamente, surpreende. O que causa perplexidade institucional é o desvio do rito legal e a forma como a investigação foi retirada da Justiça Federal e trazida para o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria direta do ministro Dias Toffoli.
Junho de 2024 — a origem frágil da avocação
No início das investigações da Polícia Federal, em junho de 2024, surge nos autos uma menção lateral ao deputado federal João Carlos Bacelar, detentor de prerrogativa de foro. A referência não se conecta ao núcleo do esquema financeiro, não descreve participação direta nem vincula o parlamentar às operações que, meses depois, se revelariam bilionárias. Tratava-se da compra de um imóvel que é o final não foi consumada com o Banco Master.
Essa menção periférica — e juridicamente frágil — foi suficiente para que o ministro Dias Toffoli passasse a sustentar a necessidade de deslocamento da investigação.
Aqui nasce a primeira grande dúvida: uma citação acessória, sem vínculo com a essência criminosa, pode justificar a retirada de um caso dessa magnitude da primeira instância? Para este articulista, não.
Julho de 2024 — a exceção vira método
Em julho de 2024, Toffoli avoca o caso para o STF, afastando-o da Justiça Federal e do fluxo ordinário da persecução penal. A partir desse momento, a exceção constitucional do foro especial deixa de ser episódica e passa a estruturar toda a investigação de um banqueiro privado e de seu círculo familiar e empresarial.
O deslocamento ocorre antes mesmo de o rombo bilionário ser plenamente identificado, o que reforça a suspeita de que a base jurídica da avocação não se sustenta no mérito dos crimes que viriam à tona.
Novembro de 2025 — a liquidação e o protagonismo
Com a liquidação do Banco Master, em novembro de 2025, a gravidade do caso se impõe de forma inequívoca. O ministro Toffoli intensifica sua atuação direta: autoriza bloqueios patrimoniais que somam R$ 5,7 bilhões, reforça o sigilo processual e passa a interferir no ritmo e na forma das diligências.
O STF deixa de ser apenas instância revisora e assume papel operacional.
6 e 7 de janeiro de 2026 — prazos e pressão
No dia 6 de janeiro de 2026, a Polícia Federal solicita autorização para uma nova fase da operação. No dia seguinte, Toffoli defere o pedido, mas impõe prazos exíguos para cumprimento, em investigação complexa, com múltiplos alvos e em diversos estados.
12 de janeiro de 2026 — a reprimenda
Antes mesmo da deflagração da operação, em 12 de janeiro, o ministro repreende formalmente a Polícia Federal, alegando falta de empenho e atribuindo à autoridade policial eventual prejuízo às diligências. O gesto é incomum, cria constrangimento institucional e expõe uma relação de tensão com uma instituição reconhecida por seu profissionalismo e espírito republicano. Algo que salta aos olhos é a extrema diligência e determinação do STF em zelar por sua competência e ao mesmo tempo em avançar sobre a competência de outros entes públicos. É no mínimo estarrecedor, por falta de uma palavra mais forte.
14 de janeiro de 2026 — a operação e o alcance familiar
No dia 14 de janeiro de 2026, a fase 2 operação Compliance é deflagrada. A PF cumpre 42 mandados em cinco estados. São apreendidos carros de luxo, relógios, dinheiro vivo, dezenas de dispositivos eletrônicos e um arsenal de armas de grosso calibre, incluindo fuzil, metralhadora e carabina.
A ofensiva atinge Daniel Vorcaro, controlador do banco, mas também seu pai, Henrique, a irmã, Natália, empresária e pastora evangélica, e o cunhado, Fabiano Campos Zethel, fundador de uma gestora de investimentos e também pastor. Zethel é abordado no aeroporto de Guarulhos quando embarcava para Dubai, tem o passaporte apreendido e é proibido de deixar o país.
A recorrência de lideranças religiosas no epicentro de rombos bilionários reaparece. Não como juízo moral, mas como dado social que exige escrutínio.
Há poucos dias escrevi aqui artigo em que defendi a necessidade da realização de uma operação nos moldes da “Carbono Oculto” para investigar a fundo as finanças das 30 maiores igrejas com fluxos financeiros atípicos.
Na mesma operação, Nelson Tanure é abordado quando embarcava do Rio de Janeiro para Curitiba. Seu celular é apreendido. O deslocamento, isoladamente, não é crime, mas o contexto levanta questões sobre timing, conexões e fluxos de informação em uma investigação sensível.
14 de janeiro de 2026 — o controle das provas
No próprio dia 14, Toffoli determina que todo o material apreendido seja lacrado e acautelado no STF, impedindo a extração imediata dos dados pela Polícia Federal. O argumento de preservação das provas não se sustenta. Na prática, ocorre o contrário: retarda-se a perícia, fragiliza-se a cadeia de custódia e coloca-se em risco a integridade de dados digitais voláteis.
A Polícia Federal alerta formalmente para esse risco. A linha que separa o público do privado há muito deixou de ser tênue nessa investigação do Master.
Poucas horas depois — nova mudança
Poucas horas depois, o ministro muda novamente a decisão e autoriza que a Procuradoria-Geral da República faça a extração e análise do material apreendido. Mais uma inflexão. Mais um sinal de instabilidade decisória.
Poucas canetas podem se dar ao luxo de serem erráticas: a caneta do médico quando apresenta o diagnóstico de uma doença fatal; a caneta do presidente de um país quando deseja enviar suas forças armadas para invadir outro e a caneta de um ministro de uma corte suprema.
O conjunto dos fatos revela um padrão inquietante: centralização excessiva, idas e vindas da caneta e voluntarismo judicial. A sucessão de ordens — ora acelerando, ora travando, ora transferindo responsabilidades — não descreve apenas um estilo; descreve um risco. Porque, num Estado de Direito, o procedimento não é ornamento. É a própria garantia de que a verdade será buscada sem atalhos, sem zonas de sombra e sem tutela pessoal sobre o que deve ser periciado.
Não é plausível sustentar que enviar provas digitais ao STF, antes da extração técnica pela Polícia Federal, “preserva” o conteúdo. Preservar, em investigação séria, é agir com técnica, tempo certo e cadeia de custódia íntegra.
Quando se impede a extração imediata e se muda de rota em seguida, o que se preserva não é a prova: preserva-se a incerteza — e a incerteza sempre favorece quem tem mais a perder com a transparência. Para quem acompanha o noticiário em tempo real sobre a liquidação desse banco são muitos os que detém posição de autoridade que parecem temer a transparência: senadores e deputados federais, ministros do Tribunal de Contas, membros da cúpula de órgãos reguladores do sistema financeiro e por aí vai.
É nesse ponto que a pergunta se torna inevitável e desconfortável: a quem se pretende proteger quando o caminho normal da prova é substituído por um circuito excepcional, desenhado no gabinete e reajustado ao longo do dia? Se o foco é eficiência, por que desorganizar o fluxo pericial? Se o foco é legalidade, por que esticar o foro por prerrogativa de função até que ele passe a engolir um caso cujo núcleo é financeiro e privado?
O caso Banco Master pede punição, reparação e rastreamento minucioso do dinheiro. Mas pede também algo anterior e mais básico: que o país não aceite, como rotina, a figura de um relator que age como se pudesse governar a investigação por impulso, como um decreto ambulante. A Justiça não pode operar por vontade. Justiça opera por regra.
Nada disso absolve investigados.
Ao contrário: quanto maior o rombo, mais rígido deve ser o método. A questão é simples e brutal: quando um tribunal constitucional abandona o papel de guarda e passa a dirigir o enredo, quem fica sem instância para recorrer do improviso? É assim que o poder escapa do controle — não com um golpe ruidoso, mas com pequenas decisões que, somadas, reescrevem o script da República.
https://www.brasil247.com/blog/um-rombo-bilionario-e-um-supremo-fora-do-script
O Brasil visto de dentro, sem pressa
Uma reflexão sobre identidade nacional, reconhecimento internacional e autoestima coletiva, revelando por que o Brasil começa a ser admirado quando deixa de pedir permissão para existir culturalmente
14 de janeiro de 2026


Ser brasileiro no mundo, hoje, é carregar um passaporte e um espelho — mas raramente um espelho neutro. O reflexo costuma vir filtrado por um olhar aprendido: o de quem se mede menos pelo que é e mais pelo que os outros confirmam. Esse hábito antigo, conhecido como complexo do vira-latismo, não é simples autodepreciação. É um fenômeno social enraizado, uma pedagogia silenciosa que ensina o país a desconfiar do próprio valor antes mesmo de se olhar por inteiro.
Ele se manifesta como costume histórico. Desde cedo, o Brasil foi educado a imaginar que o centro do mundo estava sempre fora, que a régua legítima vinha de longe. Quando o reconhecimento externo aparece, respiramos aliviados; quando não vem, a dúvida vira regra íntima. Trata-se menos de baixa autoestima e mais de dependência simbólica: a ideia de que a grandeza precisa ser homologada. O resultado é perverso. Aprende-se a confundir crítica com autonegação, lucidez com desconfiança permanente.
O vira-latismo tem sofisticação. Não se apresenta como ressentimento, mas como “realismo”. Ele desestimula o entusiasmo, desautoriza o orgulho sereno e transforma a cautela em identidade. Não diz “não somos bons”, diz “não se empolgue”. E assim opera como censura sem censor, corroendo a confiança cultural por dentro.
Olhando para fora
Basta, porém, entrar na literatura brasileira sem pedir autorização para perceber o tamanho do equívoco.
Machado de Assis não escreveu para explicar o Brasil ao mundo. Usou o Brasil para expor o humano. Sua ironia é bisturi: corta sem alarde, desmonta vaidades, revela os pactos íntimos entre poder, autoengano e moralidade flexível. Machado antecipou o narrador moderno, aquele que seduz enquanto trai. Sua obra prova que universalidade não nasce da imitação, mas da precisão.
Clarice Lispector seguiu outro caminho. Em vez de descrever o mundo, mergulhou no instante em que ele se desfaz por dentro. Sua escrita transformou o português em instrumento de escuta do indizível. Clarice mostrou que nossa literatura não depende de exotismos para alcançar profundidade. Ela fez do silêncio uma forma de pensamento.
João do Rio, por sua vez, leu a cidade como quem decifra um organismo vivo. Antes que a sociologia nomeasse certos fenômenos, ele já observava a rua, os ritos urbanos, a espiritualidade profana do cotidiano. O Brasil que aparece ali não é atraso: é complexidade em movimento.
Língua que fica
Na poesia, essa singularidade ganha outra temperatura. Carlos Drummond de Andrade transforma constrangimento em filosofia e obstáculo em matéria de reflexão. Sua poesia ensina que lucidez não exclui ternura. João de Barro revela outra face: a leveza como inteligência afetiva, a canção como abrigo contra o peso do mundo. Não é fuga; é forma de durar.
O mesmo ocorre no samba, talvez nossa mais refinada tecnologia emocional. Ele carrega alegria, mas uma alegria que conhece o custo da vida. Cartola devolve dignidade ao que foi chamado de resto. Lupicínio Rodrigues constrói uma ética da dor sem autopiedade. Paulinho da Viola educa para a delicadeza. Chico Buarque esconde crítica e tragédia em melodias de aparente simplicidade. O samba não é entretenimento; é filosofia cantada, uma maneira de estar no mundo sem endurecer.
O futebol e o carnaval também falam dessa inteligência coletiva. No campo, o jogo virou linguagem: improviso, leitura do outro, alegria disciplinada, corpo pensando em conjunto. Não é acaso; é cultura treinada. No carnaval, a rua vira enredo crítico, memória cantada, política em fantasia. O bumba-meu-boi e o Festival de Parintins ampliam isso: mito, comunidade e estética como pacto vivo. Não folclore congelado, mas arte em movimento, ensinando pertencimento sem fechar portas, com alegria responsável, imaginação cidadã e respeito profundo às diferenças regionais brasileiras.
Força de um coletivo vivo
Essa inteligência afetiva também molda nossa forma de solidariedade. Ela não nasce de idealização, mas da convivência cotidiana com a desigualdade. O Brasil aprendeu a criar laços onde faltam instituições, a improvisar cuidado, a transformar vizinhança em comunidade. Não é virtude pura — convive com violência e injustiça —, mas quando emerge, tem densidade histórica.
Há ainda a herança lusitana da saudade, não como nostalgia paralisante, mas como consciência do tempo. Misturada a outras matrizes, ela se tornou motor criativo. A língua portuguesa, aqui, virou organismo vivo: sonora, plástica, capaz de abrigar ironia, espanto, rua, melancolia e canto. O Brasil não apenas fala português; reinventa-o diariamente.
E existe o território. Um país com tantos climas aprende a conviver com contradições. A extensão geográfica produz uma psicologia plural. Somos múltiplos porque o chão é múltiplo.
Reconhecimento sem pedir permissão
É nesse ponto que algo muda. O mundo, saturado de narrativas genéricas, começa a escutar quem não se adapta para agradar. O Brasil reaparece não como tendência fabricada, mas como presença consistente.
Figuras da cena internacional reconhecem isso sem condescendência. Martin Scorsese identifica no cinema brasileiro uma densidade moral rara. David Byrne trata nossa música como pensamento estruturado. Sting associou sua trajetória à defesa da Amazônia quando isso ainda exigia coragem. Madonna expressou vínculo afetivo real com o país. Noam Chomsky vê o Brasil como território central para compreender desigualdade e democracia no Sul Global.
Brasil sem tradução
É nesse cenário que a vitória de Wagner Moura ganha espessura real. Ele recebeu o Globo de Ouro — e isso importa, mas não pelo motivo imediato. No discurso, falou de memória, de trauma geracional, e disse o essencial: se o trauma atravessa gerações, os valores também atravessam.
Desde “Ó Pai, Ó” até personagens ambíguos e extremos, ele nunca romantizou a violência nem trocou silêncio por conforto. Parte do país tentou transformar o Capitão Nascimento em mito; ele sempre o tratou como problema. Num ambiente que premia a neutralidade conveniente, manter valores tem custo. É um ato espiritual — não religioso, mas humano.
O mundo transforma culturas em marcas. O Brasil começa a chamar atenção quando se recusa a entrar nesse jogo. Não está “na moda” por concessão, mas por coerência.
E talvez seja aqui que tudo se amarra. O que nos enfraqueceu por tanto tempo não foi a crítica, mas a dúvida crônica sobre nós mesmos. O que agora se apresenta não é um país que pede aplauso, mas um país que sustenta a própria voz. Ser brasileiro, hoje, não é negar nossas fraturas, nem romantizar nossas dores. É reconhecer que, apesar delas, produzimos linguagem, afeto, pensamento e beleza com densidade rara. O complexo de vira-latismo só perde força quando a memória volta a ocupar o centro — memória do que fomos, do que somos e do que ainda podemos ser.
E, se o trauma atravessa gerações, também atravessam a coragem e a dignidade: basta decidir carregá-las, sem pedir licença, sem se encolher, sem vender a alma no caminho.
P.S.: O discurso de Wagner Moura ao receber ontem o Golden Globe desencadeou a análise jornalística desenvolvida neste texto.
https://revistaforum.com.br/revista-forum/o-brasil-visto-de-dentro-sem-pressa/
Epstein, Washington e a verdade interrompida
Entre acordos indulgentes, falhas na prisão e arquivos controlados, o caso Epstein revela como Washington administra crises quando o poder é colocado em risco
10 de janeiro de 2026


Era sábado, 10 de agosto de 2019, pouco depois das 6h30 da manhã, quando agentes penitenciários abriram a porta de uma cela no Centro Correcional Metropolitano de Manhattan (MCC), prisão federal de segurança máxima localizada na 125 Park Row, a poucos metros da Ponte do Brooklyn. Ali encontraram Jeffrey Epstein morto, pendurado por um lençol improvisado, preso ao beliche. Tinha 66 anos, aguardava julgamento por tráfico sexual de menores e estava sob custódia direta do Estado americano.
Epstein ocupava a ala 9 South, destinada a presos considerados sensíveis pelo sistema federal. O MCC abriga cerca de 760 detentos, entre acusados de terrorismo, líderes do crime organizado e delatores sob proteção. Não é uma prisão periférica nem improvisada. É uma unidade projetada para isolamento rigoroso, vigilância contínua e rondas frequentes. Epstein havia sobrevivido a uma tentativa de suicídio semanas antes. Ainda assim, naquela madrugada, estava sozinho. As rondas não foram cumpridas como previsto. As câmeras do corredor não produziram registros utilizáveis. Quando o corpo foi retirado, o problema já não era apenas a morte — era o fracasso do Estado em preservar o próprio processo judicial.
Naquele dia, o presidente dos Estados Unidos era Donald Trump. Epstein morreu sob custódia federal durante seu governo. Com isso, um julgamento que prometia expor décadas de crimes sexuais, acordos indulgentes e tolerância institucional foi interrompido de forma definitiva.
Epstein não era um personagem marginal. Durante anos, construiu uma fortuna de origem pouco transparente e circulou com naturalidade por Nova York, Palm Beach, Paris e Londres. Mantinha jatos privados, mansões e uma ilha nas Ilhas Virgens Americanas. Sua presença em círculos de poder era conhecida, registrada e aceita. O que permaneceu intocado por tempo demais foi sua responsabilização.
O primeiro grande desvio ocorreu em 2008, na Flórida. Apesar de evidências consistentes de abuso sexual contra menores, Epstein firmou um acordo judicial amplamente criticado por sua leniência. Confessou crimes, cumpriu pena reduzida e teve autorização para deixar a prisão diariamente. O acordo foi conduzido pelo então promotor Alexander Acosta, que mais tarde se tornaria secretário do Trabalho no governo Trump. As vítimas não foram notificadas. O sistema optou pela acomodação.
Esse acordo não foi um erro técnico. Foi uma decisão institucional. Demonstrou que, diante de capital social elevado, a aplicação da lei pode ser ajustada. O caso Epstein não exige teorias extravagantes para ser grave. Basta observar como o sistema reagiu quando confrontado.
Em julho de 2019, onze anos depois, a Promotoria Federal do Distrito Sul de Nova York reabriu o caso. Epstein foi preso ao desembarcar em Teterboro, Nova Jersey, vindo do exterior. As acusações eram diretas: tráfico sexual de menores entre 1994 e 2004, envolvendo dezenas de vítimas recrutadas sob promessas de dinheiro e proteção. Pela primeira vez, não havia acordo prévio. O julgamento parecia inevitável.
Não ocorreu.
A morte de Epstein deslocou o centro do debate. O Departamento de Justiça reconheceu falhas graves no sistema prisional. Dois agentes foram responsabilizados administrativamente. Nenhuma autoridade superior perdeu o cargo. O foco passou a ser aquilo que não seria mais examinado em juízo.
Sob pressão pública e jornalística, o Congresso aprovou a Epstein Files Transparency Act, obrigando o Departamento de Justiça a divulgar os arquivos federais relacionados a Epstein e à sua associada Ghislaine Maxwell. Autoridades reconheceram a existência de mais de um milhão de documentos, incluindo depoimentos, registros financeiros, listas de voos e material fotográfico. O volume explica a liberação gradual. Não explica o desconforto político.
Nas últimas semanas, a Justiça autorizou a divulgação de lotes de documentos e dezenas de fotografias. As imagens causaram forte reação não por revelarem crimes inéditos, mas por documentarem a amplitude das relações sociais de Epstein. Aparecem Bill Clinton, Michael Jackson, Mick Jagger, Kevin Spacey, Chris Tucker, David Copperfield, além de membros da aristocracia britânica como Príncipe Andrew e Sarah Ferguson, todos registrados em encontros sociais com Epstein ou Maxwell. O próprio governo ressalta: nenhuma dessas imagens constitui prova criminal por si só.
Mas as fotos desmontam uma narrativa conveniente. Epstein não operava à margem. Ele circulava.
Uma fotografia que incluía Donald Trump foi inicialmente publicada no repositório oficial do Departamento de Justiça, depois retirada sem aviso e, mais tarde, restabelecida. O Departamento de Justiça afirmou que as imagens foram retiradas temporariamente para aplicar novas tarjas e supressões destinadas a proteger a identidade de vítimas e cumprir exigências legais de sigilo. A oscilação alimentou suspeitas sobre controle político da divulgação e ampliou a desconfiança pública.
Trump não foi formalmente acusado de crimes relacionados ao caso Epstein. Isso não encerra sua relevância. Epstein morreu sob seu governo. E durante sua presidência não houve iniciativa robusta para uma abertura independente e integral dos arquivos. O Executivo preferiu tratar o episódio como encerrado, reduzindo-o a um suicídio individual, sem enfrentar suas implicações institucionais.
A comoção pública não nasce das imagens isoladas, mas do padrão que elas revelam: denúncias conhecidas coexistiram por anos com festas, viagens e convivência social normalizada. O incômodo não está nos nomes, mas na tolerância.
As maiores prejudicadas continuam sendo as mulheres que denunciaram Epstein. Muitas aguardaram décadas para serem ouvidas. Quando finalmente o foram, o principal acusado já estava morto. Compensações financeiras não substituem verdade nem esclarecimento público.
A morte de Epstein encerrou o processo penal, mas expôs um padrão. O Estado permitiu o acordo indulgente, falhou na custódia e agora administra os arquivos como dano controlado. Não é falha técnica. É método. E enquanto esse método prevalecer, nenhuma promessa de transparência será crível.
https://revistaforum.com.br/opiniao/epstein-washington-e-a-verdade-interrompida/
Fiscalizar ou pressionar? O passo além do TCU
Ao deslocar o foco do Master para o BC, o TCU ajuda a obscurecer o que se recusa a investigar: o uso político, bilionário e opaco do dinheiro público
07 de janeiro de 2026


O Tribunal de Contas da União decidiu atravessar uma linha que não lhe pertence. Ao avançar sobre documentos sigilosos do Banco Central no caso Banco Master, o TCU não exerce controle: ensaia poder. Não se trata de fiscalização responsável nem de zelo com o interesse público, mas de uma iniciativa que desloca o centro do escândalo, tensiona a autonomia da autoridade monetária e cria um precedente institucional perigoso. Quando um órgão de controle passa a tratar quem fiscaliza o sistema financeiro como suspeito, algo se rompe no pacto republicano.
Não se trata de zelo institucional. Trata-se de uma investida fora de propósito, descabida e institucionalmente perigosa.
O Banco Central não é um órgão subordinado ao TCU. Não é uma autarquia qualquer, nem um departamento administrativo sujeito a revisão discricionária. É a autoridade monetária do país, dotada de autonomia formal, técnica e decisória, condição indispensável para a estabilidade do sistema financeiro nacional.
Cabe a ela supervisionar, intervir e liquidar instituições financeiras. Essa competência não é compartilhada, tampouco revisável por tribunais administrativos. Quando o TCU avança sobre esse território, não está apenas solicitando documentos: está tensionando o desenho institucional do Estado brasileiro.
A pergunta que precisa ser feita com clareza é simples e incômoda: a quem interessa colocar o Banco Central sob suspeição? Quem ganha quando a narrativa se desloca do controlador de um banco liquidado para a autoridade que cumpriu seu dever legal?
Não se trata de provocação retórica. É uma interrogação política, institucional e ética que precisa ser enfrentada sem rodeios.
O argumento formal — acesso a documentos para “compreender melhor o histórico” — soa frágil diante do contexto. Mais frágil ainda quando a inspeção ocorre em pleno recesso, com material protegido por sigilo e analisado dentro das dependências da própria autoridade monetária.
Não há aqui gesto pedagógico nem transparência ampliada. Há, sim, um movimento que desloca o foco e cria um novo alvo, cuidadosamente escolhido.
Como jornalista, não posso ignorar o padrão. O Tribunal de Contas da União já demonstrou, em outros episódios, disposição para avançar além de suas atribuições constitucionais, como ocorreu na interferência sobre a governança da Previ, o fundo de pensão do Banco do Brasil.
Naquele caso, o pano de fundo era uma disputa por poder, influência e controle. O roteiro agora parece familiar: questionar decisões técnicas para abrir flancos políticos.
O centro do escândalo do Banco Master nunca foi o Banco Central. Nunca foi. O centro está na estrutura de controle da instituição, nas decisões de gestão, nas relações que orbitam seu controlador e nos efeitos sistêmicos dessas escolhas.
Ao deslocar o foco para a autoridade monetária, produz-se uma inversão grave: o fiscalizador passa a ser tratado como suspeito, enquanto o fiscalizado se beneficia do ruído.
Há ainda um elemento que não pode ser varrido para debaixo do tapete: o uso estratégico da indenização como instrumento de silenciamento. Ao questionar a legalidade da liquidação, constrói-se a tese de erro estatal.
O erro, uma vez reconhecido, abre caminho para compensações financeiras. A compensação, por sua vez, garante silêncio. Silêncio conveniente, silêncio caro, silêncio funcional para estruturas que sobrevivem na penumbra do poder republicano.
Se o objetivo do TCU fosse realmente fortalecer o interesse público, talvez fosse o caso de direcionar seu aparato técnico, sua infraestrutura e sua energia institucional para onde o escândalo é explícito, documentado e recorrente: as emendas parlamentares.
Ali existe um sistema opaco, bilionário, com graves distorções federativas, suspeitas consistentes de uso eleitoral, ausência de rastreabilidade e impactos diretos sobre políticas públicas essenciais.
Ali, sim, o Tribunal de Contas tem competência inequívoca, dever constitucional e uma dívida histórica com a sociedade. O contraste entre essa omissão e a disposição de avançar sobre o Banco Central é perturbador.
Por que não investigar a fundo o orçamento secreto rebatizado? Por que não escrutinar com rigor os fluxos de recursos que escapam ao controle social?
Por que não iluminar os arranjos que transformaram emendas em moeda de troca permanente no Congresso Nacional? Essas perguntas são tão legítimas quanto desconfortáveis.
E, justamente por isso, permanecem, em grande medida, sem resposta.
Diante desse cenário, talvez já tenha passado da hora de inverter o olhar. Se o Tribunal de Contas da União se sente autorizado a ultrapassar seus limites e a tensionar a autonomia de outras instituições, é razoável que a sociedade, o Congresso e a imprensa passem a examinar com mais profundidade o próprio tribunal.
Seus critérios, suas motivações, suas alianças e seus silêncios também precisam ser colocados sob escrutínio público.
A democracia não se fortalece quando órgãos de controle passam a testar seus próprios limites e a expandir poder sem freios externos. Fortalece-se quando cada instituição conhece exatamente até onde pode ir — e quando é chamada a prestar contas.
Colocar o Banco Central sob suspeição não esclarece o caso Banco Master; serve apenas para atrasar respostas, embaralhar responsabilidades e proteger interesses que não suportariam a luz plena da investigação.
No Brasil, toda vez que a verdade é empurrada para a sombra, não é por acaso: alguém lucra, alguém se cala e a sociedade paga a conta. Como diria minha saudosa avó Querubina: Aí tem coisa!
https://www.brasil247.com/blog/fiscalizar-ou-pressionar-o-passo-alem-do-tcu
O Brasil que insiste em ir de caminhão ao século XXI
A Transnordestina em movimento expõe o custo político e econômico de um país que adiou os trilhos, apostou no improviso rodoviário e perdeu competitividade por décadas. O Barão de Mauá ainda aponta o caminho
02 de janeiro de 2026


O Brasil vive de horizontes adiados. Sempre que uma crise obriga o país a olhar para os próprios pés, descobre-se parado no acostamento, esperando que as mesmas rodovias de sempre resolvam problemas que elas próprias criaram. É um país que insiste em correr para frente olhando apenas o retrovisor.
Na última semana de dezembro de 2025, porém, um fato concreto interrompeu esse velho automatismo. A Ferrovia Transnordestina realizou sua primeira viagem em operação comissionada, percorrendo 585 quilômetros entre o Piauí e o Ceará, com o transporte de uma carga de milho. Não houve cerimônia grandiloquente nem discursos inflados. Houve um trem em movimento — algo raro demais na história recente da infraestrutura brasileira para ser tratado como detalhe.
A Transnordestina Logística S.A., concessionária responsável pela obra e pela futura operação comercial, informou que a ferrovia foi concebida para transporte de cargas de alto desempenho. Quando plenamente autorizada, deverá escoar grãos, milho, soja, algodão, minérios, gesso, gipsita e contêineres, conectando áreas produtivas do interior nordestino aos portos e aos grandes corredores logísticos do país. Depois de anos simbolizando atraso, a Transnordestina começa, ainda que tardiamente, a simbolizar viabilidade.
O impacto potencial é expressivo. Estudos técnicos associados ao projeto indicam capacidade inicial para dezenas de milhões de toneladas por ano, com redução estimada de até 30% no custo logístico de produtos agrícolas e minerais do Nordeste. Estados historicamente penalizados pela distância dos portos passam a ganhar competitividade real. O efeito se propaga: menor custo de frete, maior margem ao produtor, estímulo à industrialização regional e geração de empregos diretos e indiretos ao longo da cadeia logística.
O significado desse teste vai além da carga transportada. Ele sinaliza que ferrovias não são abstrações nem promessas eleitorais: são infraestrutura concreta. Cada trem que entra em operação representa dezenas de caminhões a menos nas estradas, menos diesel queimado, menos acidentes, menos desgaste do asfalto e menor custo sistêmico para a economia. É logística funcionando como política pública silenciosa — daquelas que não rendem manchetes diárias, mas transformam territórios.
A dependência excessiva das rodovias ajuda a explicar por que esse movimento é tão relevante. A cada greve de caminhoneiros, o país reaprende que depende de um único modal — caro, frágil, vulnerável e estruturalmente insuficiente para uma economia continental. É como tentar mover um búfalo sobre pernas de galinha. Enquanto isso, os trilhos, que poderiam ter costurado o território como uma coluna vertebral moderna, foram sendo abandonados à margem do planejamento nacional.
Essa escolha não foi casual; foi política. Desde meados do século XX, o Brasil trocou projetos de Estado por soluções de governo, desmontando qualquer estratégia ferroviária de longo prazo em nome de ciclos curtos, inaugurações rápidas e alianças circunstanciais. Obras foram iniciadas sem continuidade, concessões mal desenhadas foram interrompidas, e a lógica do improviso venceu a do planejamento. O resultado é um país que transporta riquezas do século XXI sobre infraestrutura do século passado.
Em abril de 1854, o Barão de Mauá inaugurou a primeira ferrovia brasileira, ligando o porto de Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro. Eram pouco mais de 14 quilômetros, modestos na extensão, gigantescos no significado. Mauá compreendia algo essencial: ferrovias não são obras isoladas, mas sistemas estruturantes. Transformam território em economia e economia em integração nacional.
Ainda assim, o impulso inicial se perdeu. Em 1922, no centenário da Independência, o Brasil já possuía cerca de 29 mil quilômetros de ferrovias. Hoje, mais de um século depois, esse número mal ultrapassa os 30 mil. Crescemos em população, produção agrícola, exportações e ambição; em trilhos, permanecemos praticamente imóveis.
O contraste internacional é desconfortável. Os Estados Unidos operam quase 300 mil quilômetros de ferrovias. A China, que há quatro décadas ainda engatinhava na industrialização, ultrapassou os 120 mil quilômetros, muitos deles de alta velocidade. Não se trata apenas de volume, mas de visão estratégica: ambos compreenderam que logística é soberania econômica.
No Brasil, construir estradas custa caro; mantê-las custa ainda mais. Um quilômetro de rodovia pavimentada consome milhões de reais e exige manutenção constante. Não por acaso, mais de dois terços da malha pavimentada encontram-se em condição regular, ruim ou péssima, elevando em mais de 30% o custo do transporte de cargas. Persistir nesse modelo não é erro técnico; é decisão política reiterada.
As ferrovias, mesmo incompletas, oferecem outra rota. A Norte-Sul opera como eixo estruturante. A FIOL avança lentamente rumo ao Atlântico. A FICO busca integrar Goiás e Mato Grosso. A Transnordestina, agora testada em operação comissionada, começa a deixar de ser promessa crônica e a disputar espaço no mundo real da logística.
É nesse cenário que reaparece, em 2025, a ideia da ferrovia bioceânica — um corredor ligando o interior brasileiro ao Pacífico, atravessando o Peru até o porto de Chancay. O projeto ainda está em fase de estudos, sem traçado definitivo ou financiamento assegurado. Mas, diferentemente de outras ideias, encontra hoje uma base logística concreta em território brasileiro.
O porto de Chancay altera o cálculo estratégico. Conectado diretamente às rotas asiáticas, pode reduzir em até doze dias o tempo de transporte entre o Brasil e a China. Para grãos, minérios e produtos de grande volume, isso representa ganho competitivo real, não retórico.
A questão central, portanto, não é engenharia. É decisão. O Brasil precisa escolher se continuará refém de um modelo rodoviário exaurido ou se assumirá, finalmente, a maturidade de tratar infraestrutura como política de Estado — não como vitrine de governo. Planejamento exige continuidade, metas verificáveis e responsabilidade intergeracional. O improviso pode render manchetes; o atraso cobra a conta por décadas.
O histórico brasileiro é eloquente. Ferrovias foram iniciadas sem conclusão, redes foram fragmentadas por disputas políticas, concessões foram redesenhadas ao sabor de ciclos eleitorais. Faltou ao país o mais elementar dos compromissos republicanos: respeitar o planejamento técnico mesmo quando ele não rende dividendos imediatos. A logística brasileira não sofre por ausência de projetos, mas por excesso de desistências.
A Transnordestina em movimento expõe esse contraste de forma incômoda. Mostra que o problema nunca foi impossibilidade técnica, mas falta de decisão política sustentada. Quando o Estado abandona a lógica do espetáculo e permite que a infraestrutura avance no ritmo correto — lento, contínuo e verificável — o resultado aparece. Não em aplausos, mas em eficiência.
Um país ferroviário não elimina caminhoneiros; amplia possibilidades. Não destrói empregos; cria novos. Não escolhe um modal contra outro; constrói redundância, segurança logística e soberania econômica. Persistir no modelo rodoviário exclusivo não é neutralidade: é escolha política que transfere custos ao produtor, ao consumidor e às futuras gerações.
Mauá compreendeu isso em 1854. Pagou caro por enxergar cedo demais. Nós, que já não podemos alegar ignorância, seguimos pagando por enxergar tarde. Perdemos trilhos, tempo, dinheiro e competitividade. Se o Brasil falhar novamente em transformar sinais concretos — como a Transnordestina operando — em política de Estado, não será por falta de aviso histórico.
O futuro não tem acostamento.
Só trens. De carga, de passageiros. Trens-bala também.
https://revistaforum.com.br/opiniao/o-brasil-que-insiste-em-ir-de-caminhao-ao-seculo-xxi/
Depois da contagem regressiva, a realidade
Enquanto a festa acaba, um país invisível mantém hospitais, presídios, aeroportos e serviços vitais funcionando, sem discurso, sem holofotes e sem descanso
01 de janeiro de 2026


O Ano Novo começa, de fato, quando o barulho termina. Os fogos se apagam, as ruas esvaziam, as redes sociais silenciam aos poucos, e o país acorda com um cansaço que não cabe na ressaca. O dia 1º de janeiro é menos uma celebração do futuro e mais um retrato cru do presente: desigual, exausto e funcionando apesar de tudo.
Enquanto parte da população dorme até tarde, há um Brasil que nunca dormiu. Nos hospitais, plantões seguem cheios. Emergências recebem vítimas da virada: acidentes, excessos, violências que não entraram na contagem regressiva. Médicos, enfermeiros e técnicos atravessam a madrugada sem champagne, apenas com protocolos, decisões rápidas e corpos que não podem esperar pelo ano seguinte.
Nas delegacias, o movimento é contínuo. Brigas familiares, conflitos de vizinhança, ocorrências banais e crimes graves compartilham o mesmo balcão. O calendário muda, mas a violência não tira férias. Para quem trabalha ali, o Ano Novo começa com os mesmos dilemas antigos, apenas numerados de forma diferente.
Aeroportos e rodoviárias vivem outro tipo de transição. Famílias se despedem, trabalhadores retornam mais cedo, malas carregam promessas feitas sob efeito de álcool e otimismo. O país se move enquanto ainda boceja. Não há fogos nesses corredores — apenas filas, atrasos e anúncios mecânicos que lembram que o tempo não suspende seus compromissos.
Nos presídios, o dia amanhece igual a todos os outros. Grades não reconhecem datas simbólicas. Para quem está encarcerado, o Ano Novo é apenas mais um dia contado, mais um risco, mais uma espera. A distância entre o espetáculo da virada e a realidade do sistema penal revela um país que comemora sem olhar para dentro de seus muros.
Há também quem trabalhe invisível: garis limpando o excesso da festa, jornalistas fechando edições com equipes reduzidas, operadores de energia, água e dados garantindo que nada falhe. São eles que sustentam a ilusão de normalidade. Quando tudo funciona, ninguém percebe. Quando falha, o espanto é imediato.
O primeiro dia do ano é um espelho incômodo. Ele mostra quem pode parar para celebrar e quem não tem o direito de parar. Mostra desigualdades que não tiram folga, funções essenciais que não rendem manchete e um país que depende do trabalho silencioso de muitos para que poucos possam descansar.
Talvez por isso o 1º de janeiro seja tão revelador. Ele não inaugura nada. Apenas retira o ruído. E no silêncio que sobra, o Brasil aparece sem filtros, sem slogans e sem fogos. Um país que acorda cedo, mesmo quando ninguém está olhando.
Antes que esqueça: feliz 2026!
https://www.brasil247.com/blog/depois-da-contagem-regressiva-a-realidade
Por que perguntar incomoda tanto se é disso que vive o jornalismo?
Quando dinheiro aparece, celulares apreendidos somem e acareações desafiam a lógica jurídica, o problema já não é a pergunta — é o silêncio imposto
27 de dezembro de 2025


Alguns leitores, muitos alunos, me escreveram ao longo dos últimos meses com perguntas objetivas, diretas, que eu próprio não consegui responder ao longo de 2025. Não eram provocações nem exercícios retóricos, mas dúvidas legítimas diante de fatos públicos mal explicados, investigações interrompidas, decisões concentradas e silêncios oficiais persistentes. Reunir essas interrogações — incômodas, documentais, verificáveis — foi a forma encontrada para transformar perplexidade em método jornalístico. É desse acúmulo de perguntas sem resposta que nasce este artigo.
Qual foi, afinal, a resposta objetiva do deputado Sóstenes Cavalcante à descoberta de R$ 470 mil em dinheiro vivo, acondicionados dentro de um saco de lixo em seu apartamento? De quem era o dinheiro, por que estava ali e por que o caso não avançou para uma investigação patrimonial profunda? Houve quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do parlamentar?
Por que assessores diretos desse deputado movimentaram milhões de reais em tão pouco tempo, apesar de salários absolutamente incompatíveis com esse volume? Esses fluxos foram comunicados ao Coaf? Houve relatórios de inteligência financeira ignorados? Serão laranjas ou apenas inocentes úteis?
O que continham os telefones celulares do deputado Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? As mensagens foram integralmente periciadas? Quem teve acesso ao conteúdo e por que o tema simplesmente desapareceu do debate público? O governador Cláudio Castro é citado? Em que contexto? O mesmo vale para o aparelho celular do ex-deputado TH Joias: o que foi encontrado ali, quem analisou os dados e quem decidiu que não havia mais nada a esclarecer?
Por que o ministro Dias Toffoli centralizou em si todas as decisões relacionadas às investigações do caso Master? Qual o fundamento jurídico preciso dessa concentração? E por qual razão promoveu uma acareação envolvendo investigados e um diretor do Banco Central? Existe precedente na jurisprudência brasileira para confrontar fiscalizados com fiscalizador? Não está existindo certo açodamento por parte do ministro?
Existe ou não existe o contrato de R$ 129 milhões, firmado por três anos, entre o Banco Master e o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes? Onde estão os documentos, as notas fiscais, os serviços prestados e os pareceres de conformidade? Por que essa informação nunca foi apresentada de forma inequívoca à sociedade?
Quem tem medo do que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro diria em eventual delação premiada? Quais nomes surgiriam, que relações seriam expostas e quais pactos ruiriam? Quais senadores atuaram formal ou informalmente para impedir ou retardar a liquidação do Banco Master? Houve lobby documentado, reuniões registradas ou pressões institucionais?
Por que denúncias graves contra ministros do Supremo circulam quase exclusivamente em off, sustentadas por fontes anônimas e sem prova material pública? Onde termina a proteção da fonte e começa a irresponsabilidade editorial? Há interesse político em manter ministros permanentemente sob suspeita, ainda que sem evidências conclusivas?
Quando o advogado-geral da União será efetivamente sabatinado pelo Senado? Existe possibilidade real de rejeição? Não se trata de um direito exclusivo do presidente da República essa indicação para o Supremo Tribunal Federal? Ao Senado cabe avaliar o notório saber, a vida profissional no ramo do direito, os títulos acadêmicos, ou será que cabe algo mais?
Por que a Receita Federal jamais realizou uma grande operação para mapear o fluxo financeiro das dez maiores igrejas evangélicas do país? Há veto político à fiscalização?
Quando a Polícia Federal divulgará um balanço completo de suas operações em 2025, incluindo sucessos, arquivamentos, erros e recuos? Quem fiscaliza quem fiscaliza?
Até quando o negacionismo climático e científico seguirá impune, mesmo após a pandemia? Quando as metas da COP30 começarão a sair do papel?
Quando o Itamaraty enfrentará de forma objetiva as denúncias de racismo estrutural em sua hierarquia? Será o corporativismo o maior obstáculo para o esclarecimento de denúncias sérias, robustas?
Por que municípios com menos de 30 mil habitantes, sem saneamento básico, saúde muito precária e escolas pouco estruturadas, continuam contratando shows sertanejos milionários por uma única noite? Quem autoriza esses contratos e de qual orçamento sai o dinheiro? Quem pode provocar a Polícia Federal a investigar esses contratos artísticos nos últimos 10 anos? São contrapartidas de emendas parlamentares desviadas?
Neymar será convocado para a próxima Copa do Mundo? Um histórico prolongado de lesões e de vida noturna deve ser ignorado em nome do marketing esportivo?
Quando começará a exploração de petróleo na Margem Equatorial do Brasil? Qual será o investimento inicial da Petrobras e quais garantias ambientais efetivas existem para evitar desastres irreversíveis?
Quando o Sistema Único de Segurança Pública deixará de ser promessa e será aprovado? Até quando disputas paroquianas impedirão um enfrentamento estruturado ao crime organizado?
Quem autorizou o uso de força policial dentro do plenário da Câmara dos Deputados e o corte simultâneo do sinal da TV Câmara? Houve sindicância? Haverá responsabilização?
Talvez a pergunta final seja a mais incômoda de todas: quem decidiu que certas perguntas não devem mais ser feitas — e com que autoridade?
Quando perguntar passa a exigir silêncio, o problema já não é o jornalismo. É a democracia.
https://www.brasil247.com/blog/por-que-perguntar-incomoda-tanto-se-e-disso-que-vive-o-jornalismo
Entre o copo meio vazio e o copo meio cheio. 2025 já deu
Em meio a crises constantes e ruídos, este balanço revisita 2025 pelos dados, decisões e políticas que funcionaram, sem negar conflitos, retrocessos e riscos
27 de dezembro de 2025


Ao chegar aos últimos dias de 2025, a sensação dominante não é apenas de crise, mas de desgaste do olhar. O mundo parece menos cansado de enfrentar problemas do que de enxergar qualquer coisa além deles. O noticiário operou em regime de saturação: guerras prolongadas, tarifas transformadas em armas políticas, decisões erráticas da Casa Branca, ensaios de intervenção armada no Caribe e na Venezuela, algoritmos capturados por interesses opacos e um multilateralismo visivelmente enfraquecido.
O quadro geral foi apresentado, dia após dia, quase sempre pelo mesmo ângulo.
Essa insistência em um único enquadramento produz um efeito conhecido. A repetição contínua do negativo não apenas informa — ela molda a percepção. Achata contrastes, elimina nuances e cria a impressão de que nada avança, nada resiste, nada melhora.
Quando a realidade é observada apenas por sua face mais escura, fatos que escapam desse registro tendem a ser tratados como irrelevantes ou exceções sem importância, mesmo quando os dados apontam outra coisa.
É justamente aí que o balanço de fim de ano se impõe como exercício de responsabilidade jornalística. Não se trata de negar tragédias, minimizar conflitos ou suavizar retrocessos evidentes.
Trata-se de recuperar profundidade de campo. De recolocar no enquadramento decisões, políticas públicas e acordos internacionais que, embora menos ruidosos, produziram efeitos concretos em 2025 e ajudam a compreender o ano com mais fidelidade aos fatos.
Um desses marcos foi a entrada em vigor do Tratado dos Altos Mares. Pela primeira vez, áreas marinhas em águas internacionais passaram a contar com proteção formal, encerrando décadas de vazio jurídico sobre regiões essenciais ao equilíbrio climático e alimentar do planeta. Milhões de quilômetros quadrados passaram a ser monitorados e preservados, com impactos diretos sobre estoques pesqueiros, biodiversidade e o sequestro de carbono oceânico. É governança ambiental real, não retórica.
Na transição energética, 2025 também marcou uma inflexão histórica. A soma de energia solar e eólica superou o carvão na geração global de eletricidade. O dado, por si só, não resolve a crise climática, mas altera sua trajetória. A queda de custos, a escala industrial e os investimentos massivos desmontaram a narrativa de que energia limpa é obstáculo ao crescimento. Países emergentes deixaram de ser coadjuvantes e passaram a liderar essa transformação.
No percurso que conduziu o mundo até a COP 30, compromissos ambientais firmados ao longo da última década começaram, enfim, a produzir efeitos mensuráveis. O financiamento internacional para a biodiversidade saiu do plano declaratório e alcançou territórios concretos, sobretudo em países megadiversos. A ampliação de áreas protegidas e a desaceleração da perda de habitats críticos indicam que metas globais não são inúteis quando acompanhadas de recursos, monitoramento e cobrança política consistente.
Na saúde, 2025 consolidou avanços decisivos em terapias genéticas. Aprovações regulatórias, resultados clínicos comprovados e redução significativa de custos transformaram o que antes era promessa em tratamento efetivo. Para milhares de pacientes com doenças raras, a ciência deixou de ser horizonte distante e passou a representar ganho real de qualidade e expectativa de vida.
Outro dado bem pouco celebrado foi a redução histórica do desmatamento global. O Brasil apresentou seus melhores números em quase uma década, acompanhado por avanços relevantes na Indonésia e na África Central. Monitoramento por satélite, incentivos financeiros internacionais e políticas públicas articuladas demonstraram que a devastação não é destino inevitável, mas consequência de escolhas — e, portanto, passível de reversão.
Talvez o sinal estrutural mais relevante tenha vindo da China, ao confirmar o platô de suas emissões de carbono. Considerando o peso do país no total global, essa estabilização tem impacto sistêmico. Ela sugere que o pico mundial de emissões pode ocorrer antes de 2030, com efeitos diretos sobre a saúde pública e a qualidade do ar em centenas de cidades.
Na conservação ambiental, a recuperação de espécies ameaçadas ofereceu uma lição incômoda aos céticos. Tigres, tartarugas marinhas e populações de salmão voltaram a ocupar espaços perdidos. Quando ciência, financiamento e gestão local caminham juntos, a reversão de danos deixa de ser exceção retórica e passa a integrar políticas de longo prazo.
Até mesmo a corrida espacial, frequentemente associada a vaidades bilionárias, produziu efeitos concretos. A redução dos custos de lançamento ampliou a conectividade global, levando internet de alta velocidade a regiões antes isoladas, enquanto novos instrumentos científicos aprofundaram nossa capacidade de observar o planeta e compreender seus limites físicos.
No plano social, a redução global da pobreza extrema recolocou o mundo em trajetória de recuperação após os choques da pandemia. Crescimento econômico em países de baixa renda, remessas recordes e expansão de redes de proteção social mostraram que desigualdade não é fenômeno natural, mas resultado direto de decisões políticas.
Por fim, a opinião consultiva da Corte Internacional de Justiça sobre responsabilidade climática introduziu um novo fator no tabuleiro global: a possibilidade concreta de responsabilização jurídica dos Estados por danos ambientais.
É claro que não encerra a crise, mas ao menos altera o custo da omissão e reposiciona o direito internacional como instrumento de pressão legítima.
Ao terminar 2025, talvez o gesto mais honesto seja este: resistir tanto ao desespero automático quanto ao otimismo fácil.
O mundo segue instável, desigual e perigoso — e nada autoriza triunfalismos. Mas também não é verdade que apenas tenhamos perdido. Entre retrocessos visíveis e avanços menos ruidosos, houve escolhas que reduziram danos, salvaram vidas e apontaram correções de rota possíveis.
Olhar o ano inteiro apenas por um ângulo empobrece a compreensão da realidade. Recuperar o campo de visão não resolve os problemas, mas é condição indispensável para enfrentá-los com lucidez.
https://www.brasil247.com/blog/entre-o-copo-meio-vazio-e-o-copo-meio-cheio-2025-ja-deu
Brasileiro de origem, cidadão do mundo, escreve desejos públicos para 2026
Desejos que cruzam fronteiras: justiça fiscal, democracia informada, paz internacional e dignidade social como exigências mínimas de um mundo em reconstrução.
27 de dezembro de 2025


A escolha coletiva, e não simples produto da inércia, do medo ou do cálculo tecnocrático de curto prazo.
O que segue não é carta de intenções nem exercício retórico. É um conjunto de anseios conscientes, sustentados por dados, memória histórica e disputas reais. Esperar, aqui, é exigir que determinadas transformações se concretizem.
Hexa: espero que o Brasil volte a ser campeão do mundo
Espero que o Brasil seja campeão do mundo em 2026. Não por nostalgia, mas porque acredito que o futebol brasileiro só se reencontrará quando voltar a ser tratado como projeto, não como espetáculo improvisado. Desejo que a seleção chegue à Copa dos Estados Unidos, Canadá e México com método, ciência do esporte, disciplina tática e escolhas responsáveis.
Nesse contexto, espero que Neymar não seja convocado. Não por negação de seu talento passado, mas porque não tem rendido o suficiente, convive com lesões recorrentes — nem sempre transparentes — e deixou de representar um exemplo esportivo e ético para a juventude. Anseio por uma seleção menos dependente de biografias interrompidas e mais comprometida com desempenho coletivo, regularidade física e responsabilidade simbólica.
Mangueira: desejo ver a tradição campeã
Ficarei genuinamente feliz se a Mangueira for campeã do Carnaval carioca. Desejo que isso aconteça sem concessões à lógica industrial que empobrece narrativas e descaracteriza identidades. Quero ver a tradição vencer não como nostalgia, mas como projeto estético vivo.
O carnaval do Rio movimenta bilhões de reais por ano e gera dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos. Ainda assim, escolas históricas sofrem pressão crescente de um modelo financeirizado. Preservar a Mangueira é preservar a ideia de que cultura popular é política pública e memória coletiva, não mercadoria descartável.
Educação: anseio por ética e autocuidado como política pública
Anseio que o Brasil compreenda, em 2026, que educação não pode continuar restrita à transmissão de conteúdos formais. Desejo que ética e autocuidado se tornem disciplinas transversais, práticas e cotidianas, formando cidadãos capazes de lidar com frustração, convivência social, dinheiro, tecnologia, riscos domésticos e responsabilidade emocional.
Os dados são inequívocos: aumentaram os casos de ansiedade, depressão, automutilação e violência escolar entre crianças e adolescentes. Países que incorporaram educação sócio emocional reduziram evasão escolar e conflitos. Prevenir é mais barato — e mais humano — do que remediar.
Inflação e juros: desejo um país que volte a investir em si
Espero que o Brasil consiga manter a inflação sob controle e, ao mesmo tempo, romper com a lógica de juros estruturalmente elevados. Desejo explicitamente que a taxa básica de juros caia para algo próximo de 8% ao ano, patamar compatível com crescimento econômico, investimento produtivo e expansão do emprego formal.
Hoje, o país destina centenas de bilhões de reais por ano apenas ao serviço da dívida pública. Essa escolha drena recursos que poderiam financiar infraestrutura, inovação, reindustrialização e políticas sociais. Reduzir juros não é voluntarismo: é condição para um projeto nacional de desenvolvimento.
Redes sociais: espero o fim da ditadura algorítmica
Espero que 2026 marque uma virada clara contra a proliferação de fake news e contra a ditadura dos algoritmos manipuláveis pelas grandes plataformas digitais. Desejo fiscalização permanente, em tempo real, com transparência algorítmica, rastreabilidade de impulsionamentos e aplicação de multas severas às empresas que lucram com a desinformação.
O Brasil figura entre os países que mais passam tempo diário nas redes sociais, e estudos eleitorais demonstram que conteúdos falsos circulam mais rápido do que informações verificadas. Democracia não sobrevive à anarquia informacional.
ONU: desejo uma reforma que devolva relevância
Desejo que a Organização das Nações Unidas deixe de refletir apenas a correlação de forças de 1945 e passe a representar o mundo do século XXI. Espero a reforma do Conselho de Segurança, com ampliação de membros permanentes e inclusão de países hoje sub-representados. O Brasil e a Índia precisam estar no Conselho de segurança. Os motivos são inúmeros: representatividade geográfica, população, economias robustas.
Sem essa atualização, a ONU continuará existindo formalmente, mas com eficácia política cada vez menor, incapaz de prevenir conflitos ou conter escaladas humanitárias graves.
Gaza: espero que a paz deixe de ser retórica
Espero que cesse a devastação em Gaza. Anseio que a comunidade internacional reconheça, de forma concreta, que sem um Estado palestino viável, com soberania real, garantias de segurança e reconhecimento político, não haverá paz duradoura.
A destruição maciça de infraestrutura civil, a morte de dezenas de milhares de pessoas — em sua maioria civis — e o deslocamento forçado de populações inteiras tornaram insustentável a lógica dos intervalos entre massacres.
Ucrânia: anseio pelo fim da guerra e pela segurança nuclear
Anseio que a guerra na Ucrânia seja encerrada. Não apenas por razões diplomáticas, mas por exigência civilizatória. Desejo que as usinas nucleares sejam rigorosamente protegidas, desmilitarizadas e permanentemente monitoradas por organismos internacionais independentes.
A normalização do risco nuclear em zonas de conflito representa um precedente perigosíssimo, com potencial de afetar todo o continente europeu.
Semana 5×2: desejo trabalhar melhor para viver melhor
Espero que o Brasil avance de forma consistente na adoção da semana 5×2. Experiências internacionais indicam ganhos de produtividade, redução de adoecimento e melhoria da qualidade de vida.
Nesse mesmo horizonte, desejo que seja aprovada a tarifa zero no transporte público. Mobilidade urbana é direito social e fator direto de acesso ao trabalho, à educação e à cultura. Para milhões de brasileiros, transporte gratuito significa tempo, renda e dignidade.
Aposentados: desejo justiça plena
Desejo que todos os aposentados do INSS sejam isentos do pagamento de imposto de renda. O Regime Geral da Previdência Social paga cerca de 39 milhões de benefícios no país. Aproximadamente 70% correspondem a um salário-mínimo e cerca de 20% a até dois salários-mínimos, revelando um contingente majoritário de idosos de baixa renda.
Esses brasileiros contribuíram por 30 a 40 anos, sustentaram o Estado e financiaram políticas públicas. Tributar aposentadorias modestas gera baixo retorno fiscal e alto custo social. Isentá-las é justiça fiscal, reconhecimento histórico e dignidade na velhice — um avanço que espero ver concretizado em 2026.
Mídia progressista: espero que seja fortalecida
Espero que a mídia progressista brasileira seja decisivamente apoiada. Desejo políticas de fomento transparente, distribuição equilibrada de publicidade institucional e estímulo a modelos sustentáveis de financiamento.
Sem pluralidade informativa, não há democracia deliberativa — apenas reações emocionais guiadas por interesses econômicos e desinformação.
Segurança pública: desejo que o Estado pare de administrar a barbárie
Espero que operações como as realizadas no Morro do Alemão e na Penha, no Rio de Janeiro — que resultaram em mais de 124 mortos — jamais se repitam. Ações de altíssima letalidade não desmontam o crime organizado e produzem apenas dor, medo e ressentimento.
Desejo, em contrapartida, que operações de inteligência financeira, como a Carbono Oculto, ocorram várias vezes ao ano, estrangulando economicamente facções e milícias, bloqueando contas, confiscando bens, desmontando empresas de fachada e punindo agentes públicos cúmplices. Segurança eficaz se mede por redes criminosas desarticuladas, não por corpos no chão.
Ética institucional: espero coragem no topo do poder
Anseio que 2026 seja o ano em que a ética deixe de ser discurso e passe a ser prática institucional. Desejo regras claras, transparência efetiva e consequências reais para quem confunde prerrogativa com privilégio.
Espero que membros do Supremo Tribunal Federal adotem robusta autocontenção: nada de caronas em jatinhos de empresários, nada de relações privadas que comprometam a aparência de independência, nada de intervenções para proteger interesses econômicos ou negócios jurídicos de familiares. Exemplaridade em decoro, impessoalidade e afastamento de interesses patrimonialistas não é opcional — é requisito do cargo.
Desejo também que parlamentares sejam proibidos de indicar emendas orçamentárias que ultrapassem o equivalente a um ano de seus salários brutos. O orçamento é da União, e o Poder Executivo é quem possui legitimidade para sua execução. Essa medida simples reduziria drasticamente práticas clientelistas e dezenas de casos de corrupção.
Nobel de Literatura: desejo uma reparação simbólica
Por fim, desejo que o Brasil receba seu primeiro Nobel de Literatura. Anseio que a obra de Chico Buarque seja reconhecida como literatura de alcance universal. Assim como também ou talentoso “manauárabe” Milton Hatoum. E Conceição Evaristo.
Mas pressinto que agora é a vez do Chico. Que o mundo reconheça que a grande literatura também se escreveu em canção, em versos que condensam desejo, amor, esperança, dor, política, subjetividade e linguagem com precisão rara. Não seria apenas um prêmio. Seria um acerto histórico. Aqui uma brevíssima fração de seus versos, esses que acho imbatíveis:
Quem sabe um dia, por descuido ou poesia, você goste de ficar?
Você que inventou a tristeza, ora, tenha a fineza de desinventar
Acho uma delícia quando você esquece os olhos em cima dos meus, ou quando sua risada se confunde com a minha
Oh, pedaço de mim! Oh, metade afastada de mim! Leva o teu olhar que a saudade é o pior tormento. É pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar
As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo de que as coisas nunca mudem
Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro
As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo de que as coisas nunca mudem
Quando a toga aceita carona, a democracia inteira paga a viagem
No Brasil, o desafio central não é escrever normas, mas garantir execução, controle e consequências, num tribunal que ocupa o topo do Judiciário
27 de dezembro de 2025


Nas últimas semanas, voltou ao centro do debate público a ideia de criação de um código de conduta e de ética para os ministros do Supremo Tribunal Federal. A iniciativa, em si, é legítima e necessária. Tribunais constitucionais não vivem apenas da força normativa de suas decisões, mas do lastro simbólico que sustenta cada voto, cada gesto público e cada silêncio institucional.
O momento é mais do que oportuno para se debater o assunto.
Nos últimos 90 dias, vieram a público episódios que colocaram o STF sob intenso escrutínio: ministro realizando viagem internacional em jato particular de empresário com interesses no tribunal; outro tendo o escritório de advocacia da esposa envolvido em questionamentos sobre honorários mensais elevados; outro ainda promovendo seminários recorrentes em Lisboa, com frequência difícil de justificar institucionalmente.
Em vários desses eventos, figuraram como convidados advogados, empresários e agentes com causas em tramitação no Supremo. O acúmulo desses fatos não constitui prova automática de ilegalidade. Mas produz algo igualmente grave para uma Corte constitucional: a naturalização de zonas cinzentas onde a fronteira entre independência judicial e conveniência relacional passa a parecer flexível demais para um tribunal que decide destinos políticos, econômicos e institucionais do país.
É inegável — e digno do maior número de aplausos possíveis — o papel firme, consistente e assertivo desempenhado pelo Supremo nos últimos anos para evitar que o Brasil revivesse um novo 1964. Ao conter aventuras autoritárias e afirmar o Estado Democrático de Direito, a Corte prestou um serviço histórico às atuais e às futuras gerações.
Justamente por isso, à medida que cresce o respeito institucional, precisam crescer também aquelas virtudes hoje tratadas como peças de museu, com cheiro de naftalina, mas que deveriam colocar os onze ministros acima de qualquer suspeita razoável. Postura, compostura, liturgia do cargo e discrição não são adereços simbólicos: são fundamentos invisíveis da autoridade judicial.
Nesse ponto, a discussão ética precisa ir além do comportamento individual e alcançar virtudes estruturais.
Integridade — entendida como honestidade pessoal e funcional inegociável — deve ser absoluta, não apenas real, mas perceptível.
Imparcialidade exige equidistância concreta de partes, grupos econômicos e agendas ideológicas.
Independência, por sua vez, não se proclama: pratica-se diariamente, resistindo a pressões políticas, midiáticas ou sociais que tentam capturar a decisão judicial por atalhos informais.
Há ainda virtudes de temperamento e equilíbrio que moldam o modo como a autoridade se manifesta. Vejamos rapidamente algumas:
Serenidade em ambientes de alta tensão, prudência nas palavras, especialmente fora dos autos, moderação no tom e ponderação diante do dissenso não são sinais de fraqueza — são expressões de maturidade institucional.
Quando ministros trocam sobriedade por protagonismo retórico, a Corte perde densidade e o debate público ganha ruído que rapidamente pode se transformar em ondas e mais rápido ainda em tsunamis institucionais.
Por fim, existem virtudes relacionais e de decoro que sustentam a respeitabilidade do cargo.
Urbanidade e cortesia não são concessões pessoais, mas deveres funcionais.
Reserva diante de temas políticos e processos em curso protege a imparcialidade futura.
Sobriedade na vida pública e privada evita a confusão entre prerrogativa e privilégio.
E o decoro, talvez o mais subestimado de todos, exige recusar condutas que, embora legais, comprometam a dignidade simbólica da função constitucional exercida.
Observar experiências estrangeiras ajuda a iluminar esse caminho. Cortes constitucionais consolidadas adotam códigos de conduta baseados menos em punição e mais em autocontenção rigorosa. O princípio é simples: evitar não apenas conflitos reais, mas qualquer situação que gere dúvida razoável sobre a independência do julgador. Trata-se de preservar a autoridade antes que ela precise ser defendida.
O desafio brasileiro, contudo, vai além da redação de normas. O STF ocupa o topo da hierarquia do Judiciário e não está submetido a instâncias superiores no mérito. Sem mecanismos claros de transparência, acompanhamento e resposta institucional, qualquer código corre o risco de virar ornamento discursivo.
Ética sem consequência é retórica vazia e tratar de separar o joio do trigo é essencial.
O debate sobre conduta não pode servir de biombo para ataques oportunistas. O Supremo incomodou interesses poderosos ao julgar e sentenciar golpistas. Parte da classe política e da grande imprensa aguarda apenas o pretexto para lançar denúncias vazias, montadas no velho “minha fonte me disse”, buscando constranger a Corte por saturação.
Esses sentimentos baixos estão mais vivos do que nunca, são como cobras esperando para dar o bote.
Se o STF decidir avançar nesse debate, que o faça com seriedade, critérios verificáveis e compromisso real com a autovigilância. Porque autoridade constitucional não se impõe apenas por decisões — ela se preserva, todos os dias, por comportamento. E quando a toga relaxa, é a democracia inteira que fica exposta.
Resumo da ópera o STF protegeu a todos nós contra horrores inimagináveis. Cabe agora, a todos nós, instituições e sociedade civil organizada, protegê-los deles mesmos.
https://www.brasil247.com/blog/quando-a-toga-aceita-carona-a-democracia-inteira-paga-a-viagem
República constrangida por ministro e banco
Se Alexandre de Moraes falou com Galípolo em defesa ligada a Vorcaro, o STF deve esclarecer fatos, datas, conteúdos e fundamentos, sem reservas
22 de dezembro de 2025


A democracia brasileira não pode ser defendida com uma mão e corroída com a outra. Esse é o ponto sensível — e explosivo — que emerge quando se cruzam três elementos: o colapso fraudulento do Banco Master, a atuação institucional do Alexandre de Moraes e as relações financeiras que orbitavam o núcleo familiar do ministro.
Reportagens recentes trouxeram à tona que a esposa de Moraes manteve contrato profissional com o Banco Master, em valores que, segundo as informações divulgadas, chegariam a R$ 3,6 milhões mensais. Trata-se de um dado que, por si só, já exige explicações públicas robustas, transparência documental e apuração independente. Não se fala aqui de vínculo lateral ou irrelevante, mas de cifras absolutamente fora do padrão médio do mercado jurídico brasileiro.
Esse dado ganha densidade institucional quando inserido no contexto do colapso do banco. O Master foi liquidado após a revelação de operações sem lastro, práticas de gestão temerária e indícios de fraude sistêmica que ultrapassam R$ 12 bilhões, com envolvimento direto de seu controlador, Daniel Vorcaro. O dano não foi abstrato: atingiu o sistema financeiro, investidores, o BRB – Banco de Brasília e, por extensão, o interesse público.
É nesse cenário que surgem informações sobre quatro contatos que teriam sido feitos pelo ministro Alexandre de Moraes com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central do Brasil, em meio à crise do Master. Se confirmada a finalidade desses contatos — interceder institucionalmente em favor de Vorcaro ou do banco — o debate deixa imediatamente o campo da controvérsia política e entra no núcleo duro do tráfico de influência.
Aqui não há espaço para relativismo
Ministros do Supremo Tribunal Federal não são atores neutros quando falam com presidentes de autarquias reguladoras. A assimetria de poder é absoluta. A palavra de um ministro não é “opinião”; é pressão institucional implícita. E quando essa pressão ocorre num ambiente onde há interesse econômico direto envolvendo membro da família, o princípio da impessoalidade é ferido de forma frontal.
Não se trata de condenação prévia — trata-se de exigência republicana. Se os contatos ocorreram, se tinham finalidade de defesa privada, se coincidem temporalmente com contratos milionários familiares, então não estamos diante de ruído, mas de potencial captura institucional. Democracias morrem assim: não com tanques, mas com conversas reservadas, favores cruzados e silêncio cúmplice.
Alexandre de Moraes teve papel central na contenção de ataques à democracia. Isso é fato histórico. Mas ninguém acumula crédito moral para usar contra a lei. A mesma República que foi defendida exige agora escrutínio total, investigação profunda e resposta pública.
Se confirmada a interferência, não haverá paradoxo: haverá traição ao próprio Estado de Direito que se diz proteger. E isso, em qualquer democracia séria, não se relativiza — se pune.
https://www.brasil247.com/blog/republica-constrangida-por-ministro-e-banco
O ano em que a tornozeleira eletrônica marcou culpados
Com mais de 120 mil monitorados , a tornozeleira deixou de ser exceção e passou a estruturar a resposta do Estado, de ex-presidentes a servidores e banqueiros
22 de dezembro de 2025


Ao longo da história, o poder sempre buscou marcar os culpados. Na Antiguidade, olhos eram vazados para impedir o retorno do olhar desafiador; em códigos antigos, como os mesopotâmicos, o castigo mutilava para tornar o crime visível. Na Idade Média, ladrões tinham mãos amputadas, e o ferro em brasa gravava na pele a culpa eterna, convertendo o corpo em aviso público. Séculos depois, o suplício físico cedeu lugar à prisão, aos registros, aos prontuários. No século XXI, a marca desloca-se: não fere a carne, mas vigia o passo. A tornozeleira, presa ao calcanhar — esse ponto frágil, o calcanhar de Aquiles —, transforma a culpa em rastreamento contínuo, silencioso, permanente
No Brasil, essa transição ganhou escala e normalidade. Dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) indicam que cerca de 122 mil pessoas estavam sob monitoramento eletrônico ao final de 2024, o maior contingente desde a implantação do sistema, em 2010. O número não é um detalhe estatístico: ele contextualiza o que se consolidou em 2025 — a tornozeleira deixando de ser exceção jurídica e tornando-se instrumento recorrente da resposta penal do Estado, sobretudo em casos de grande repercussão pública.
Sem alterações legislativas relevantes, o Judiciário brasileiro passou a priorizar a vigilância contínua em investigações sensíveis. A tornozeleira tornou-se alternativa frequente à prisão preventiva prolongada, especialmente quando o risco não era apenas de fuga, mas de articulação política, destruição de provas, combinação de versões ou reiteração. Política, Previdência Social e sistema financeiro convergiram nessa estratégia: o Estado passou a vigiar em tempo integral aquilo que antes tentava conter apenas com grades.
O precedente político
O episódio mais emblemático ocorreu em 18 de julho de 2025, quando o Supremo Tribunal Federal determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro passasse a cumprir medidas cautelares com uso de tornozeleira eletrônica, além de recolhimento domiciliar noturno e restrições de comunicação. A decisão integrou o inquérito que apura a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito após as eleições de 2022.
Para o STF, o risco não se limitava à evasão. O temor central era a rearticulação política clandestina, inclusive por meios digitais e por intermédio de terceiros. A tornozeleira surgiu como mecanismo de contenção visível, contínuo e mensurável — um controle sem encarceramento imediato, mas com um custo simbólico alto: a culpa passa a ter hardware.
Esse quadro mudou em 22 de novembro de 2025. Após o descumprimento das cautelares, Bolsonaro teve a prisão preventiva decretada. Com a mudança do regime — de liberdade monitorada para custódia física —, a tornozeleira foi retirada, procedimento padrão quando o investigado passa à prisão. A sequência — tornozeleira, prisão, retirada — foi amplamente noticiada e cristalizou um marco político-jurídico: o poder, no Brasil contemporâneo, também pode ser contido pelo mapa.
Vigilância antes da cela
Outro caso que seguiu lógica semelhante foi o do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Em fases do processo relacionado aos atos de 8 de janeiro de 2023, Torres esteve submetido a monitoramento eletrônico enquanto recorria em liberdade. Ao ser posteriormente preso por decisão judicial, a tornozeleira foi retirada, refletindo a mudança de regime. É um ponto relevante porque expõe a engrenagem do novo modelo: a tornozeleira funciona como “meio-termo” entre liberdade plena e cárcere; quando o Estado decide prender, o equipamento perde função.
Situação distinta foi a do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência. Condenado em setembro de 2025, Cid cumpriu parte da pena em regime domiciliar com tornozeleira. Em 3 de novembro, o Supremo autorizou a retirada do equipamento ao ajustar o regime para aberto. Nesse caso, a retirada decorreu de reavaliação judicial, não de prisão subsequente — distinção essencial para que o debate público não transforme fatos diferentes num mesmo enredo.
Julgamentos em série
Se os nomes centrais atraíram manchetes, foi nos julgamentos menos visíveis que a tornozeleira se disseminou. Ao longo de 2025, o STF julgou em blocos sucessivos dezenas de réus envolvidos nos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023. As decisões adotaram um mesmo desenho: penas alternativas, acordos de não persecução penal e regimes domiciliares monitorados, sobretudo para réus de menor ou médio envolvimento.
Em março, a conversão da prisão da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos em domiciliar com tornozeleira tornou-se um dos casos mais debatidos do ano. A partir dali, decisões semelhantes se multiplicaram. E o que deveria inquietar — mais do que uma biografia isolada — é o método: a punição deixa de ser evento extraordinário e passa a integrar a rotina judicial, muitas vezes comunicada em lote, com a frieza burocrática dos processos seriados.
O INSS sob controle
Fora do eixo político, a vigilância eletrônica também se firmou. Em abril de 2025, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, que apurou fraudes bilionárias contra o INSS. O esquema envolvia descontos indevidos em benefícios previdenciários e a atuação de intermediários privados e agentes públicos — a velha arquitetura do desvio com aparência de normalidade.
Entre os investigados mais citados esteve o ex-secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo da Cunha Portal, que teve a prisão convertida em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, por decisão da Justiça Federal. Outros investigados, como Marcos de Brito Campos Júnior, Hélio Marcelino Loreno, Cristiana Alcantara Alves Zago e Erick Janson Vieira Monteiro Marinho, também passaram a cumprir monitoramento eletrônico.
Aqui, a tornozeleira aparece menos como símbolo político e mais como instrumento operacional: restringe deslocamentos, evita contatos, impõe disciplina, e tenta impedir que o esquema continue funcionando enquanto o Estado busca rastrear provas e fluxos financeiros. É vigilância para proteger a investigação — e, no limite, para proteger o próprio sistema previdenciário, permanentemente vulnerável.
O dinheiro vigiado
No setor financeiro, a tornozeleira também ganhou protagonismo como resposta recorrente a crimes complexos. Em novembro de 2025, no âmbito da Operação Compliance Zero, o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, foi preso preventivamente e solto dias depois por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, mediante imposição de tornozeleira eletrônica, retenção de passaporte e outras cautelares.
O mesmo ocorreu com executivos ligados ao banco: Augusto Ferreira Lima, Luiz Antônio Bull, Alberto Félix de Oliveira Neto e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva. O Ministério Público Federal recorreu, mas o tribunal manteve o monitoramento. E aqui cabe uma precisão indispensável: não há registro público, em 2025, de prisão posterior desses investigados após a imposição do monitoramento. Ou seja: o desenho factual noticiado é “prisão preventiva → soltura com cautelares e tornozeleira”, e não “tornozeleira → prisão”.
Uma nova gramática da punição
O que une esses episódios é a mudança de estratégia do Estado. A tornozeleira eletrônica passou a cumprir múltiplas funções: restringir deslocamentos, limitar contatos, impedir articulações e produzir um efeito público contínuo de responsabilização. A marca da culpa já não sangra, não mutila, não cega — mas também não desaparece. Ela permanece ali, no corpo, lembrando que a liberdade pode ser uma concessão vigiada.
Esse deslocamento tem custo e consequência. Ao reduzir prisões preventivas longas e ampliar o monitoramento, o Brasil substitui parte do cárcere por um regime de controle cotidiano que atravessa o tempo, os passos, os hábitos. O debate que se impõe não é apenas técnico: é civilizatório. O que significa punir quando punir é rastrear?
Em 2025, o Brasil não apenas julgou grandes escândalos. Atualizou a forma histórica de marcar culpados. Do ferro em brasa ao sinal eletrônico no calcanhar, a punição deixou de ferir o corpo para controlar o movimento. O calcanhar de Aquiles da modernidade não é a força física, mas o rastro — e o Estado aprendeu a segui-lo.
https://www.brasil247.com/blog/o-ano-em-que-a-tornozeleira-eletronica-marcou-culpados
Clarice Lispector escreve e o chão desaparece. Foi assim comigo, e com você?
A recusa à explicação fácil atravessa toda a sua obra e ajuda a entender por que ela nunca foi uma autora confortável. Ela escreve como quem desconfia da inteligência que se basta
21 de dezembro de 2025


Ler Clarice Lispector nunca é um gesto tranquilo. Algo se desloca logo nas primeiras linhas, quase sem aviso, como se a linguagem empurrasse o leitor para fora do lugar habitual. Não há espetáculo nem alarde. Há um leve desajuste, uma perda discreta de equilíbrio, que cresce à medida que a frase avança. Quando se percebe, o cotidiano — esse território aparentemente estável — já não oferece o mesmo apoio. Clarice escreve assim: sem prometer conforto, sem pedir licença, deixando claro que a leitura, ali, é sempre uma forma de risco.
Ler Clarice é sentir um pequeno abalo sísmico que começa no cotidiano mais banal e termina num ponto onde as palavras já não servem como abrigo. O ensaísta Baret Magarian definiu com precisão esse efeito ao falar em “choques de reconhecimento”. Mas talvez seja preciso ir além: o choque clariciano não é apenas o de reconhecer algo oculto, é o de perceber que aquilo sempre esteve ali, sustentando silenciosamente a vida comum, enquanto fingíamos estabilidade.
Essa percepção não surge de súbito. Ela amadurece com o tempo, com a leitura insistente, com o retorno aos mesmos textos sob outras idades e experiências. No meu caso, ela me acompanha há décadas e ganhou forma acadêmica em 2004, quando apresentei na Universidade de Brasília a dissertação de mestrado Macabéa vai ao cinema, dedicada às relações profundas entre Clarice Lispector, literatura e cinema. Ao longo dessa pesquisa, conheci Paulo Lispector Valente, um dos dois filhos de Clarice, e também Tânia Kauffmann, sua sobrinha.
Esses encontros, discretos e sem qualquer teatralização, reforçaram uma certeza antiga: Clarice nunca construiu uma personagem pública. Não cultivou mitos sobre si mesma. Seu compromisso era com a escrita — e apenas com ela.
Para compreender a radicalidade dessa escrita, é necessário ouvi-la diretamente. Não como citação ornamental, usada para embelezar um argumento, mas como presença viva no corpo do texto, capaz de interromper o ritmo do jornal e obrigar o leitor a desacelerar.
“Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento.”
Clarice desmonta aqui a obsessão moderna pela explicação. Viver, para ela, antecede qualquer sistema racional. A frase não rejeita o pensamento, mas recusa sua tirania, lembrando que a experiência humana excede métodos, conceitos e respostas organizadas. Há uma crítica direta à ideia de que compreender é dominar — como se a vida coubesse inteira dentro de um raciocínio bem formulado.
Essa recusa à explicação fácil atravessa toda a sua obra e ajuda a entender por que Clarice nunca foi uma autora confortável. Ela escreve como quem desconfia da inteligência que se basta. Sua prosa não conduz o leitor pela mão; ela o empurra, com delicadeza e firmeza, para fora da zona segura da compreensão imediata. A língua portuguesa, em suas mãos, deixa de ser instrumento de ordenação para tornar-se instrumento de exposição: mostra aquilo que o entendimento não consegue organizar sem perdas.
Esse modo de escrever não nasce do acaso. Benjamin Moser, na biografia Why This World, considerada a mais consistente já escrita sobre Clarice, recoloca sua origem num eixo histórico de violência e deslocamento que ajuda a compreender — sem reduzir — a forma extrema de sua escrita. Filha de judeus ucranianos que fugiram dos pogroms da Guerra Civil Russa, Clarice nasceu em 1920 em circunstâncias marcadas pela brutalidade do século XX. Moser registra, com cautela e rigor, a narrativa segundo a qual sua mãe, Mania (Marieta, no Brasil), teria sido estuprada durante ataques antissemitas e adoecido gravemente, morrendo quando Clarice tinha apenas nove anos. Trata-se de um ponto sensível, cercado de controvérsias, mas impossível de ignorar quando se observa a insistência clariciana na precariedade da vida e na fragilidade de qualquer forma de segurança.
Clarice, no entanto, nunca transforma esse trauma em tema explícito. Ela não escreve confissões nem relatos autobiográficos disfarçados. O que faz é mais complexo: transforma a instabilidade em forma. Sua escrita não busca redenção, nem explicação causal. Ela aceita a incerteza como condição básica da existência.
“Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro.”
Aqui Clarice antecipa, com precisão cirúrgica, uma crítica que hoje parece ainda mais atual: a moral do aperfeiçoamento permanente. O defeito não surge como algo a ser eliminado, mas como parte estrutural da identidade. Há uma intuição psicanalítica profunda nessa advertência: corrigir-se demais pode significar desmontar o frágil equilíbrio que sustenta uma vida inteira, sem que o sujeito perceba o risco que corre.
Essa percepção atravessa seus personagens — especialmente mulheres comuns, donas de casa, figuras aparentemente ajustadas à normalidade social. Clarice escreve contra a fantasia da vida bem arrumada. Seu interesse está no humano imperfeito, contraditório, instável, mas vivo. A língua acompanha essa visão: frases que hesitam, retornam, se corrigem no meio do caminho, como se o pensamento fosse sendo descoberto enquanto se escreve.
Essa mesma lógica orientou sua produção como cronista no Jornal do Brasil, entre 1967 e 1973. Ali, Clarice realizou algo raro: levou a literatura de risco para dentro do espaço do jornal sem diluí-la. Em vez de textos leves ou circunstanciais, escreveu crônicas que funcionam como pequenas armadilhas perceptivas. Partem do trivial — um objeto, um gesto, um animal, um pensamento passageiro — e terminam em zonas onde o leitor já não pisa em terreno firme.
É nesse ponto que a escrita de Clarice deixa de ser apenas literária e se torna uma investigação profunda sobre o próprio ato de existir — sobre o que significa estar no mundo sem garantias, sem identidades prontas, sem explicações consoladoras.
“Agarrava-se a um fiapo de consciência e repetia mentalmente sem cessar: eu sou, eu sou, eu sou. Quem era, é que não sabia. Fora buscar no próprio profundo e negro âmago de si mesma o sopro de vida que Deus nos dá.”
O trecho acima revela o núcleo mais profundo de sua escrita: não a definição do ser, mas a experiência crua de existir. O sujeito não sabe quem é, apenas insiste em ser. A repetição do “eu sou” substitui identidade por presença mínima. A linguagem avança às cegas, tateando um território escuro onde consciência, fé e linguagem se misturam, sem garantias e sem respostas finais.
Clarice escreve nesse limite. Seus personagens não buscam rótulos sociais nem explicações psicológicas completas. Buscam apenas não desaparecer. Por isso sua literatura não envelhece: ela não descreve comportamentos de época, mas estados fundamentais da condição humana.
A redescoberta internacional de Clarice nas últimas décadas — impulsionada por novas traduções e por projetos editoriais cuidadosos — não é moda tardia. É sintoma. Em um mundo saturado por discursos performáticos, por fluência vazia e por respostas automáticas, Clarice reaparece como uma escritora que exige desaceleração, silêncio e coragem para enfrentar perguntas sem solução.
Esse enfrentamento atinge seu ponto mais claro no dilema central de sua escrita.
“Por te falar eu te assustarei e te perderei? Mas se eu não falar eu me perderei, e por me perder eu te perderia.”
Nesta frase, Clarice formula o conflito ético da palavra. Falar ameaça vínculos; silenciar aniquila o sujeito. A escrita surge como necessidade vital, ainda que destrutiva. Escrever é aceitar o risco da perda para evitar uma perda maior: desaparecer de si mesma e trair a própria experiência vivida.
Esse dilema percorre toda a sua obra — e explica por que Clarice nunca buscou agradar. Ela escreve sabendo que pode assustar o leitor. E aceita o preço. Sua literatura não consola. Não protege. Não promete chão. Ela desorganiza para tornar visível.
É por isso que afirmo, com convicção amadurecida pelo tempo, que Clarice Lispector é, de longe, a maior escritora brasileira. Não por unanimidade crítica ou canonização institucional, mas porque nenhuma outra levou tão longe a aposta de que a literatura não serve para organizar o mundo — serve para expô-lo em sua fragilidade essencial.
Clarice escreveu como quem sabia que o mundo pode falhar a qualquer instante. E escreveu para que não esquecêssemos disso. Essa é a verdadeira emboscada chamada Clarice. E dela, ninguém sai ileso.
A Constituição do Brasil segue resistindo na linha de fogo do pacto democrático
Ao não tornar pétrea a vedação explícita a golpes de Estado, a Constituição deixou brechas num país marcado por rupturas, onde a democracia é frequentemente tensionada até seus limites.
19 de dezembro de 2025


Ao completar 37 anos, a Constituição brasileira de 1988 impõe uma pergunta que, para mim, é menos jurídica do que histórica e política. Avalio que ela envelheceu resistindo — mas resistindo sob tensão constante. Consolidou a democracia após um longo período autoritário, ampliou direitos e reorganizou o Estado, mas passou a ser submetida a um processo quase permanente de reformas que alteraram sua fisionomia original sem romper o regime.
Os números ajudam a dimensionar esse percurso. Entre 1989 e 2025, o Congresso Nacional promulgou 137 emendas constitucionais numeradas, além de seis emendas de revisão aprovadas em 1994, totalizando 143 alterações formais do texto constitucional. Em pouco mais de três décadas, a exceção tornou-se prática recorrente. Não se trata de juízo moral, mas de constatação objetiva sobre o modo como o sistema político brasileiro passou a operar.
Essa característica não pode ser compreendida fora do contexto em que a Constituição nasceu. A Carta de 1988 foi fruto de um processo intenso de reconstrução democrática, conduzido por uma Assembleia Nacional Constituinte que funcionou de 1º de fevereiro de 1987 a 5 de outubro de 1988. E foi no próprio 5 de outubro de 1988, no Plenário da Câmara dos Deputados, que o texto final foi promulgado sob a condução de Ulysses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, marcando oficialmente o recomeço democrático após o ciclo autoritário. O país saía de 21 anos de ditadura militar, marcados por censura, cassações, suspensão de direitos e forte concentração de poder.
A Constituinte não foi apenas um evento legislativo. Foi, a meu ver, um gesto político de recomposição histórica. Reuniu forças plurais, interesses divergentes e memórias ainda abertas de autoritarismo recente. A decisão central foi clara: blindar direitos, constitucionalizar garantias e reduzir drasticamente as zonas de arbítrio estatal. A desconfiança do poder, naquele momento, não era teórica; era experiência concreta.
Esse ambiente explica por que a Constituição de 1988 é extensa. São 250 artigos permanentes, acrescidos de um Ato das Disposições Constitucionais Transitórias robusto, concebido para gerir a passagem entre regimes, mas frequentemente prorrogado. Políticas públicas, direitos sociais, regras administrativas e compromissos distributivos foram inscritos no nível constitucional. Foi uma escolha consciente, não um excesso casual.
Na minha leitura, essa opção trouxe ganhos e custos. O ganho foi a criação de uma rede de proteção democrática difícil de desmontar. O custo foi transformar a Constituição em um espaço constantemente pressionado por demandas que, em outros sistemas, seriam resolvidas por legislação ordinária. O texto passou a funcionar como uma construção permanentemente habitada, enquanto reformas parciais avançam sem interromper o uso institucional.
Grande parte dessas intervenções incidiu sobre a organização do Estado. Regras do jogo político, competências institucionais, arranjos federativos e funcionamento dos Poderes tornaram-se alvos recorrentes de emendas. Consolidou-se um constitucionalismo voltado à engenharia institucional contínua, menos comprometido com estabilidade textual e mais com adaptação imediata a crises e rearranjos políticos.
A economia ocupou papel central nesse processo. Em diferentes momentos, o texto constitucional foi acionado para acomodar crises fiscais, redefinir regimes de gasto e criar mecanismos de contenção orçamentária. A Constituição passou a desempenhar função de estabilização macroeconômica, assumindo encargos que ampliaram sua exposição ao desgaste político.
O caso da previdência social é, a meu ver, o exemplo mais emblemático. Reformas estruturais foram realizadas diretamente por emendas constitucionais — EC 20/1998, EC 41/2003, EC 47/2005 e EC 103/2019. Idade mínima, regras de transição, benefícios e regimes de servidores foram inscritos no texto constitucional. Optou-se por constitucionalizar o ajuste.
Ao fazê-lo, o Congresso buscou conferir durabilidade jurídica a mudanças politicamente custosas. Essa estratégia blindou reformas contra revisões rápidas, mas reforçou a percepção de que a Constituição se tornou o instrumento preferencial para resolver impasses estruturais. Na minha avaliação, esse movimento ajuda a explicar parte do desgaste simbólico do texto, ainda que sua legitimidade formal permaneça intacta.
Apesar dessa maleabilidade, a Constituição de 1988 fixou limites explícitos. O artigo 60, §4º, estabeleceu as chamadas cláusulas pétreas: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais. Trata-se de uma resposta direta à experiência autoritária brasileira.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que essas cláusulas protegem também o núcleo essencial desses princípios. Mesmo em um ambiente de reformas frequentes, há pilares que não podem ser removidos sem comprometer a estrutura democrática. Esses limites funcionam como sustentação obrigatória do pacto constitucional.
É nesse ponto que a comparação com os Estados Unidos se torna reveladora. A Constituição norte-americana foi concebida em 1787 e entrou em vigor em 1789, para organizar um Estado recém-independente e conter o poder central. Nasceu em um contexto de fundação, não de reconstrução democrática após ruptura autoritária.
Seu texto é deliberadamente conciso: sete artigos, complementados por emendas raras. A adaptação histórica ocorre predominantemente pela interpretação judicial, não pela reescrita constante do texto. Direitos e princípios foram sendo atualizados por precedentes, não por reformas sucessivas do texto constitucional.
Aqui, um dado comparativo fala por si. Desde 1789, os Estados Unidos aprovaram 27 emendas constitucionais. Desde 1988, o Brasil aprovou 143 alterações constitucionais. Em pouco mais de três décadas, o Brasil modificou sua Constituição mais de cinco vezes o total de mudanças realizadas pelos Estados Unidos em mais de dois séculos. O contraste não exige adjetivos adicionais.
Não vejo nisso uma superioridade automática de um modelo sobre o outro. Vejo trajetórias moldadas pela história. Os Estados Unidos construíram estabilidade a partir de confiança institucional acumulada ao longo do tempo. O Brasil, ao contrário, precisou escrever na Constituição aquilo que temia perder rapidamente. São respostas distintas a experiências históricas profundamente diferentes.
Para compreender plenamente a Constituição de 1988, é preciso lembrar que o Brasil teve seis Constituições republicanas desde 1889: 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. A Carta atual foi promulgada 97 anos após a Constituição de 1891 e 99 anos após a Proclamação da República. Não houve, na história republicana, continuidade constitucional prolongada.
Essa sucessão de rupturas ajuda a explicar a ansiedade constitucional brasileira. Cada nova Carta surgiu como tentativa de corrigir falhas da anterior. A de 1988 rompeu esse ciclo ao durar quase quatro décadas. Mas o preço da longevidade tem sido a convivência com reformas constantes, que alteram o texto sem romper o regime.
Há, porém, um ponto que considero um erro essencial da Constituição de 1988: a decisão de não ter inscrito, como cláusula pétrea, a proibição inequívoca dos crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito. Ao blindar a forma do regime, mas não tornar intocável a criminalização absoluta de sua destruição deliberada, o texto deixou uma zona perigosa de ambiguidade. Em países marcados por rupturas recorrentes, a defesa da democracia não pode depender apenas de interpretação posterior ou da coragem circunstancial das instituições; precisa estar escrita como limite intransponível, fora do alcance de maiorias ocasionais, cálculos oportunistas ou aventuras autoritárias disfarçadas de legalidade.
A pergunta final, para mim, não é acadêmica nem abstrata. É uma pergunta de sobrevivência democrática. Ou o Brasil decide tratar sua Constituição como um limite real ao poder — e não como um texto sempre disponível para ser tensionado, contornado ou testado —, ou continuará flertando com o abismo institucional em ciclos previsíveis.
Democracias não morrem apenas quando são derrubadas; muitas apodrecem quando toleram que sua própria destruição seja ensaiada, relativizada ou normalizada. A Constituição de 1988 resistiu até aqui. A questão, agora, é se o país terá maturidade política para defendê-la antes que a próxima ruptura deixe de ser hipótese e se torne fato consumado.
É inadmissível criar leis para crimes com hora certa, réus já sabidos e beneficiários óbvios
Projeto aprovado às pressas na Câmara tenta reescrever condenações do 8 de janeiro, relativiza crimes contra a democracia e coloca o Congresso no papel perigoso de revisor político das decisões do STF. Aberração que precisa ser contida rapidamente.
17 de dezembro de 2025


O projeto de lei da chamada dosimetria não é um episódio lateral do processo legislativo nem um debate técnico restrito a especialistas. Trata-se de uma iniciativa que incide diretamente sobre crimes contra a democracia, sobre decisões já proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e sobre o próprio sentido de justiça em um Estado constitucional. Ao avançar em dezembro de 2025, às vésperas do recesso parlamentar, o projeto revela uma escolha política clara: reabrir, por via legislativa, o julgamento de ataques frontais ao Estado Democrático de Direito.
Não se está diante de um desacordo hermenêutico legítimo nem de uma divergência acadêmica honesta sobre política criminal.
O que se observa é uma intervenção legislativa dirigida, com alvo histórico preciso, destinada a reconfigurar tipos penais e regras de execução da pena a partir de um evento concreto — os atos de 8 de janeiro de 2023.
Ao agir assim, o Parlamento abandona a função prospectiva da lei e passa a legislar retrospectivamente, interferindo em condenações já proferidas, tensionando a separação de Poderes e comprometendo a confiança pública na ideia de que a Justiça decide com base na lei, não na conveniência política posterior.
Os fatos são objetivos e precisam ser registrados com precisão. Em 9 de dezembro de 2025, o substitutivo do projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados pelo relator Paulinho da Força. Na madrugada de 10 de dezembro, o texto foi aprovado por 291 votos a 148 e enviado ao Senado.
O ritmo acelerado não foi casual nem neutro; revelou prioridade política clara e pouca disposição para um debate aprofundado sobre suas consequências institucionais.
O PL 2.162/2023 entrou na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado para o dia 17 de dezembro, sob relatoria formal do senador Esperidião Amin. Na véspera, em 16 de dezembro, o senador Alessandro Vieira protocolou voto em separado defendendo a rejeição do texto aprovado pela Câmara.
É essencial registrar corretamente esse ponto. O relator oficial na CCJ é Esperidião Amin. Alessandro Vieira não relatou o projeto, não apresentou substitutivo e não conduz sua tramitação. Seu voto em separado deve ser visto pelos seus pares na comissão como um vigoroso alerta político e jurídico, uma tentativa explícita de frear uma inflexão legislativa que ameaça ultrapassar limites constitucionais sensíveis.
Não se trata de gesto retórico, mas de uma advertência institucional clara sobre os riscos de se legislar para anular, por vias oblíquas, decisões judiciais legítimas.
A distinção importa porque o debate público foi deliberadamente embaralhado, como se a confusão institucional ajudasse a suavizar a gravidade do que está sendo proposto.
O projeto aprovado na Câmara não nasce neutro.
Seu núcleo político-jurídico dialoga diretamente com os atos de 8 de janeiro de 2023. O primeiro eixo sensível está na forma como o texto trata a imputação simultânea de dois crimes previstos no Título dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito: tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ambos introduzidos pela Lei 14.197/2021. Essa lei, vale recordar, não surgiu em um vácuo histórico. Foi concebida exatamente para substituir a arcaica Lei de Segurança Nacional e para proteger o regime democrático contra investidas autoritárias. Agora, ironia das ironias: quem foi o presidente da República que assinou esta lei? Ganha a Mega-Sena da virada quem descobrir primeiro.
O substitutivo orienta o julgador a aplicar concurso formal quando os dois delitos ocorrerem no mesmo contexto, evitando a soma direta das penas e priorizando a mais grave, com acréscimos.
Esse desenho não é abstrato. Ele reabre, por via legislativa, decisões judiciais já tomadas com base em provas extensas, contraditório e ampla defesa. Trata-se de uma revisão indireta de julgamentos concluídos, cuidadosamente — e maquiavelicamente pensado — para produzir efeitos retroativos benéficos a réus específicos, determinados CPFs.
É preciso afirmar sem ambiguidade: é uma aberração jurídica aglutinar esses dois tipos penais.
Tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito não são a mesma coisa, nem produzem os mesmos efeitos institucionais. A tentativa de golpe visa à tomada ilegítima do poder político, à substituição forçada do governo constituído, ainda que preservando formalmente parte da estrutura estatal. A abolição do Estado Democrático de Direito representa algo mais profundo: a supressão do próprio regime constitucional, a eliminação das garantias fundamentais, da separação de Poderes e do pacto civilizatório.
No julgamento pela corte competente, cada crime gera respostas penais distintas porque atinge camadas diferentes da ordem democrática.
Fundi-los significa diluir responsabilidades e reduzir artificialmente a reação do Estado a ataques que não admitem relativização. Ambos deveriam ser tratados como intangíveis, próximos a cláusulas pétreas materiais, justamente porque protegem a própria existência do Estado constitucional. Ainda guardo essas lições de meu saudoso professor Heleno Fragoso, na faculdade Direito Cândido Mendes do Rio de Janeiro.
Nesse ponto, torna-se inevitável questionar a condução técnica do projeto na Câmara.
É legítimo indagar se Paulinho da Força, sindicalista e deputado sem formação jurídica conhecida, possui preparo técnico para relatar um projeto penal dessa complexidade. Não é jurista, não é advogado e não possui trajetória acadêmica no campo do direito penal ou constitucional. Quando se legisla sobre crimes contra a democracia, a escolha do relator não é detalhe procedimental; é forte sinal de ingerência política que não resiste à luz do dia. Todos percebem quando ele surge.
O segundo eixo do projeto aprofunda a controvérsia ao alterar a Lei de Execução Penal, reorganizando critérios e percentuais de progressão de pena. Não se trata de ajuste periférico. A execução penal é estrutura sistêmica. Qualquer mudança em seus parâmetros se projeta automaticamente para milhares de condenações, inclusive por crimes praticados com violência ou grave ameaça. A lei não opera por exceções narrativas; opera por regras gerais.
Aqui emerge uma objeção filosófica incontornável. Leis não podem ser feitas para crimes com data certa, réus conhecidos e beneficiários visíveis.
Golpes de Estado não são desvios episódicos; são rupturas brutais na história de sociedades livres.
Então me vem à memória a famosa frase do polêmico presidente Jânio Quadros: “Fí-lo porque qui-lo.” Há de se esperar que o Senado não tome uma decisão que revele tamanha voluntariedade legislativa — fazer apenas porque se desejou fazer — sem levar em conta seus inúmeros e profundos desdobramentos práticos para o sistema de Justiça e para o coração da democracia brasileira.
Se essa brecha não for encerrada de maneira definitiva pela Comissão de Constituição e Justiça ou pelo plenário do Senado nas próximas 48 horas, o Congresso Nacional terá cruzado uma linha histórica perigosa: a de assumir conscientemente a função de corretor político de sentenças penais. Estará consagrado o princípio de que crimes contra a democracia não são julgados pela extensão do dano causado à República, mas pela força social, eleitoral ou intimidatória de quem os praticou.
Sabemos há muito que no Brasil quando a exceção vira técnica e a conveniência vira doutrina, a impunidade deixa de ser desvio e passa a ser política de Estado — com consequências que a História jamais costuma perdoar.
Alessandro Vieira, ao defender a rejeição do texto, aponta o que muitos evitam dizer: mesmo sob o discurso de correção de excessos, o projeto cria efeitos colaterais amplos e permanentes. Não é apenas sobre o 8 de janeiro. É sobre reconfigurar o sistema penal brasileiro a partir de um caso específico, com endereço político identificável. Sinto ser necessário repensar essa percepção.
A comparação entre Câmara e Senado escancara uma fratura institucional. Na Câmara, o texto foi apresentado como gesto de pacificação. Mas o próprio relatório assume o foco na redução de penas e na sobreposição dos crimes ligados à ruptura democrática. Politicamente, o projeto nasceu com destinatário reconhecível e foi associado à possibilidade de beneficiar Jair Bolsonaro e outros condenados ou denunciados ligados à trama golpista.
No Senado, a CCJ se converte em instância decisiva. A relatoria de Esperidião Amin e a existência de voto em separado indicam resistência a transformar o Código Penal e a Lei de Execução Penal em instrumentos de acomodação política conjuntural. Não se trata de revanche, mas de preservação institucional.
O que está em julgamento, portanto, não é apenas um projeto de lei.
O que está em jogo é a própria ideia de justiça como fundamento da República.
Defender a integridade das condenações proferidas após os atos de 8 de janeiro não é defender vingança nem radicalismo judicial; é sustentar que houve crime, houve prova, houve devido processo legal e houve decisão legítima da mais alta Corte do país.
Qualquer tentativa de reescrever esse desfecho por meio de engenharia legislativa equivale a admitir que a lei pode ser dobrada depois do fato, desde que o réu disponha de poder suficiente para constranger o sistema. Democracias não sobrevivem a esse tipo de concessão. A História, quando cobra, não aceita alegações de boa intenção.
Dosimetria casuística nem hoje, nem nunca.
Mirosmar, Mirosmar: contenha-se!
Nascido Mirosmar, Zezé Di Camargo usa fama para legitimar intolerância, misoginia e desinformação, revelando como o fanatismo político pode corroer caráter, linguagem e responsabilidade pública
16 de dezembro de 2025


No dia 15 de dezembro de 2025, um vídeo publicado nas redes sociais por Zezé Di Camargo sintetizou um fenômeno recorrente do nosso tempo: a corrosão ética provocada pelo fanatismo. O episódio não se limitou a um desabafo intempestivo de um artista consagrado, mas revelou como intolerância política, culto à personalidade e ressentimento ideológico podem deformar o senso crítico e empobrecer o debate público, mesmo quando partem de figuras populares e milionárias.
O estopim havia ocorrido na véspera, em 14 de dezembro, durante o lançamento do SBT News, novo braço jornalístico da emissora fundada por Silvio Santos. A solenidade, realizada em São Paulo, reuniu autoridades de diferentes campos institucionais e espectros políticos: o presidente Lula da Silva, a primeira-dama Janja, ministros do Supremo Tribunal Federal como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas e o prefeito da capital Ricardo Nunes. O cenário era inequívoco: um evento institucional, republicano e deliberadamente acima de partidarismos — fiel à tradição histórica de Silvio Santos. Não foi ele que no auge da ditadura militar criou um programa chamado “bom dia, presidente”?
Zezé, cujo nome de batismo é Mirosmar José de Camargo, reagiu de forma destemperada. Declaradamente alinhado ao bolsonarismo, acusou o SBT de ter mudado de orientação política após a morte de Silvio, em 2024, e pediu publicamente que a emissora não exibisse seu especial de Natal, já gravado. O gesto soou menos como divergência legítima e mais como tentativa de impor uma leitura ideológica pessoal à gestão de uma empresa privada.
A crise se aprofundou quando Mirosmar optou pelo ataque moral. Ao afirmar que as filhas de Silvio Santos estariam “se prostituindo”, cruzou a linha que separa crítica política de agressão simbólica. A metáfora, dirigida explicitamente às mulheres que comandam o grupo — entre elas Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT, e Patrícia Abravanel, diretora e uma das principais figuras da emissora — foi amplamente interpretada como misógina e desqualificadora.
Nas últimas horas, diante da repercussão negativa e da gravidade das declarações, as herdeiras de Silvio Santos decidiram cancelar a veiculação do especial de Mirosmar, previsto para ir ao ar e que contava, inclusive, com a participação de Paula Fernandes, artista central da música sertaneja contemporânea. A decisão teve peso editorial e simbólico: não se trata de censura, mas de responsabilidade institucional diante de um ataque público injustificável.
Nas redes sociais, o episódio ganhou densidade crítica. Usuários lembraram que Mirosmar construiu parte de sua fortuna com shows financiados por prefeituras e contratos públicos, inclusive em administrações petistas. A incoerência alimentou ironias, cobranças e campanhas de cancelamento simbólico, incluindo mobilizações para retirada de suas músicas de plataformas digitais como o Spotify.
O caso, no entanto, vai além do personagem. Ele escancara a urgência de uma alfabetização ética e cidadã, capaz de ensinar limites, responsabilidade discursiva e convivência democrática. Saber ler o mundo político não é escolher um lado e demonizar o outro, mas compreender instituições, distinguir crítica de ofensa e reconhecer que pluralidade não é traição. Sem esse aprendizado básico, a opinião vira ruído e a convicção se transforma em pretexto para agressões.
A ausência dessa formação ética produz um tipo específico de ignorância: ruidosa, autoconfiante e impermeável aos fatos. É a ignorância que confunde discordância com inimizado, poder com dominação e visibilidade com autoridade moral. Não nasce apenas da falta de escolaridade formal, mas da recusa deliberada em conviver com a complexidade do mundo. Quando associada ao fanatismo político ou religioso, ela se torna particularmente tóxica.
Em Mirosmar, esse processo é visível. O menino pobre de Pirenópolis, que cantava em feiras e ônibus, tornou-se um multimilionário incapaz de lidar com a diversidade democrática e com mulheres exercendo poder de decisão. A fama, longe de ampliar horizontes, cristalizou certezas frágeis e reduziu o debate ao ressentimento.
Diante disso, não será surpresa se, no lugar do especial previsto para o dia 17 de dezembro, os assíduos telespectadores do SBT acabarem assistindo a mais um capítulo do eterno Chaves. Às vezes, o humor involuntário de um clássico mexicano ensina mais sobre respeito, convivência e limites do que discursos apresentados como coragem moral, mas que não passam de intolerância mal disfarçada.
https://revistaforum.com.br/opiniao/2025/12/16/mirosmar-mirosmar-contenha-se-194455.html
Quando a nova geração de artistas se acomoda, são os mais velhos que incomodam
A história ensina que grandes artistas deixam o camarim quando a democracia chama; o silêncio atual denuncia acomodação, medo calculado e pobreza ética
15 de dezembro de 2025


Há algo que envelhece mal no Brasil: a covardia institucional que se apresenta como prudência administrativa. E há algo que envelhece com rara grandeza: a coragem ética que não pede licença ao tempo nem ao poder. Aos oitenta e tantos anos, Chico Buarque, Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Lenine e Ivan Lins continuam ocupando um território que muitos mais jovens abandonaram — o da arte como consciência crítica e intervenção pública.
Não se tornaram peças de museu. Tornaram-se critérios. Mudaram para permanecer exatamente fiéis ao que sempre foram.
Chico Buarque atravessou ditadura, redemocratização e retrocessos sem jamais negociar princípios. Em “Vai Passar” (1984), quando escreve “dormia a nossa pátria-mãe tão distraída / sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações”, expõe um país que naturaliza golpes, conchavos e violência de Estado. Não é passado: é método. Em “Apesar de Você” (1970), o enfrentamento ganha forma explícita ao anunciar o acerto de contas histórico: “apesar de você, amanhã há de ser outro dia / você vai se dar mal / eu vou cobrar com juros, juro / você vai ver o seu nome”. Não há consolo lírico; há promessa política de responsabilização. Já em “Acorda Amor” (1974), ao pedir que chamem o ladrão e não a polícia, Chico revela um Estado que inspira mais medo do que proteção, sobretudo entre pobres, negros e dissidentes.
Gilberto Gil sempre tratou a liberdade como fundamento ético. Em “Cálice” (1973), escrita com Chico, o sufocamento é direto: “como beber dessa bebida amarga / tragar a dor, engolir a labuta”. O jogo entre cálice e “cale-se” traduz a pedagogia da repressão ainda hoje presente nas periferias, onde a palavra continua sendo risco. Em “Refazenda” (1975), Gil propõe outro gesto radical: “refazenda, refazenda”. Não é fuga espiritual, mas política cotidiana de reconstrução do mundo sem reproduzir as violências que o organizam.
Caetano Veloso jamais separou estética e enfrentamento. Em “Podres Poderes” (1984), desmonta a hipocrisia estrutural ao expor um país que absolve privilégios e pune a miséria. Em “Gente” (1977), afirma uma ética humanista sem rodeios: “gente é pra brilhar, não pra morrer de fome”, verso que confronta diretamente uma sociedade fundada na desigualdade. Já “London London” (1971), escrita no exílio, carrega a solidão política de quem foi expulso por pensar — “I’m wandering round and round” — experiência que retorna sempre que o autoritarismo reaprende a se organizar.
Paulinho da Viola nunca foi neutro, apenas preciso. Em “Sinal Fechado” (1969), o diálogo truncado — “olá, como vai? eu vou indo e você?” — revela um país cordial na superfície e brutal no conteúdo. Em “Meu Novo Sapato” (1978), quando canta “meu novo sapato já não pisa no chão”, fala de dignidade, tempo e recusa à ostentação num Brasil que confunde sucesso com dinheiro rápido e ausência de responsabilidade pública.
Antes de qualquer nostalgia confortável, é preciso lembrar Cazuza. Em “Brasil” (1988), ele escancara o país sem anestesia: “Brasil! Mostra tua cara / Quero ver quem paga / Pra gente ficar assim” e “o meu cartão de crédito é uma navalha”. Não é apenas denúncia da corrupção; é radiografia de uma economia que sangra os de baixo e protege os de cima. A canção tornou-se tema recorrente da televisão porque disse em voz alta o que muitos preferiam sussurrar. Como esquecer os versos cortantes de Gonzaguinha ao cantar que “a gente não tem cara de babaca”?
Enquanto esses artistas sustentam uma ética pública clara — justiça social, Estado democrático de direito, combate à violência estrutural — parte expressiva da nova geração musical parece anestesiada ou capturada. Não é detalhe que jovens artistas do hip-hop e do funk estejam hoje sendo processados por vínculos com organizações criminosas como o PCC, facção surgida nos presídios paulistas e estruturada no narcotráfico, e o Comando Vermelho, nascido no Rio de Janeiro, com controle armado de territórios populares. Não se trata de criminalizar gêneros, mas de constatar o vazio ético onde a arte deveria ser contraponto, não vitrine do crime.
E onde estão os pagodeiros?
Onde está o axé, que nasceu como festa, afirmação negra e política do corpo?
Onde foi parar o piseiro, hoje onipresente nas rádios e ausente do debate público?
No sertanejo, o contraste é ainda mais brutal. Artistas como Leonardo, Zezé Di Camargo e Gusttavo Lima recebem cachês milionários para se apresentar em cidades do Brasil profundo com 10 mil, 30 mil ou 70 mil habitantes — municípios que carecem de saneamento básico, postos de saúde, escolas equipadas e professores valorizados. Uma única noite de show custa o equivalente a investimentos capazes de transformar serviços essenciais. A conta fecha mal; o símbolo é devastador.
Será mesmo preciso lei federal que proíba prefeituras com alarmantes índices de desenvolvimento humano (IDH) de contratar esses e outros artistas que nada acrescentam à melhoria da qualidade de vida e às suas populações vulneráveis?
Nesse cenário, merece louvor a atitude de Anitta, que se recusou a realizar um show ao constatar que o pagamento envolveria recursos públicos em contexto de carências evidentes. O gesto não é moralismo: é responsabilidade. Mostra que artistas podem — e devem — escolher de que lado da história desejam estar quando o dinheiro público entra em cena.
Nos últimos dois meses, Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Paulinho da Viola e Djavan voltaram a ocupar o espaço público não apenas como artistas, mas como cidadãos ativos.
Na tarde luminosa de 14 de dezembro de 2025, Copacabana virou praça moral do país. Ali, a música voltou a ser trincheira e a palavra, gesto político. Caetano lembrou que “o povo brasileiro elegeu Lula. E, por isso, a democracia no Brasil resiste!”, antes de cantar um Brasil que insiste em existir “por entre corpos e nomes… no coração do Brasil”. Com Gil, avisou que nada é neutro: “é preciso estar atento e forte”, porque a morte ronda quando a democracia cochila. Gil falou de memória e travessia, de um povo que busca autonomia apesar das recaídas. Djavan exigiu compromisso — “salve a nossa democracia! Lutemos por ela sempre!” — e, com Chico, cantou o cansaço de quem não aceita mais a mentira. Ivan Lins trouxe Gonzaguinha para dizer que não há anistia para o cinismo. Lenine cravou soberania. E todos, juntos, selaram o pacto: “Apesar de você, amanhã vai ser outro dia”. A praia ouviu. O país também.
Em 21 de setembro de 2025, na Praia de Copacabana, convocaram e participaram de um grande ato contra a chamada PEC da Blindagem, denunciando tentativas de anistiar ou proteger politicamente os responsáveis pela tentativa de golpe de Estado.
Em 14 de dezembro de 2025, novamente no Rio de Janeiro, estiveram à frente de nova mobilização popular contra iniciativas da Câmara dos Deputados que relativizam crimes gravíssimos como a tentativa de golpe e a abolição violenta do Estado democrático de direito, reduzindo penas, facilitando progressões e encurtando o tempo de prisão de condenados. Não foi gesto simbólico: foi intervenção direta contra o esvaziamento da justiça e da memória democrática.
Depois de Cazuza, o Brasil também sente falta de Jorge Aragão com a interpretação arrebatadora de Beth Carvalho em “Vou Festejar” (1978). Quando o samba proclama “eu vou festejar, vou festejar / o teu sofrer, o teu penar”, não celebra vingança pequena; celebra a virada contra a traição social, transformando alegria em afirmação política.
E como não reverenciar Aldir Blanc, em parceria com João Bosco, em “O Bêbado e a Equilibrista” (1979). Versos como “choram Marias e Clarices no solo do Brasil” e “a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar” condensam o luto e a resistência de um país ferido pela ditadura, que ainda assim se recusou a desistir da democracia.
Celebrar Chico, Caetano, Gil, Paulinho e Djavan — e lembrar Cazuza, Beth, Aldir e Jorge Aragão — não é saudosismo. É cobrança. Eles provam que longevidade artística não se mede por algoritmos, mas por caráter.
A pergunta permanece incômoda e urgente: quem, entre os mais jovens, está disposto a pagar o preço de não se calar?
Porque arte que não incomoda o poder, cedo ou tarde, passa a servi-lo. Fato.
A música que cobra, a música que se cala e os exemplos que ficam
Cachês milionários pagos por cidades carentes escancaram a obscenidade do contraste entre ostentação artística e abandono social, expondo uma indústria musical alienada das urgências reais do Brasil profundo. Não aprenderam nada com Chico, Gil, Paulinho da Viola, Caetano e Djavan?
15 de dezembro de 2025


Há algo que envelhece mal no Brasil: a covardia institucional que se apresenta como prudência administrativa. E há algo que envelhece com rara grandeza: a coragem ética que não pede licença ao tempo nem ao poder. Aos oitenta e tantos anos, Chico Buarque, Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Lênine, e Ivan Lins continuam ocupando um território que muitos mais jovens abandonaram — o da arte como consciência crítica e intervenção pública.
Não se tornaram peças de museu. Tornaram-se critérios. Mudaram para permanecer exatamente fiéis ao que sempre foram.
Chico Buarque atravessou ditadura, redemocratização e retrocessos sem jamais negociar princípios. Em “Vai Passar” (1984), quando escreve “dormia a nossa pátria mãe tão distraída / sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações”, expõe um país que naturaliza golpes, conchavos e violência de Estado. Não é passado: é método. Em “Apesar de Você” (1970), o enfrentamento ganha forma explícita ao anunciar o acerto de contas histórico: “apesar de você, amanhã há de ser outro dia / você vai se dar mal / eu vou cobrar com juros, juro / você vai ver o seu nome”. Não há consolo lírico; há promessa política de responsabilização. Já em “Acorda Amor” (1974), ao pedir que chamem o ladrão e não a polícia, Chico revela um Estado que inspira mais medo do que proteção, sobretudo entre pobres, negros e dissidentes.
Gilberto Gil sempre tratou a liberdade como fundamento ético. Em “Cálice” (1973), escrita com Chico, o sufocamento é direto: “como beber dessa bebida amarga / tragar a dor, engolir a labuta”. O jogo entre cálice e “cale-se” traduz a pedagogia da repressão ainda hoje presente nas periferias, onde a palavra continua sendo risco. Em “Refazenda” (1975), Gil propõe outro gesto radical: “refazenda, refazenda”. Não é fuga espiritual, mas política cotidiana de reconstrução do mundo sem reproduzir as violências que o organizam.
Caetano Veloso jamais separou estética e enfrentamento. Em “Podres Poderes” (1984), desmonta a hipocrisia estrutural ao expor um país que absolve privilégios e pune a miséria. Em “Gente” (1977), afirma uma ética humanista sem rodeios: “gente é pra brilhar, não pra morrer de fome”, verso que confronta diretamente uma sociedade fundada na desigualdade. Já “London London” (1971), escrita no exílio, carrega a solidão política de quem foi expulso por pensar — “I’m wandering round and round” — experiência que retorna sempre que o autoritarismo reaprende a se organizar.
Paulinho da Viola nunca foi neutro, apenas preciso. Em “Sinal Fechado” (1969), o diálogo truncado — “olá, como vai? eu vou indo e você?” — revela um país cordial na superfície e brutal no conteúdo. Em “Meu Novo Sapato” (1978), quando canta “meu novo sapato já não pisa no chão”, fala de dignidade, tempo e recusa à ostentação num Brasil que confunde sucesso com dinheiro rápido e ausência de responsabilidade pública.
Antes de qualquer nostalgia confortável, é preciso lembrar Cazuza. Em “Brasil” (1988), ele escancara o país sem anestesia: “Brasil! Mostra tua cara / Quero ver quem paga / Pra gente ficar assim” e “o meu cartão de crédito é uma navalha”. Não é apenas denúncia da corrupção; é radiografia de uma economia que sangra os de baixo e protege os de cima. A canção tornou-se tema recorrente da televisão porque disse em voz alta o que muitos preferiam sussurrar.
Enquanto esses artistas sustentam uma ética pública clara — justiça social, Estado democrático de direito, combate à violência estrutural — parte expressiva da nova geração musical parece anestesiada ou capturada. Não é detalhe que jovens artistas do hip-hop e do funk estejam hoje sendo processados por vínculos com organizações criminosas como o PCC, facção surgida nos presídios paulistas e estruturada no narcotráfico, e o Comando Vermelho, nascido no Rio de Janeiro, com controle armado de territórios populares. Não se trata de criminalizar gêneros, mas de constatar o vazio ético onde a arte deveria ser contraponto, não vitrine do crime.
E onde estão os pagodeiros?
Onde está o axé, que nasceu como festa, afirmação negra e política do corpo?
Onde foi parar o piseiro, hoje onipresente nas rádios e ausente do debate público?
No sertanejo, o contraste é ainda mais brutal. Artistas como Leonardo, Zezé Di Camargo e Gusttavo Lima recebem cachês milionários para se apresentar em cidades do Brasil profundo com 10 mil, 30 mil ou 70 mil habitantes — municípios que carecem de saneamento básico, postos de saúde, escolas equipadas e professores valorizados. Uma única noite de show custa o equivalente a investimentos capazes de transformar serviços essenciais. A conta fecha mal; o símbolo é devastador.
Será mesmo preciso lei federal que proíba prefeituras com alarmantes índices de desenvolvimento humano (IDH) de contratar esses e outros artistas que nada acrescentam a melhoria da qualidade de vida e suas populações vulneráveis?
Nesse cenário, merece louvor a atitude de Anitta, que se recusou a realizar um show ao constatar que o pagamento envolveria recursos públicos em contexto de carências evidentes. O gesto não é moralismo: é responsabilidade. Mostra que artistas podem — e devem — escolher de que lado da história desejam estar quando o dinheiro público entra em cena.
Nos últimos dois meses, Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Paulinho da Viola e Djavan voltaram a ocupar o espaço público não apenas como artistas, mas como cidadãos ativos.
Na tarde luminosa de 14 de dezembro de 2025, Copacabana virou praça moral do país. Ali, a música voltou a ser trincheira e a palavra, gesto político. Caetano lembrou que “o povo brasileiro elegeu Lula. E por isso, a democracia no Brasil resiste!”, antes de cantar um Brasil que insiste em existir “por entre corpos e nomes… no coração do Brasil”. Com Gil, avisou que nada é neutro: “é preciso estar atento e forte”, porque a morte ronda quando a democracia cochila. Gil falou de memória e travessia, de um povo que busca autonomia apesar das recaídas. Djavan exigiu compromisso — “salve a nossa democracia! Lutemos por ela sempre!” — e, com Chico, cantou o cansaço de quem não aceita mais a mentira. Ivan Lins trouxe Gonzaguinha para dizer que não há anistia para o cinismo. Lenine cravou soberania. E todos, juntos, selaram o pacto: “Apesar de você, amanhã vai ser outro dia”. A praia ouviu. O país também.
Em 21 de setembro de 2025, na Praia de Copacabana, convocaram e participaram de um grande ato contra a chamada PEC da Blindagem, denunciando tentativas de anistiar ou proteger politicamente os responsáveis pela tentativa de golpe de Estado.
Em 14 de dezembro de 2025, novamente no Rio de Janeiro, estiveram à frente de nova mobilização popular contra iniciativas da Câmara dos Deputados que relativizam crimes gravíssimos como a tentativa de golpe e a abolição violenta do Estado democrático de direito, reduzindo penas, facilitando progressões e encurtando o tempo de prisão de condenados. Não foi gesto simbólico: foi intervenção direta contra o esvaziamento da justiça e da memória democrática.
Depois de Cazuza, o Brasil também sente falta de Jorge Aragão com a interpretação arrebatadora de Beth Carvalho em “Vou Festejar” (1978). Quando o samba proclama “eu vou festejar, vou festejar / o teu sofrer, o teu penar”, não celebra vingança pequena; celebra a virada contra a traição social, transformando alegria em afirmação política.
E como não reverenciar Aldir Blanc, em parceria com João Bosco, em “O Bêbado e a Equilibrista” (1979). Versos como “choram Marias e Clarices no solo do Brasil” e “a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar” condensam o luto e a resistência de um país ferido pela ditadura, que ainda assim se recusou a desistir da democracia.
Celebrar Chico, Caetano, Gil, Paulinho e Djavan — e lembrar Cazuza, Beth, Aldir e Jorge Aragão— não é saudosismo.
É cobrança.
Eles provam que longevidade artística não se mede por algoritmos, mas por caráter.
A pergunta permanece incômoda e urgente: quem, entre os mais jovens, está disposto a pagar o preço de não se calar?
Porque arte que não incomoda o poder, cedo ou tarde, passa a servi-lo. Fato.
Consensos ensaiados em público, traições e sabotagens consumadas no plenário
A sessão que manteve o mandato de Zambelli expôs um Parlamento que celebra consensos no discurso, mas detona decisões judiciais no voto
12 de dezembro de 2025


Amigos cordiais, inimigos íntimos. Assim se observam, nos dias atuais, Legislativo e Judiciário. A liturgia pública é feita de reverências — “Vossas Excelências”, “respeito democrático”, “compromisso com a sociedade”, “dever republicano”. Mas basta virar o corredor para que o vocabulário mude: conveniência, sobrevivência, cálculo, oportunidade.
Os mesmos que discursam pelo bem-estar coletivo alimentam, sem rubor, a engrenagem silenciosa do “toma lá, dá cá”. Endurecem penas para crimes comuns, com uma pressa quase catequética; mas aliviam delitos quando praticados pelo andar de cima — muitos deles atentatórios ao próprio Estado Democrático de Direito.
Eis o paradoxo de um sistema que se exibe virtuoso enquanto relativiza o cimento moral que pretende defender.
Essa contradição desnuda algo mais profundo: a erosão do sentido constitucional da separação dos poderes. Desde 1988, Legislativo, Executivo e Judiciário foram definidos como independentes e harmônicos — não para que cada um governasse a si mesmo, mas para que cada um limitasse o outro. Independência não é isolamento; harmonia não é servilismo.
O sistema de freios e contrapesos foi pensado para impedir que maiorias súbitas ou corporações influentes capturassem o Estado. Quando um Poder tenta reescrever uma decisão do outro, desfaz-se a contenção que sustenta o edifício republicano. Quando isso se repete, não é mais um desvio: é método.
O caso Carla Zambelli tornou-se a prova viva desse método.
Em 21 de março de 2024, a 1ª Turma do STF a condenou a 4 anos de prisão, mais multa de 400 salários mínimos, inelegibilidade e perda de mandato. Em 24 de outubro, outra condenação: 5 anos e 3 meses pela perseguição armada contra um eleitor em 29 de outubro de 2022 — episódio que rompe qualquer defesa plausível de decoro. Antes da execução das sentenças, fugiu para a Itália e foi presa em 31 de outubro de 2024, em Modena, iniciando processo de extradição.
Em junho de 2025, o STF comunicou à Câmara o trânsito em julgado e determinou a perda de mandato pela Mesa Diretora, sem votação, conforme manda a Constituição quando o parlamentar está preso e impedido de comparecer às sessões. A Constituição não pediu criatividade; pediu cumprimento.
A Câmara optou por reinterpretar o texto constitucional. Será que nutre o anseio de ser Câmara Federal Revisora do Judiciário? Se for, estão tão alucinados quanto o ChatGPT e o Grok.
Hugo Motta enviou o caso à CCJ, onde tramou-se uma coreografia de adiamentos que em nada honrou o espírito republicano. Em 27 de novembro, a CCJ rejeitou o parecer que absolvia Zambelli. Em 28 de novembro, aprovou-se o parecer que recomendava sua cassação. E, ontem, 10 de dezembro de 2025, o plenário decidiu preservá-la: 227 votos, insuficientes para atingir os 257 exigidos. Salvou-se o mandato de quem não pisa no plenário há mais de um ano.
O contraste com Glauber Braga, punido por agressão física e suspenso, mas não cassado, tornou-se didático. A Câmara considerou decoro parlamentar o que envolve um chute; mas não considerou decoro a falsificação de ordem judicial, a perseguição armada e duas condenações definitivas pelo STF. A teoria do direito conhece esse fenômeno: injustiça performativa, quando a própria instituição contradiz a norma que deveria aplicar.
Lindbergh Farias já informou que recorrerá ao STF — e o precedente Donadon, de 2013, mostra que o tribunal pode suspender a decisão e exigir nova votação. Não por revanche, mas para restaurar a coerência mínima da Constituição.
No mesmo dia, o Senado aprovava o projeto antifacção relatado por Alessandro Vieira, fortalecendo Receita Federal, COAF, CGU e Polícia Federal — um movimento explícito para robustecer o Estado contra o crime organizado.
Enquanto um Poder tenta reforçar as instituições, outro afrouxa a exigência mínima que se espera de um mandato parlamentar. Surtos cognitivos do Poder Legislativo neste ano de 2025.
O constitucionalismo brasileiro não sobreviverá à contabilidade moral de ocasião. A democracia não se sustenta quando o cumprimento da lei depende do humor da maioria, nem quando a política trata a Constituição como sugestão, não como pacto.
Porque nenhum país permanece de pé quando a lei perde o mandato — e a contradição o preserva.
Brasil reafirma sua força criativa na disputa cinematográfica internacional
As jornadas de O Agente Secreto e Ainda Estou Aqui revelam um Brasil que reencontra sua voz no cinema, filmando com precisão, inquietude criativa e coragem para enfrentar seus fantasmas mais persistentes
11 de dezembro de 2025


Ainda Estou Aqui abre a porta; O Agente Secreto decide atravessá-la. E, ao fazê-lo, revela algo ainda maior: o gesto de insistir em existir. É como se dois filmes — diferentes em linguagem, estética e temperatura emocional — compusessem uma mesma frase histórica, um mesmo pulso nacional tentando, de novo, fazer-se ouvir num país acostumado a conviver com o esquecimento. Trata-se, afinal, de uma dobradiça cinematográfica: o passado abre, o presente atravessa, e o futuro observa.
Quando Ainda Estou Aqui estreou mundialmente no Festival de Veneza em 6 de setembro de 2024, dirigido por Walter Salles e inspirado no testemunho real de Eunice Paiva sobre o desaparecimento de seu marido durante a ditadura militar, ficou claro que algo profundo estava se movendo. O filme ganhou o prêmio de Melhor Atriz para Fernanda Torres em Veneza; venceu ainda o Prêmio do Júri Ecumênico; e esse percurso culminaria, meses depois, na vitória histórica no Oscar de 2025, na categoria de Melhor Filme Internacional — o primeiro da história do Brasil. A data, 2 de março de 2025, tornou-se um marco: pela primeira vez, o Brasil testemunhava sua própria dor reconhecida como arte universal.
E não se tratava de mero triunfo estético. O país que, entre 2019 e 2022, havia visto sua política cultural desmantelada, suas instituições de fomento secarem e seus realizadores reduzidos a guerrilheiros da sobrevivência, reencontrava, desde 2023, um ecossistema recomposto: o retorno do Ministério da Cultura, a reinclusão plena do audiovisual nas políticas públicas, a retomada dos editais, a reinstalação dos fundos setoriais. Um país que volta a financiar sua cultura volta, inevitavelmente, a produzir seu espelho. E ao produzir seu espelho, volta a existir.
Mas o cinema não vive de passado: ele exige atravessamento. É por isso que a chegada de O Agente Secreto ao Oscar de 2026 não representa apenas continuidade — representa maturidade. Embora ambientado na década de 1970, o filme escancara as estruturas de poder que sobreviveram ao tempo e seguem operando — discretas, adaptadas, mas dolorosamente reconhecíveis no Brasil de hoje. O passado histórico é apenas o cenário; o tema, porém, continua sendo o país que ainda somos.
Kleber Mendonça Filho filma essa travessia com precisão, criando um thriller político em que cada gesto parece conviver com uma ameaça invisível. E no centro desse tabuleiro está Wagner Moura — não como estrela tentando brilhar acima do material, mas como intérprete que compreende a respiração subterrânea da história. “Quanto mais envelheço, mais procuro trazer de mim para o personagem. Arte e política estão muito próximas”, disse em entrevista ao The New York Times, que o incluiu entre as dez atuações mais impressionantes de 2025. Sua fala revela o método, mas também o risco: quanto mais o ator se aproxima de si, mais o país se reconhece na tela.
Como mestre em cinema pela Universidade de Brasília e ex-jurado do Festival do Cinema Brasileiro de Brasília, algumas cenas permanecem alojadas como cicatriz estética. São momentos que não precisam de teoria — apenas de honestidade de espectador.
A primeira acontece no coração do filme: um silêncio demorado, espesso, que antecede a descoberta de um arquivo manipulado. A câmera observa o personagem observando — e essa duplicidade produz um desconforto que apenas o grande cinema é capaz de sustentar. A sensação é que a verdade, ali, não está sendo revelada, mas capturada. A sequência me devolveu às discussões acadêmicas da UnB sobre o poder da pausa: o cinema, quando domina o silêncio, não narra — denuncia.
A segunda cena é uma travessia a céu aberto. Moura caminha, o corpo tenso, os olhos vigilantes, e o espaço ao redor parece conspirar contra ele. Não há heroísmo, não há glória; há o peso de saber que cada passo pode alterar não apenas seu destino, mas o destino de toda a engrenagem política que o cerca. Lembrei-me imediatamente de debates que atravessaram anos de pesquisa: a ética filmada não é um conceito, é um corpo em deslocamento.
A terceira cena é um encontro com uma criança. Não há sentimentalismo. Não há alívio. Há apenas um instante de humanidade crua, uma fresta minúscula de inocência que ilumina — e ao mesmo tempo agrava — tudo que veio antes. Moura afirmou recentemente que “as crianças são os melhores atores do mundo, quando não foram domesticadas”. Essa cena confirma sua tese: a criança não interpreta; existe. E é essa existência que devolve ao filme o que lhe falta no mundo adulto — a possibilidade, ainda que remota, de futuro.
Se essas cenas permanecem, é porque abrem espaço para outra constatação: O Agente Secreto não é um filme sobre os anos 1970, mas sobre a permanência das linhas subterrâneas que conectam aquele período ao presente. A narrativa funciona como radiografia de uma arquitetura de poder que nunca foi plenamente desmontada — apenas trocou de nomes, de métodos, de vocabulário. O filme não acusa o passado; revela sua continuidade.
É por isso que a recepção internacional tem sido tão vigorosa. A Variety — a mais influente publicação de bastidores de Hollywood — projeta que o filme pode alcançar três indicações ao Oscar: Melhor Filme Internacional; Melhor Ator para Wagner Moura, o que seria um feito inédito para um intérprete brasileiro; e a surpreendente possibilidade de concorrer a Melhor Filme, categoria máxima, território onde nações cinematográficas consagradas lutam há décadas para entrar. Já o Globo de Ouro reconheceu Moura na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama, consolidando sua atuação entre as mais potentes do circuito internacional recente — uma indicação que o posiciona no mapa das premiações com força inédita para o Brasil.
A repercussão ultrapassou o campo dos prêmios. O New York Times, ao listá-lo entre os dez intérpretes mais impressionantes do ano, destacou sua capacidade de atuar com a “alegria indomesticável das crianças”. A frase acendeu uma memória pessoal: durante os anos de júri no Festival de Brasília, sempre houve uma atenção especial aos atores que conseguiam romper o molde, que fugiam da previsibilidade, que permitiam ao espectador testemunhar não uma performance, mas um estado.
É exatamente isso que Moura oferece. Ele atua como quem sabe que o cinema brasileiro, depois de sobreviver a um período de asfixia institucional, não pode mais entregar personagens previsíveis, narrativas mornas ou estética de conveniência. Cada gesto na tela é um lembrete de que o país passou perto demais de perder sua cultura; e que, agora, cada obra precisa afirmar a própria existência como quem ergue um grito.
No arco que une Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, há algo maior do que o Oscar — embora o Oscar, em sua dimensão simbólica, funcione como amplificador do gesto. O que realmente está em jogo é o retorno da autoestima cinematográfica brasileira. Um país que volta a se ver volta a imaginar-se. E um país que volta a imaginar-se volta a disputar sua narrativa no mundo.
O que esses dois filmes demonstram, com clareza luminosa, é que o cinema brasileiro não precisa mais pedir autorização para existir. Ele existe porque insiste. Existe porque produz suas memórias e suas denúncias. Existe porque recusa o conforto do silêncio. Existe porque sabe que a história, quando não é filmada, acaba recontada por quem detém o poder — e raramente a conta é justa.
Se Ainda Estou Aqui abriu a porta com a dignidade de quem restitui nomes apagados, O Agente Secreto atravessa essa porta com a coragem de quem enfrenta as sombras que ainda comandam o país. Juntos, eles dizem o essencial: o Brasil voltou a filmar. E um Brasil que filma é um Brasil que respira.
Brasil reafirma sua força criativa na disputa cinematográfica internacional
As jornadas de O Agente Secreto e Ainda Estou Aqui revelam um Brasil que reencontra sua voz no cinema, filmando com precisão, inquietude criativa e coragem para enfrentar seus fantasmas mais persistentes
11 de dezembro de 2025


Ainda Estou Aqui abre a porta; O Agente Secreto decide atravessá-la. E, ao fazê-lo, revela algo ainda maior: o gesto de insistir em existir. É como se dois filmes — diferentes em linguagem, estética e temperatura emocional — compusessem uma mesma frase histórica, um mesmo pulso nacional tentando, de novo, fazer-se ouvir num país acostumado a conviver com o esquecimento. Trata-se, afinal, de uma dobradiça cinematográfica: o passado abre, o presente atravessa, e o futuro observa.
Quando Ainda Estou Aqui estreou mundialmente no Festival de Veneza em 6 de setembro de 2024, dirigido por Walter Salles e inspirado no testemunho real de Eunice Paiva sobre o desaparecimento de seu marido durante a ditadura militar, ficou claro que algo profundo estava se movendo. O filme ganhou o prêmio de Melhor Atriz para Fernanda Torres em Veneza; venceu ainda o Prêmio do Júri Ecumênico; e esse percurso culminaria, meses depois, na vitória histórica no Oscar de 2025, na categoria de Melhor Filme Internacional — o primeiro da história do Brasil. A data, 2 de março de 2025, tornou-se um marco: pela primeira vez, o Brasil testemunhava sua própria dor reconhecida como arte universal.
E não se tratava de mero triunfo estético. O país que, entre 2019 e 2022, havia visto sua política cultural desmantelada, suas instituições de fomento secarem e seus realizadores reduzidos a guerrilheiros da sobrevivência, reencontrava, desde 2023, um ecossistema recomposto: o retorno do Ministério da Cultura, a reinclusão plena do audiovisual nas políticas públicas, a retomada dos editais, a reinstalação dos fundos setoriais. Um país que volta a financiar sua cultura volta, inevitavelmente, a produzir seu espelho. E ao produzir seu espelho, volta a existir.
Mas o cinema não vive de passado: ele exige atravessamento. É por isso que a chegada de O Agente Secreto ao Oscar de 2026 não representa apenas continuidade — representa maturidade. Embora ambientado na década de 1970, o filme escancara as estruturas de poder que sobreviveram ao tempo e seguem operando — discretas, adaptadas, mas dolorosamente reconhecíveis no Brasil de hoje. O passado histórico é apenas o cenário; o tema, porém, continua sendo o país que ainda somos.
Kleber Mendonça Filho filma essa travessia com precisão, criando um thriller político em que cada gesto parece conviver com uma ameaça invisível. E no centro desse tabuleiro está Wagner Moura — não como estrela tentando brilhar acima do material, mas como intérprete que compreende a respiração subterrânea da história. “Quanto mais envelheço, mais procuro trazer de mim para o personagem. Arte e política estão muito próximas”, disse em entrevista ao The New York Times, que o incluiu entre as dez atuações mais impressionantes de 2025. Sua fala revela o método, mas também o risco: quanto mais o ator se aproxima de si, mais o país se reconhece na tela.
Como mestre em cinema pela Universidade de Brasília e ex-jurado do Festival do Cinema Brasileiro de Brasília, algumas cenas permanecem alojadas como cicatriz estética. São momentos que não precisam de teoria — apenas de honestidade de espectador.
A primeira acontece no coração do filme: um silêncio demorado, espesso, que antecede a descoberta de um arquivo manipulado. A câmera observa o personagem observando — e essa duplicidade produz um desconforto que apenas o grande cinema é capaz de sustentar. A sensação é que a verdade, ali, não está sendo revelada, mas capturada. A sequência me devolveu às discussões acadêmicas da UnB sobre o poder da pausa: o cinema, quando domina o silêncio, não narra — denuncia.
A segunda cena é uma travessia a céu aberto. Moura caminha, o corpo tenso, os olhos vigilantes, e o espaço ao redor parece conspirar contra ele. Não há heroísmo, não há glória; há o peso de saber que cada passo pode alterar não apenas seu destino, mas o destino de toda a engrenagem política que o cerca. Lembrei-me imediatamente de debates que atravessaram anos de pesquisa: a ética filmada não é um conceito, é um corpo em deslocamento.
A terceira cena é um encontro com uma criança. Não há sentimentalismo. Não há alívio. Há apenas um instante de humanidade crua, uma fresta minúscula de inocência que ilumina — e ao mesmo tempo agrava — tudo que veio antes. Moura afirmou recentemente que “as crianças são os melhores atores do mundo, quando não foram domesticadas”. Essa cena confirma sua tese: a criança não interpreta; existe. E é essa existência que devolve ao filme o que lhe falta no mundo adulto — a possibilidade, ainda que remota, de futuro.
Se essas cenas permanecem, é porque abrem espaço para outra constatação: O Agente Secreto não é um filme sobre os anos 1970, mas sobre a permanência das linhas subterrâneas que conectam aquele período ao presente. A narrativa funciona como radiografia de uma arquitetura de poder que nunca foi plenamente desmontada — apenas trocou de nomes, de métodos, de vocabulário. O filme não acusa o passado; revela sua continuidade.
É por isso que a recepção internacional tem sido tão vigorosa. A Variety — a mais influente publicação de bastidores de Hollywood — projeta que o filme pode alcançar três indicações ao Oscar: Melhor Filme Internacional; Melhor Ator para Wagner Moura, o que seria um feito inédito para um intérprete brasileiro; e a surpreendente possibilidade de concorrer a Melhor Filme, categoria máxima, território onde nações cinematográficas consagradas lutam há décadas para entrar. Já o Globo de Ouro reconheceu Moura na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama, consolidando sua atuação entre as mais potentes do circuito internacional recente — uma indicação que o posiciona no mapa das premiações com força inédita para o Brasil.
A repercussão ultrapassou o campo dos prêmios. O New York Times, ao listá-lo entre os dez intérpretes mais impressionantes do ano, destacou sua capacidade de atuar com a “alegria indomesticável das crianças”. A frase acendeu uma memória pessoal: durante os anos de júri no Festival de Brasília, sempre houve uma atenção especial aos atores que conseguiam romper o molde, que fugiam da previsibilidade, que permitiam ao espectador testemunhar não uma performance, mas um estado.
É exatamente isso que Moura oferece. Ele atua como quem sabe que o cinema brasileiro, depois de sobreviver a um período de asfixia institucional, não pode mais entregar personagens previsíveis, narrativas mornas ou estética de conveniência. Cada gesto na tela é um lembrete de que o país passou perto demais de perder sua cultura; e que, agora, cada obra precisa afirmar a própria existência como quem ergue um grito.
No arco que une Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, há algo maior do que o Oscar — embora o Oscar, em sua dimensão simbólica, funcione como amplificador do gesto. O que realmente está em jogo é o retorno da autoestima cinematográfica brasileira. Um país que volta a se ver volta a imaginar-se. E um país que volta a imaginar-se volta a disputar sua narrativa no mundo.
O que esses dois filmes demonstram, com clareza luminosa, é que o cinema brasileiro não precisa mais pedir autorização para existir. Ele existe porque insiste. Existe porque produz suas memórias e suas denúncias. Existe porque recusa o conforto do silêncio. Existe porque sabe que a história, quando não é filmada, acaba recontada por quem detém o poder — e raramente a conta é justa.
Se Ainda Estou Aqui abriu a porta com a dignidade de quem restitui nomes apagados, O Agente Secreto atravessa essa porta com a coragem de quem enfrenta as sombras que ainda comandam o país. Juntos, eles dizem o essencial: o Brasil voltou a filmar. E um Brasil que filma é um Brasil que respira.
Sessão da Câmara transforma deputados em lutadores e jornalistas em intrusos
Enquanto Glauber Braga é arrancado e rasgado, a TV Câmara é desligada e Hugo Motta diz não saber por quê; dois pesos duas medidas se tornam política pública
10 de dezembro de 2025


O plenário da Câmara, que deveria ser território do verbo, virou arena de corpo contra corpo. A sessão que antecedia a votação de cassação de Glauber Braga (PSOL-RJ) degenerou em pancadaria, paletó rasgado, seguranças avançando, parlamentares empurrados — enquanto a imprensa era expulsa do plenário e o sinal da TV Câmara simplesmente desaparecia do ar.
Não foi falha técnica: foi blackout político. A ausência súbita de imagem, som e registro institucional não é silêncio — é censura luminosa. É quando o poder decide calar o país, não pela palavra, mas pela interrupção dela.
A cena registrada apenas por celulares de parlamentares e repórteres expôs fissuras profundas do Parlamento. O deputado ocupou a cadeira da presidência como protesto, algo passível de punição regimental, mas passível também de diálogo — alternativa que não foi sequer tentada.
O que chocou não foi o protesto, e sim o método para reprimi-lo: uso da força, expulsão da imprensa, corte da transmissão. Três golpes contra a democracia na mesma tarde, cometidos dentro do órgão que deveria defendê-la.
E é impossível ignorar o símbolo maior dessa escuridão momentânea: Óscar Niemeyer projetou os plenários da Câmara e do Senado sem janelas para que a imprensa fosse os olhos da sociedade brasileira. Não há vidro para o povo mirar — há câmeras. Por isso desligá-las não é simples decisão técnica: é fechar o único olho que a arquitetura deixou aberto.
Lastimável também ver o contraste na cobertura jornalística, especialmente na GloboNews. Enquanto Natuza Nery, Gabeira, Ana Flor, Otávio Guedes e Flávia Oliveira exerciam análise com sobriedade e senso crítico, havia no ar a busca pela compreensão e não pela vingança.
Já Joel Fonseca, também da GN, escorregou para o jornalismo de lado escolhido, quando a opinião vem antes do fato e o enquadramento serve ao impulso emocional. Chamou o ato de Glauber de “showzinho”, defendeu a ação violenta da polícia legislativa e tratou a cassação como espetáculo merecido.
Seus colegas não embarcaram nessa deriva ideológica. E não é coincidência que a GloboNews oscile em 0,3 pontos — cerca de 90 mil espectadores em um país com mais de 213 milhões de habitantes. Jornalismo sem pluralidade vira eco. E eco, por mais alto que reverbere, não tem força para iluminar.
Sobre Hugo Motta, presidente da Câmara, o constrangimento cresce. Vive aquilo que a rainha Elizabeth chamaria de annus horribilis: decisões erráticas, autoridade frágil, polícia legislativa que age sem coordenação clara, como se o comando fosse líquido e escorresse pelas mãos.
A cadeira que ocupa parece ter dobrado de tamanho diante dele. Alterna punições como quem busca equilíbrio visual: pune à direita aqui, à esquerda ali, imaginando que simetria formal signifique justiça material. Não significa. Justiça não nasce do espelho, mas do critério.
E é aqui que o país engasga: a Câmara tem usado e abusado de dois pesos e duas medidas. Pelo mesmo ato — ocupar a presidência do plenário — alguns parlamentares recebem advertência leve ou suspensão temporária, muitas vezes por noventa dias, enquanto outros são condenados à cassação plena, acompanhada de inelegibilidade. A régua muda conforme o rosto. A pena varia conforme o lado. A ofensa é idêntica, mas o veredito não. Chamam isso de disciplina, mas a pergunta se impõe: será justiça ou cálculo político? Democracia não pode funcionar como balança de feira — onde um lado pesa mais porque convém pesar mais.
Motta nega ter ordenado o corte da TV e a retirada de jornalistas. Mas se não ordenou, quem ordenou? Se alguém decide no lugar dele, preside pouco. Se decide e depois desmente, comunica insegurança. Há uma sombra sobre o poder quando o próprio presidente não sabe — ou não admite — quem apagou a luz.
O episódio não é isolado. Meses atrás, deputados de direita sentaram-se na mesma cadeira presidencial e transmitiram ao vivo, sob risos e celulares erguidos. Não houve força policial. Não houve blackout. Não houve escorraçamento da imprensa. A equidade claudica quando pesos distintos medem atos semelhantes — e isso fere o espírito republicano.
Não se trata de absolver Glauber. Ocupar a mesa é afronta regimental e pede resposta. Mas a resposta não pode vir vestida de truculência nem empunhada no escuro. Parlamento sem imprensa é sala fechada. E sala fechada é penumbra; penumbra é terreno fértil para abusos.
Nas imagens que escaparam pelas brechas, vemos deputadas ao chão e um cocar indígena pisoteado, símbolos em ruína sob o tapete azul. Vemos portas fechadas e jornalistas barrados tentando exercer o direito mais elementar da República: ver para contar.
O risco agora é o costume. Se o país normaliza a violência em plenário, normaliza também a invisibilidade. Cada câmera desligada é um centímetro de sombra que avança. E sombras, quando crescem, pedem morada.
O que resta é investigação. Com nome, com responsabilidade e com consequências — não apenas notas mornas ou gestos protocolares. Quem deu a ordem? Quem desligou as imagens? Quem decidiu que o povo não deveria ver o que lhe pertence por direito?
Hoje a democracia tropeçou — mas não caiu. Manca, respira e pede luz. Que amanhã as câmeras sejam ligadas antes do primeiro golpe de voz, e que ninguém ouse apagá-las. Porque política suporta gritos e crises — mas não sobrevive à escuridão.
Que se acenda a República, enquanto ainda há quem queira vê-la.
Um tapete verde não escondeu o vermelho da vergonha
Enquanto Glauber Braga é arrancado e rasgado, a TV Câmara é desligada e Hugo Motta diz não saber por quê; dois pesos duas medidas se tornam política pública
10 de dezembro de 2025


O plenário da Câmara, que deveria ser território do verbo, virou arena de corpo contra corpo. A sessão que antecedia a votação de cassação de Glauber Braga (PSOL-RJ) degenerou em pancadaria, paletó rasgado, seguranças avançando, parlamentares empurrados — enquanto a imprensa era expulsa do plenário e o sinal da TV Câmara simplesmente desaparecia do ar.
Não foi falha técnica: foi blackout político. A ausência súbita de imagem, som e registro institucional não é silêncio — é censura luminosa. É quando o poder decide calar o país, não pela palavra, mas pela interrupção dela.
A cena registrada apenas por celulares de parlamentares e repórteres expôs fissuras profundas do Parlamento. O deputado ocupou a cadeira da presidência como protesto, algo passível de punição regimental, mas passível também de diálogo — alternativa que não foi sequer tentada.
O que chocou não foi o protesto, e sim o método para reprimi-lo: uso da força, expulsão da imprensa, corte da transmissão. Três golpes contra a democracia na mesma tarde, cometidos dentro do órgão que deveria defendê-la.
E é impossível ignorar o símbolo maior dessa escuridão momentânea: Óscar Niemeyer projetou os plenários da Câmara e do Senado sem janelas para que a imprensa fosse os olhos da sociedade brasileira. Não há vidro para o povo mirar — há câmeras. Por isso desligá-las não é simples decisão técnica: é fechar o único olho que a arquitetura deixou aberto.
Lastimável também ver o contraste na cobertura jornalística, especialmente na GloboNews. Enquanto Natuza Nery, Gabeira, Ana Flor, Otávio Guedes e Flávia Oliveira exerciam análise com sobriedade e senso crítico, havia no ar a busca pela compreensão e não pela vingança.
Já Joel Fonseca, também da GN, escorregou para o jornalismo de lado escolhido, quando a opinião vem antes do fato e o enquadramento serve ao impulso emocional. Chamou o ato de Glauber de “showzinho”, defendeu a ação violenta da polícia legislativa e tratou a cassação como espetáculo merecido.
Seus colegas não embarcaram nessa deriva ideológica. E não é coincidência que a GloboNews oscile em 0,3 pontos — cerca de 90 mil espectadores em um país com mais de 213 milhões de habitantes. Jornalismo sem pluralidade vira eco. E eco, por mais alto que reverbere, não tem força para iluminar.
Sobre Hugo Motta, presidente da Câmara, o constrangimento cresce. Vive aquilo que a rainha Elizabeth chamaria de annus horribilis: decisões erráticas, autoridade frágil, polícia legislativa que age sem coordenação clara, como se o comando fosse líquido e escorresse pelas mãos.
A cadeira que ocupa parece ter dobrado de tamanho diante dele. Alterna punições como quem busca equilíbrio visual: pune à direita aqui, à esquerda ali, imaginando que simetria formal signifique justiça material. Não significa. Justiça não nasce do espelho, mas do critério.
E é aqui que o país engasga: a Câmara tem usado e abusado de dois pesos e duas medidas. Pelo mesmo ato — ocupar a presidência do plenário — alguns parlamentares recebem advertência leve ou suspensão temporária, muitas vezes por noventa dias, enquanto outros são condenados à cassação plena, acompanhada de inelegibilidade. A régua muda conforme o rosto. A pena varia conforme o lado. A ofensa é idêntica, mas o veredito não. Chamam isso de disciplina, mas a pergunta se impõe: será justiça ou cálculo político? Democracia não pode funcionar como balança de feira — onde um lado pesa mais porque convém pesar mais.
Motta nega ter ordenado o corte da TV e a retirada de jornalistas. Mas se não ordenou, quem ordenou? Se alguém decide no lugar dele, preside pouco. Se decide e depois desmente, comunica insegurança. Há uma sombra sobre o poder quando o próprio presidente não sabe — ou não admite — quem apagou a luz.
O episódio não é isolado. Meses atrás, deputados de direita sentaram-se na mesma cadeira presidencial e transmitiram ao vivo, sob risos e celulares erguidos. Não houve força policial. Não houve blackout. Não houve escorraçamento da imprensa. A equidade claudica quando pesos distintos medem atos semelhantes — e isso fere o espírito republicano.
Não se trata de absolver Glauber. Ocupar a mesa é afronta regimental e pede resposta. Mas a resposta não pode vir vestida de truculência nem empunhada no escuro. Parlamento sem imprensa é sala fechada. E sala fechada é penumbra; penumbra é terreno fértil para abusos.
Nas imagens que escaparam pelas brechas, vemos deputadas ao chão e um cocar indígena pisoteado, símbolos em ruína sob o tapete azul. Vemos portas fechadas e jornalistas barrados tentando exercer o direito mais elementar da República: ver para contar.
O risco agora é o costume. Se o país normaliza a violência em plenário, normaliza também a invisibilidade. Cada câmera desligada é um centímetro de sombra que avança. E sombras, quando crescem, pedem morada.
O que resta é investigação. Com nome, com responsabilidade e com consequências — não apenas notas mornas ou gestos protocolares. Quem deu a ordem? Quem desligou as imagens? Quem decidiu que o povo não deveria ver o que lhe pertence por direito?
Hoje a democracia tropeçou — mas não caiu. Manca, respira e pede luz. Que amanhã as câmeras sejam ligadas antes do primeiro golpe de voz, e que ninguém ouse apagá-las. Porque política suporta gritos e crises — mas não sobrevive à escuridão.
Que se acenda a República, enquanto ainda há quem queira vê-la.
STF endurece o acesso ao impeachment e expõe o desgaste da política de espetáculo
Gilmar Mendes suspende trechos da Lei 1.079/1950, restringe denúncias à PGR, exige quórum de 54 senadores e protege o Judiciário do uso político do impeachment
05 de dezembro de 2025


Num país que aprendeu a conviver com crises como quem convive com cicatrizes, o dia de ontem (3), não foi apenas um dia a mais no calendário — foi um clarão no céu institucional anunciando que as regras antigas já não sustentam tempestades novas, ou seja, já não têm a força estrutural necessária para resistir às pressões, conflitos e complexidades políticas do presente.
Gilmar Mendes puxou o freio de emergência na locomotiva jurídica de 1950, atendendo às ADPFs 1.259 e 1.260, ajuizadas pelo partido Solidariedade e pela AMB — Associação dos Magistrados Brasileiros, entidade nacional que representa juízes de todas as esferas e atua na defesa da independência judicial e das prerrogativas da magistratura. A liminar suspendeu dispositivos da Lei nº 1.079/1950, nascida sob a Constituição de 1946, permitindo que o país encare, finalmente, a pergunta incômoda: como responsabilizar um ministro do STF sem transformar o impeachment em arma política ou espetáculo de ocasião?
A partir da decisão, só a Procuradoria-Geral da República pode apresentar denúncias. Acaba a fila de pedidos improvisados no Senado, entregues como garrafas lançadas ao mar com esperança de que alguma alcance a praia do plenário.
A política perde um atalho. Ganha o Ministério Público — e ganha o país.
Em linguagem jornalística, restringe-se o uso do impeachment como pauta fabricada de momento, semelhante ao que nas redes sociais chamamos de trending topic: assunto que explode, viraliza, produz mais calor que luz e desaparece no dia seguinte.
Outro freio decisivo: o processo só se abre com dois terços do Senado — 54 dos 81 senadores. Antes bastavam 41. Não é detalhe aritmético; é mudança sísmica. Impeachment deixa de ser obra de ocasião e passa a exigir consenso e prova robusta. Democracia madura agradece quando a emoção cede lugar ao critério. Também caiu o afastamento automático do ministro ao instaurar o processo. Agora só em casos excepcionais e fundamentados. O país conhece o preço das decisões tomadas no calor da noite. Justiça não combina com adrenalina.
Outro ponto crucial: divergência de voto não é crime de responsabilidade. Ministro não existe para agradar plateia, e sim para interpretar a Constituição. Sem isso, o Supremo viraria extensão ruidosa do Congresso, e a Constituição, cardápio de restaurante.
O decano do STF Gilmar Mendes citou a Hungria como exemplo histórico. Lá, o enfraquecimento do Judiciário não foi terremoto; foi infiltração lenta. Democracias raramente acabam com estrondo — apodrecem em silêncio. Isso também me faz lembrar a sentença de Nietzsche: revoluções não acontecem com barulho, elas vêm com pés de pombo.
Há quem tema blindagem excessiva. Há quem veja avanço republicano. Surge a pergunta que insiste em não ser calada: protegemos ministros ou instituições? Talvez ambos. Talvez o país esteja apenas abandonando o hábito recente de transformar impeachment em combustível de live.
E como o mundo faz?
Nos Estados Unidos, impeachment de juiz da Suprema Corte exige aprovação na Câmara e condenação no Senado por dois terços; só um foi removido desde 1789. Na França, membros do Conselho Constitucional têm mandato fixo e não podem ser destituídos por divergência jurisprudencial. Na Alemanha, remoção exige dois terços do Bundestag e do Bundesrat e apenas por violação deliberada da Constituição.
O Brasil agora ensaia convergência a esse modelo de filtro alto e porta estreita.
Entre 12 e 19 de dezembro, o plenário decidirá o futuro da liminar. Mas algo mudou: debatemos teoria constitucional no café, responsabilização no jantar e independência judicial no horário nobre. Isso tem peso histórico. Passado o susto, as marolas e as espumas, o tecido institucional brasileiro sairá melhor, muito melhor, melhor preparado para esses tempos atravessados e, acima de tudo, estável.
Se o Supremo mantiver a decisão, o impeachment volta ao lugar certo: tribunal, prova, rito. Se cair, voltaremos ao balcão de denúncias improvisadas. Democracias exigem coragem para frear excessos e igual coragem para punir desvios.
Porque, no fim, não discutimos ministros, mas o país que queremos ser — um que pensa antes de reagir, ou um que reage antes de pensar. E esta resposta, se errada, pode custar décadas, talvez gerações, deixando marcas profundas demais para serem ignoradas. Que venham os debates.
De Antônio Vieira a Alessandro Vieira, quatro séculos em conflito
Sob o PL Antifacção, infiltrados passam a integrar operações secretas e penas chegam a 120 anos, com reforço direto à Polícia Federal e novas formas de investigação.
03 de dezembro de 2025


No Senado Federal, esta terça-feira amanheceu com cheiro de balanço histórico. Não daqueles balanços triunfais, mas dos momentos em que a República se encara no espelho, reconhece suas rachaduras e, ainda assim, tenta recompor a postura antes de seguir adiante.
Na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Alessandro Vieira apresentou o relatório do PL Antifacção, versão robusta e tensa da velha crença de que o crime organizado se derrota com força bruta, nunca com inteligência de Estado. A cena não foi apenas jurídica: foi simbólica.
Foram 79 páginas de relatório e voto, acompanhadas de um substitutivo completo, reescrevendo o texto embaralhado que veio da Câmara. Só isso já revela o estado das coisas: o projeto nasceu fragmentado, atravessou um labirinto legislativo e chegou ao Senado tentando parecer reforma sólida, mas carregando remendos de sobra.
Mesmo assim, o dia deixou evidente que a discussão já ultrapassou o campo penal. O que estava em jogo era a silhueta do Estado brasileiro — suas crenças, seus medos e sua incapacidade histórica de lidar com os territórios que perdeu.
O centro do relatório é o novo tipo penal de “facção criminosa”, agora qualificado na Lei de Organizações Criminosas. O texto estabelece controle territorial, atuação interestadual e uso de violência organizada como elementos estruturantes, definindo pena-base entre 15 e 30 anos. É a confissão tardia de que facções deixaram de ser grupos e se tornaram poderes paralelos.
O parecer também equipara milícias a facções, reconhecendo que ambas funcionam como engrenagens criminosas que ocupam espaços que o Estado abandonou. É um reconhecimento duro: parte do território nacional se tornou laboratório para soberanias clandestinas.
As penas podem ultrapassar 120 anos, principalmente para lideranças, que só progredirão após cumprir 85% do total. É a tentativa de erguer um muro penal para compensar a ausência de muros institucionais, falha histórica da República. Dura, porém insuficiente.
O relatório reorganiza medidas assecuratórias, reescreve trechos do CPP e mantém a Ação Civil de Perdimento apenas para hipóteses em que não houver confisco penal possível, evitando dupla punição pelo mesmo fato (o chamado “bis in idem” no Direito). Ainda assim, permanece o confisco imprescritível de bens ilícitos — ferramenta poderosa, que exige o que ainda não temos de forma sólida: provas consistentes, rastros transparentes, investigação qualificada.
No campo das investigações, o parecer abre portas largas. Autoriza infiltrações com identidades fictícias, inclusive empresas de fachada desenhadas para operações clandestinas. Permite que gravações ambientais feitas por um interlocutor sirvam de prova de acusação.
Além disso, reforça o acesso de delegados e membros do Ministério Público aos relatórios do Coaf, aprofundando o monitoramento financeiro. O salto investigativo é expressivo, mas o salto equivalente em salvaguardas não veio. E é desse descompasso que nasce o risco.
Na seara constitucional, Vieira consertou destroços deixados pela Câmara. Rejeitou equiparação de facções a terrorismo, evitando um atalho perigoso. Retirou a vedação ao auxílio-reclusão e ao voto, preservando direitos de matriz constitucional que não se apagam por lei ordinária.
Também negou execução penal após condenação em primeira instância e descartou a ideia de preso pagar o Estado, proposta que exigiria reforma mais ampla. Restabeleceu o Tribunal do Júri em homicídios ligados ao crime organizado, mas fortaleceu a proteção aos jurados, hoje vulneráveis em regiões dominadas por facções.
Nada, porém, provocou tanto assombro quanto a CIDE-Bets — contribuição sobre apostas eletrônicas apresentada como fonte de até R$ 30 bilhões por ano para financiar o combate ao crime. Uma cifra celebrada antes mesmo de se saber se é factível, sustentável ou juridicamente estável.
No capítulo dos riscos, o relatório admite o mais evidente: a pressão sobre um sistema prisional já saturado. A soma de penas longas, progressão rígida e novos tipos penais é receita pronta para agravar o hiperencarceramento. E sabemos quem entra primeiro nesse funil.
Outro ponto sensível é a definição de “controle territorial”. Onde termina a sociabilidade comunitária e começa a tipificação penal? Em regiões omitidas pelo Estado, essa fronteira é turva. E o país, sempre que falha em entender um fenômeno, tende a tratá-lo como ameaça — prática que já custou vidas e reputações.
É nesse debate sobre recuperabilidade ou condenação definitiva que a História impõe uma dobra. Dois Vieiras, quatro séculos de distância, narram essa disputa moral com precisão quase cruel.
1655: Padre Antônio Vieira sobe ao púlpito, abre Lucas 23:43 e cita a frase que, no latim da Vulgata — “Hodie mecum eris in paradiso” — significa: “Hoje estarás comigo no Paraíso.” Cristo concede ao bom ladrão o perdão imediato, bastando uma súplica sincera. Para o jesuíta, ninguém estava irremediavelmente perdido.
2025: Senador Alessandro Vieira apresenta um relatório que prevê penas que podem chegar a 120 anos, progressão mínima e indulto interditado para chefes de facções. A porta estreita do perdão, que o sermão de quatro séculos atrás mantinha aberta, agora é selada por camadas de legislação penal.
Entre um Vieira e outro, o país substituiu a gramática da graça pela engenharia da punição. Um proclamava que a redenção alcança até o condenado da última hora.
O outro sustenta que o crime organizado, enquanto estrutura, não volta ao convívio civilizado. Hoje o bom ladrão não pede perdão — administra territórios, impõe regras, financia campanhas.
E, entre Estado e crime, acabou a graça.
Outros pontos seguem pedindo vigilância: o poder ampliado de investigação financeira, o confisco civil, a promessa bilionária das apostas. Nenhum deles vem acompanhado de mecanismos robustos de controle ou transparência.
No fim do dia, o relatório de Alessandro Vieira realiza um duplo movimento: corrige equívocos graves da Câmara, mas fortalece uma aposta radical na lógica da guerra interna. Técnica e politicamente, a mensagem é clara: endurecer é prioridade, equilibrar não é.
O país enfrenta facções que já funcionam como governos paralelos. Mas, ao erguer uma máquina penal gigantesca financiada por apostas eletrônicas, o Senado entrega um recado ambíguo. Falta a mesma energia para investir em políticas sociais, presença estatal e reconstrução institucional.
Não se combate o crime organizado apenas com prisões longas. Combate-se com Estado. E, sobretudo, com a coragem de admitir que nenhum muro substitui o abandono — e nenhum país resiste quando decide virar as costas para os seus próprios fundamentos.
A longa invenção da adolescência
Cambridge mostra que a adolescência prolongada redefine juventude e adultez, exigindo que sociedades repensem direitos, expectativas e limites
03 de dezembro de 2025


A pesquisa divulgada hoje pela Universidade de Cambridge, publicada na Nature Communications, derrubou mais um tijolo das certezas com que organizamos a vida. Segundo os cientistas, o cérebro humano só alcança sua maturidade estrutural por volta dos 32 anos. Antes disso, permanece em transição: redes em reorganização, conexões sendo refinadas e impulsos em processo de moderação. A adolescência, que já se imaginou terminada aos 18 e, depois, aos 25, agora se estende até o limiar dos 30 e poucos.
Do ponto de vista neurológico, portanto, seguimos adolescentes por mais tempo do que a cultura jamais supôs. E isso tem implicações que atravessam política pública, vida familiar, mercado de trabalho e saúde mental.
Como psicanalista, observo algo similar nos consultórios: grande parte dos conflitos que chegam à mesa não provém de patologias graves, mas de transições mal compreendidas. A vida exige respostas adultas de pessoas cujo aparelho psíquico e neurológico ainda está tateando, construindo rotas internas e tornando-se capaz de articular desejo, responsabilidade e consequência de modo mais estável. A ciência agora confirma o que a clínica percebe há décadas: há um descompasso entre a pressa social e o ritmo real de amadurecimento.
Se interpretarmos os dados de Cambridge como a nova régua da biologia, não podemos esquecer que a cultura também modela suas próprias fronteiras. A adolescência, como entendemos hoje, nasceu no pós-Segunda Guerra, quando sociedades industrializadas criaram um espaço entre infância e adultez para permitir experimentação, formação prolongada e certa licença para errar. Era o tempo de ser jovem, com seus rituais, modas e discursos próprios.
Mas, na prática, o jovem era — e ainda é — um “adulto café com leite”: alguém autorizado a circular perto do mundo adulto sem receber todo o peso das consequências. O estudo não amplia apenas um conceito; amplia a moldura que sustenta nossa interpretação da experiência humana. Para a neurociência, o cérebro só alcança uma organização adulta robusta aos 32 anos. Para a cultura, essa passagem sempre dependeu de ritos que hoje perderam nitidez: casar, adquirir casa própria, pagar as próprias contas, assumir responsabilidades duradouras.
Com tais marcos dissolvidos ou adiados, o corpo social já percebia a prolongação da juventude. Faltava o selo biológico.
A vida adulta que encolhe
A descoberta introduz um paradoxo inquietante: se a adolescência agora termina aos 32 e o início da velhice se aproxima dos 60, a adultez — esse território de equilíbrio entre potência e estabilidade — torna-se uma faixa mais estreita. O sujeito que atravessa os trinta ainda está concluindo ajustes internos e, pouco depois, já percebe os primeiros sinais de reorganização típica do envelhecimento.
Não se trata de tragédia biológica, mas de uma mudança estrutural que exige revisão das expectativas sociais. Continuamos pedindo decisões definitivas — carreira, filhos, endividamento de longo prazo — justamente quando o cérebro está no auge da vulnerabilidade adaptativa. Nas pontas desse arco, aumentam diagnósticos de ansiedade, depressão, impulsividade e dificuldades de organização emocional e financeira. A psicanálise reconhece esse terreno: é o espaço em que a identidade ainda se acomoda, testando limites entre dependência e autonomia.
O estudo de Cambridge foi majoritariamente realizado com dados de países ocidentais de alta renda. Ele descreve um cérebro que pode se dar ao luxo de amadurecer devagar: acesso a escolaridade longa, tempo para experimentação e redes de apoio que permitem adiar responsabilidades domésticas e financeiras. No entanto, boa parte do mundo real não oferece essas condições.
Há jovens que, aos 15, já sustentam a casa; aos 17, cuidam de irmãos; aos 20, enfrentam jornadas precárias de trabalho. Para eles, a adolescência biológica continua existindo, mas é atropelada por necessidades imediatas. A cultura exige adultez de cérebros ainda em construção. Não é coincidência que os índices mais altos de sofrimento psíquico se concentrem justamente nas camadas que amadurecem “na marra”.
O Brasil convive com esses dois extremos: a juventude que permanece na casa dos pais até perto dos trinta e aquela que jamais teve esse privilégio. Um lado ganha tempo; o outro não teve tempo nenhum. A diferença entre eles não é esforço individual — é contexto.
O desafio para as políticas públicas
Se aceitarmos os dados de Cambridge como referência séria, governos não podem continuar tratando a faixa dos 18 aos 30 como uma espécie de vácuo administrativo. É o período mais plástico do cérebro e, por isso mesmo, o mais determinante. Políticas de saúde mental precisam ser contínuas, acessíveis e livres de estigma. Programas educacionais devem prever recomeços e requalificações, porque a maturidade cognitiva só se consolida depois dos 30. E o mundo do trabalho precisa parar de exigir certezas prematuras.
As leis não vão — nem devem — mudar por causa de um estudo. A maioridade civil permanece onde está. Mas a compreensão social precisa acompanhar o conhecimento científico: exigir plenitude adulta aos 18 é ignorar o que a biologia afirma e o que a clínica testemunha.
O estudo de Cambridge não infantiliza ninguém. Ele convida a um olhar mais honesto sobre o tempo humano. A travessia entre adolescência e adultez não é um portão, mas uma ponte. Cada pessoa a atravessa em velocidade própria, negociando impulsos, culpa, ambições e fragilidades. Quem acompanha essa jornada — pais, professores, gestores e terapeutas — precisa reconhecer a delicadeza desse processo.
Se a adolescência neural vai até os 32 anos, isso não nos autoriza a adiar indefinidamente as responsabilidades, mas nos permite substituir a autocrítica feroz por uma disposição mais generosa consigo mesmo. E lembra que, mesmo na fase em que a cultura nos chama de adultos, seguimos todos, por dentro, rascunhos em aperfeiçoamento.
https://www.brasil247.com/blog/a-longa-invencao-da-adolescencia
A face clandestina da Operação Contenção não terminou com os 122 mortos
Deflagrada como espetáculo em 28 de outubro de 2025, a operação expôs policiais furtando armas, manipulando provas e tentando burlar câmeras corporais, comprometendo a credibilidade do próprio Estado.
02 de dezembro de 2025


A crônica do Rio de Janeiro, escrita à bala desde as primeiras rachaduras da República, ganhou em 28 de outubro de 2025 um capítulo tão escuro que a realidade pareceu ultrapassar a ficção policial. Naquele dia, a chamada Operação Contenção transformou os complexos do Alemão e da Penha num inventário de devastação: 122 mortos ao final, sendo 117 pessoas classificadas pelo governo como suspeitas e 5 policiais que tombaram no confronto. O Rio assistiu, paralisado, à tentativa de rebatizar violência massiva como eficiência, como se o acúmulo de corpos pudesse compensar a ausência de estratégia, coordenação e ética institucional que deveria guiar qualquer ação pública.
O que as câmeras corporais revelaram nos dias seguintes não foi exceção nem falha pontual: foi o retrato de uma estrutura fraturada. Policiais do BOPE flagrados furtando armas, radiotransmissores e acessórios táticos; tentando ocultar gravações; desmontando veículos apreendidos; e se referindo aos bens de apreensão como quem divide o despojo de uma guerra privada.
Um deles examina uma cozinha e comenta: “Vê se tem uma coisinha aí pra levar.” Ao encontrar uma AK-47, arremata: “É ruim entregar esse daqui; vai ficar com a gente.” Essas cenas desmontam, com frieza documental, a narrativa oficial de que desvios seriam acidentes isolados. Revelam, com clareza desconfortável, momentos em que o Estado adota métodos que o aproximam perigosamente daqueles que deveria combater.
À medida em que essas imagens se acumulam, uma memória insistente retorna. Às três da manhã, volta a batida na porta e o refrão de Chico: “Chama o ladrão!”. Em 1974, no auge dos anos de chumbo, Acorda Amor parecia samba leve sobre ciúme; mas quem vivia a verdade subterrânea daqueles tempos sabia: o ladrão era o próprio Estado — o Estado que invadia, sequestrava e matava no escuro. A canção driblou a censura com ironia feroz, transformou medo em denúncia e deu voz a uma geração que dormia de sobressalto. Hoje, quando novas ações policiais tentam vender brutalidade como eficiência, o refrão ressurge com a mesma urgência: acorda, amor. Chama o ladrão. Não porque o crime mereça absolvição, mas porque parte do Estado insiste em repetir, com nova farda e velha lógica, o papel do invasor noturno.
Ao longo dos anos, acompanhando de perto o descompasso entre o que o Estado promete e o que entrega, tornou-se impossível ignorar uma percepção recorrente: o Rio não fracassa por falta de força, mas porque o Estado perde o domínio da própria integridade. Quando agentes encarregados de garantir a proteção pública reproduzem desvios que corroem seus próprios fundamentos, toda tentativa de ordem já nasce comprometida.
Essa erosão antecede a chegada ao morro; brota no quartel, na falta de controle interno, na normalização do excepcional, nas brechas disciplinares que se tornam rotina. O resultado é uma operação que tenta impor autoridade pela força enquanto desmancha, nos bastidores, a credibilidade que deveria sustentá-la.
É nesse vácuo institucional que o eco de Chico Buarque se torna mais que memória cultural: torna-se advertência histórica sobre o perigo de um Estado que alterna papéis entre guardião e agressor.
Ao observar, repetidas vezes, a forma como políticas de segurança são justificadas, torna-se impossível ignorar um padrão incômodo: a transformação da letalidade em métrica de desempenho. A insistência em comemorar operações que ampliam a contagem de corpos, mas não entregam estabilidade duradoura, diz menos sobre sucesso e mais sobre um desvio de propósito.
É ilusório afirmar que a Operação Contenção foi um êxito. Se tivesse sido, o Alemão estaria mais seguro; a Penha estaria mais segura; o Rio exibiria ao menos um sinal mínimo de pacificação. O que restou, porém, foi um rastro de medo, descrédito e vulnerabilidade — cenário que reitera a distância entre discurso e realidade.
A convivência prolongada com debates de segurança e direitos humanos deixa uma certeza difícil de afastar: a batalha decisiva no Rio não é territorial, e sim de confiança.
O crime se organiza porque o Estado hesita; e sempre que agentes públicos recorrem a práticas que ecoam as das facções, o último fio de referência da população se rompe. Sem confiança, a autoridade perde substância, e o poder público se torna apenas mais um ator armado disputando espaço num território exausto.
As câmeras corporais comprovaram sua utilidade: sem elas, nada do que ocorreu viria à luz. Mas o modelo atual permite manipulações que abalam qualquer política séria de controle institucional. O Rio precisa de um sistema em que a gravação seja ininterrupta, transmitida em tempo real para centrais externas, dotada de metadados invioláveis e obrigatória em todas as incursões, incluindo as de unidades especiais. Transparência que depende da vontade de quem está sendo monitorado não é transparência — é artifício.
A recuperação da autoridade estatal não pode ser remendo, e sim reconstrução. Isso exige monitoramento de enriquecimento incompatível; integração plena entre PM, Polícia Civil e Polícia Federal; fortalecimento real das áreas de inteligência; formação contínua em técnicas de redução de danos; e responsabilização dos comandos que toleram desvios.
Essa reconstrução ultrapassa o debate corporativo. É tarefa de Estado — e precisa sobreviver aos ciclos de governo. O Rio só terá chance de respirar quando a autoridade que sobe o morro representar, sem fissuras, a lei que diz defender.
A Operação Contenção expôs, com dureza, as limitações de um modelo que insiste em chamar de vitória aquilo que foi mais um fracasso.
O Rio não precisa de operações espetaculares; precisa de instituições sólidas. Precisa de um Estado que concorra com o crime por aquilo que o crime não tem: credibilidade, integridade e rumo.
Enquanto o poder público insistir em disputar território usando métodos que o aproximam de quem deveria combater, continuará colecionando cifras de mortos e perdendo a única batalha que realmente importa: a da confiança da sociedade.
E, nesse cenário, a lembrança de Chico permanece como advertência: quando a fronteira entre proteção e ameaça se confunde, o povo volta a chamar o ladrão — não para abrir a porta, mas para identificar quem insiste em atravessá-la com a farda errada.
A cidade seguirá nesse limbo até que decida reconstruir sua autoridade antes de tentar reconstruir o morro.
A Libertadores confirmou o Flamengo como a maior força de atenção do Brasil
Triunfo em Lima revela um clube convertido em força cultural, onde gestão meticulosa, comunidade massiva e método constante moldam poder que transcende futebol
30 de novembro de 2025


A vitória por 1 x 0 sobre o Palmeiras, na final da Libertadores disputada em Lima na noite deste sábado, 29 de novembro, não foi apenas um resultado: foi a confirmação de que o Flamengo atravessou a fronteira entre clube esportivo e potência cultural. O único gol, marcado por Danilo, selou uma noite em que o time não precisou de espetáculo — bastou maturidade, controle emocional e a sensação de que, mesmo nos jogos apertados, existe uma máquina silenciosa sustentando tudo. A partida foi tensa, truncada, marcada por nervos expostos. E talvez seja justamente aí que se vê o tamanho do Flamengo: mesmo sem brilho, vence.
Torço pelo Flamengo desde meados dos anos 1970 — devoção afetiva, não militante. Não me arrisco em debates de tática, não acompanho contratações, não sei a escalação de cor. Minha memória é outra: Zico aproximando-se da bola como quem conversa com ela; Carpegiani lendo o adversário como quem decifra um segredo; Nunes rompendo defesas com grande precisão; Bebeto abrindo caminhos onde não havia espaço; Júnior conduzindo a bola como quem leva uma taça de cristal por um corredor estreito. Essa era a magia daqueles tempos.
Hoje, sei de cor apenas dois ou três nomes do time campeão — Bruno, Arrascaeta, Cebolinha — e isso não me diminui como torcedor. Ao contrário: me permite observar outra dimensão do clube. Porque o Flamengo do presente não depende da lista de titulares que consigo recitar, mas da estrutura invisível que sustenta o espetáculo.
Em 2013, o Flamengo devia R$ 750 milhões. Mudava presidente como quem troca lâmpada. Era emoção sem estrutura: inflamava a torcida no domingo, desmoronava na segunda. Onze anos depois, o clube fatura R$ 1,4 bilhão por ano. A virada não foi milagre: foi método. O Flamengo entendeu algo que Fluminense, Botafogo e Corinthians — cada um atolado em seus ciclos particulares de instabilidade — ainda buscam com lanternas fracas: futebol virou indústria da atenção.
O Flamengo não vende apenas um jogo; vende o acesso emocional diário de quarenta milhões de pessoas. Uma comunidade maior que muitos países. O patrocinador não compra espaço na camisa — compra prioridade num território sagrado onde milhões depositam devoção cotidiana. Cada vídeo, cada postagem, cada camisa é um canal. Futebol é o enredo; a atenção é o produto.
E há o fundamento silencioso por trás do brilho: profissionalização. Centro de treinamento que permanece, base que amadurece, dados que reduzem improviso, método que dá consistência, gestão que atua de segunda a sexta e não apenas na adrenalina do dia do jogo. Jogador deixou de ser gasto que evapora e virou ativo que retorna investimento.
Nesse percurso, o Flamengo provou o essencial: paixão move, mas processo multiplica. Torço pelo Flamengo por memória, por afeto, por ecos de infância. Mas hoje, na noite dessa Libertadores, compreendo que o clube se tornou algo maior que resultado — tornou-se uma lição prática de gestão.
No apito final, o título coroou o Flamengo — e algo maior se afirmou: quando um método se une a uma nação de torcedores, nasce um tetracampeão destinado a ir além.
Banco liquidado, polícia no encalço e política em combustão espontânea
Investigação rasga velhas zonas de conforto e ameaça revelar engrenagens ocultas, expondo como dinheiro público, ambição partidária e calculada omissão
29 de novembro de 2025


Brasília acorda sempre antes do sol quando a temperatura política resolve subir. Antes que o café esfrie, já circulam rumores, interesses contrariados e versões incompatíveis sobre o que está, de fato, em jogo.
E nos últimos dias, o motor desse barulho atende por dois nomes desconfortáveis: Banco Master e Refit — dois fios elétricos desencapados que, ao se cruzarem, iluminam a sala inteira.
A convivência entre política e polícia não é apenas arriscada: é incestuosa. Repetida o suficiente, essa mistura altera o metabolismo da República. Quando investigações começam a cercar gabinetes, partidos e velhas famílias do poder, os nervos se retraem, as versões se multiplicam e cada interlocutor passa a falar como se estivesse sentado sobre dinamite acesa.
Nada une mais adversários do que o medo de que a Polícia Federal desmonte, fio a fio, aquilo que eles ergueram com décadas de pactos, cabides, indicações e cofres paralelos.
E aqui entra o método que nenhum político gosta de ouvir: seguir o dinheiro. Não tem poesia, não tem retórica, não tem desculpa. É a trilha mais antiga do crime e a mais eficiente para desmontar farsas.
Quando o Banco Central precisou intervir e, por fim, liquidar o Banco Master, não o fez por capricho regulatório — o fez porque o rastreamento implacável dos fluxos financeiros começou a apontar para práticas incompatíveis com qualquer instituição que se alimente de dinheiro público.
E, onde há dinheiro público desviado, invariavelmente há interesses escusos de caciques partidários, parlamentares de quem sempre se ouviam rumores, operadores invisíveis, parentes úteis e intermediários que nunca aparecem nas fotos oficiais.
O mal-estar institucional atual nasce desse choque. E se alguém perguntar qual é a causa mortis desse ambiente de desarmonia entre Executivo e Legislativo, a resposta chega com ironia cirúrgica: não é uma, são várias.
Um necrotério político cheio de cadáveres disputando a primazia no laudo.
E quando esse mal-estar chega ao extremo, ele se expressa em gestos que ferem o país em duas frentes. De um lado, desmontam-se políticas ambientais inteiras, com vetos derrubados em bloco e salvaguardas esvaziadas para atender grupos que tratam o meio ambiente como obstáculo, não como patrimônio.
De outro, ressurgem as pautas-bomba: projetos concebidos não para governar, mas para sabotar. Armas legislativas disfarçadas de patriotismo improvisado, sempre prontas para corroer a responsabilidade fiscal e balançar a economia.
Nesse ambiente contaminado, o ruído sobre os investimentos do Amapá Previdência no Master irritou Davi Alcolumbre e azedou de vez o humor entre os Poderes.
Não importa se a origem do vazamento é real, exagerada ou imaginada: em política, percepção vale tanto quanto fato.
A Refit soma outra camada de tensão: há anos, circulam suspeitas sobre redes de proteção política e judicial.
E o Brasil conhece o roteiro — quando uma investigação começa a esbarrar no Judiciário, alguma nulidade cai do céu como guarda-chuva de última hora.
A operação da Polícia Federal chamada Castelo de Areia segue aí para lembrar.
Enquanto isso, na Câmara, as disputas por emendas, apoios regionais e ambições senatoriais se entrelaçam como fios prestes a romper. Cada grupo puxa para um lado, e o tecido institucional protesta.
No fim, política e polícia voltam a se tocar — e, quando isso acontece, o país inteiro sente o cheiro. Porque a próxima faísca já está circulando por aí, à procura de combustível.
E sim, essa confusão toda não tem nada a ver com a indicação do nome de Jorge Messias para a Suprema Corte. Tudo o jogo de cena
https://www.brasil247.com/blog/banco-liquidado-policia-no-encalco-e-politica-em-combustao-espontanea
Devedor contumaz: a elite que saqueia o Estado e posa de empresariado sério
A megaoperação contra a Refit expõe como sonegadores bilionários que usam estruturas fraudulentas para drenar tributos, manipular mercados, enfraquecer o Estado e manter aparência de respeitabilidade empresarial.
29 de novembro de 2025


Nas últimas semanas, leitores têm me pedido para destrinchar o subterrâneo fiscal que sustenta os gigantes da sonegação. Não o sonegador eventual. Mas o predador tributário — o que lucra com o não pagamento como outros lucram com produção. Pois bem, antes tarde do que nunca, o país acordou hoje com uma demonstração de como funciona esse modelo de negócios que por décadas se alimentou de impunidade.
A Receita Federal, a PGFN, o Ministério Público e as polícias deflagraram uma megaoperação com 190 mandados de busca e apreensão contra o Grupo Refit, dono da Refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro. No centro do furacão está Ricardo Magro, apontado como o maior devedor contumaz do Brasil, acumulando R$ 26 bilhões em débitos tributários — valor confirmado por investigações e pela própria PGFN. A Justiça determinou ainda o bloqueio de R$ 10,2 bilhões em bens, entre imóveis, participações e veículos de luxo. É dinheiro que não volta para a sociedade porque foi transformado em ativo privado às custas do contribuinte.
Uma operação desse porte não nasce do nada. Ela surge porque o país finalmente começa a admitir o óbvio: existe uma elite da sonegação, organizada, tecnicamente preparada, com advogados sofisticados, dezenas de CNPJs descartáveis e o hábito de operar com “laranjas” como se fossem peças de um tabuleiro. Não se trata de erro. Trata-se de método.
É nesse contexto que o PLP 125/2022, já aprovado por unanimidade no Senado, entra como divisor de águas. Ele não atinge o empresário que enfrentou um trimestre ruim — e sim aqueles que montaram estruturas completas para nunca pagar. Segundo estimativas do Tesouro Nacional e de auditores fiscais, essa arquitetura criminosa custa mais de R$ 200 bilhões por ano ao Brasil.
E, para além do dano fiscal, o rombo financia algo mais grave: poder paralelo. A operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, em 2023, comprovou que distribuidoras de combustíveis registradas em nome de laranjas lavavam dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC). Uma única célula movimentava valores capazes de gerar perdas superiores a R$ 1,2 bilhão por ano em tributos federais e estaduais. Cada litro de combustível adulterado e não tributado era também munição para o crime organizado.
É esse ecossistema que o projeto pretende desestruturar.
O texto dá poderes ampliados à ANP para exigir comprovação da origem lícita do capital, capital social mínimo real e identificação do beneficiário final — medida essencial para impedir empresas-casca criadas para sumir quando a fiscalização aperta.
Ao mesmo tempo, o projeto redesenha a relação entre o Estado e o contribuinte honesto. Pela primeira vez, quem paga correto terá vantagens reais:
• Confia: auditorias contínuas e ambiente de cooperação reduzem contencioso;
• Sintonia: prioridade, celeridade e benefícios para quem mantém histórico limpo;
• OEA: modernização aduaneira, previsibilidade logística e menos gargalos.
O recado é simples e poderoso: no Brasil, finalmente, jogar limpo passa a valer a pena.
Mas é no campo político que o barulho aumenta. O texto já foi aprovado no Senado, o que significa que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, não tem nenhum poder regimental para interferir no mérito ou na tramitação na Câmara. Suas insatisfações pontuais com o presidente Lula — decorrentes da não indicação de Rodrigo Pacheco ao STF — poderão se refletir em outras pautas. Mas não nesta. Aqui, o jogo é institucional, não emocional com viés egocêntrico.
Quem teme o PLP não está no Parlamento. Está no subsolo da economia.
Temem o texto:
• os grandes sonegadores estruturados,
• os grupos que constroem fortunas com CNPJs descartáveis,
• os setores que adulteram custos para quebrar a concorrência,
• as organizações criminosas que usam fraude tributária como lavanderia.
A operação de hoje contra o Grupo Refit escancara uma realidade que o país fingiu não ver por décadas: o devedor contumaz não é exceção — é modelo de negócios. E enquanto esse modelo prospera, o Brasil perde: perde escola, perde hospital, perde segurança, perde infraestrutura, perde futuro.
Quando um único grupo deve R$ 26 bilhões, não se trata de inadimplência. É apropriação privada de dinheiro público.
E quando o Estado fecha os olhos para isso, o recado ao país inteiro é devastador: quem paga impostos é ingênuo; quem frauda é recompensado.
O PLP 125/22 representa o contrário. É o Estado dizendo que chegou a hora de inverter a lógica: a esperteza deixou de ser prêmio e voltou a ser crime.
Se o Brasil realmente quer ter um mercado justo, um Estado capaz e uma sociedade menos desigual, não há alternativa: é preciso cortar o poder econômico do devedor contumaz — e cortar agora. Antes que mais um Magro se torne bilionário com o dinheiro que faltou na merenda, na saúde, na segurança e na vida real de quem sustenta o país.
6 x 1 transformou o país numa máquina de exaustão que precisa ser desligada
Décadas de desgaste contínuo colocam milhões sob benefícios públicos, demonstrando que manter jornadas extenuantes custa caro à saúde coletiva.
29 de novembro de 2025


Desde 2023, o debate sobre a escala 6 x 1 deixou o território das demandas difusas e ganhou o corpo de uma urgência social incontornável.
A cada dia, cresce a sensação de que o país caminha por um corredor estreito, iluminado por lâmpadas fatigadas, onde o tempo escorre pelas frestas como água desperdiçada. A 6 x 1 — isto é, seis dias consecutivos de trabalho para apenas um de descanso — tornou-se a porta enferrujada desse corredor. Mantê-la aberta significa aceitar permanecer sob o comando de um relógio que funciona mais como algema do que como medida de horas.
Em outras partes do mundo, a engrenagem pulsa em outro ritmo. Holanda, Dinamarca, Alemanha, França e Luxemburgo — cinco das economias mais sólidas do planeta — tratam descanso como política de Estado, não como concessão eventual.
Dados da OCDE e estatísticas europeias mostram jornadas médias de 32,2 horas na Holanda; cerca de 34 horas na Dinamarca e Alemanha; e aproximadamente 35 horas na França e Luxemburgo. S
Estamos falando aqui de sociedades que decidiram que prosperidade se mede pela qualidade da vida entre um turno e outro — não pela quantidade de dias sacrificados.
Com esse cenário internacional em mente, torna-se impossível ignorar o que se passa no Brasil. Há muito tempo estou convencido de que nenhum país se sustenta exigindo que seus trabalhadores vivam permanentemente à beira do esgotamento.
A 6 x 1 opera justamente assim: desgasta relações, pulveriza perversamente fins de semana, devora convivências familiares e reduz a vida a um circuito repetitivo de horas entregues.
Fato: Trabalhadores exaustos acabam tratados como instrumentos defeituosos — e instrumentos, ao contrário das pessoas, são substituídos sem remorso.
Os estudos internacionais confirmam aquilo que a experiência cotidiana já grita: jornadas menores significam maior eficiência, menos adoecimento, menos afastamentos, mais vitalidade. Uma economia que compreende isso respira criatividade, inovação e estabilidade.
Sempre me chamou atenção como o descanso — quando respeitado — funciona como uma usina silenciosa de ideias e soluções, muito mais potente do que discursos sobre “produtividade” recitados em salas refrigeradas.
O Brasil, porém, insiste em girar o moedor que transforma fadiga em rotina e resignação em política de gestão.
Essa constatação se torna ainda mais evidente quando se observa a estrutura de trabalho do país. Em momentos de reflexão mais profunda, retorna sempre a mesma imagem: um grande moinho de pedra — pesado, impessoal, inflexível — triturando vidas sob a ilusão de que produtividade nasce da exaustão.
Há meia dúzia de meus leitores sabe que sou muito chegado à criação de metáforas, mas nesse caso em particular a metáfora não exagera: basta observar setores que mantêm a 6 x 1 como norma — comércio, supermercados, farmácias, bares e serviços essenciais — para perceber que esse moinho existe, range, consome e não se comove.
Nesse contexto, o tabuleiro político finalmente começou a se mover. N
No Senado, a PEC 148/2015, de Paulo Paim, propõe reduzir a jornada semanal de 44 para 36 horas, com relatório já apresentado na Comissão de Constituição e Justiça garantindo dois dias de descanso por semana, eliminando a 6 x 1 de forma definitiva.
Na Câmara, a PEC 8/2025, de Erika Hilton e outros parlamentares, propõe jornada constitucional de quatro dias de trabalho e três de descanso, limite de 36 horas semanais e extinção explícita da 6 x 1. Ambas tramitam com comissões formadas, audiências marcadas e relatórios em elaboração. O Congresso já não discute “se” deve mudar — discute “como”.
Essa discussão se dá em um país de 212,6 milhões de habitantes, segundo o IBGE em 2024. Uma parcela significativa da população depende de proteção social. Em dezembro de 2024, a Previdência registrou 40,7 milhões de benefícios mensais entre previdenciários e assistenciais, sendo 70% deles equivalentes a um salário mínimo.
No Regime Geral de Previdência Social, eram 34,4 milhões de benefícios ativos ao fim de 2024; em 2022, somando todos os regimes, chegavam a 37,2 milhões. As despesas previdenciárias ultrapassam R$ 800 bilhões por ano.
No campo assistencial, o Bolsa Família alcançou 20,8 milhões de famílias em 2024, com gasto anual de R$ 168,3 bilhões. Programas sociais garantem algum tipo de renda a 20,1 milhões de pessoas — 9,2% da população. O que se vê, portanto, é um país no qual dezenas de milhões dependem, parcial ou totalmente, de benefícios públicos porque o mercado de trabalho expulsa cedo demais, adoece rápido demais, cansa fundo demais.
Não faz sentido manter um modelo de jornada que empurra trabalhadores para o INSS e para a assistência social antes do tempo, enquanto o orçamento federal luta para sustentar o peso dessa engrenagem.
Permanece uma convicção inabalável: um país que insiste na 6 x 1 não pretende avançar com grandeza; pretende apenas sobreviver — e mal. Quando o descanso vira raridade, a dignidade se torna peça de museu.
Reduzir a jornada é reorganizar o tempo humano como prioridade nacional, não como sobra de agenda.
No centro dessa discussão repousa a escolha de um país inteiro: permanecer no corredor estreito das lâmpadas cansadas — ou finalmente empurrar a porta que se abre para uma vida em que o relógio não aprisiona, mas liberta.
13 livros para compreender o peso das próprias escolhas
Uma seleção rigorosa que devolve Bolsonaro ao território das responsabilidades: treze obras capazes de reordenar o pensamento, depurar a consciência e iluminar o que a retórica insistiu em apagar.
25 de novembro de 2025


Há condenações que atravessam a pele, o orgulho e o discurso. Outras precisam atravessar, antes de tudo, a consciência. A pena imposta pelo tribunal — 27 anos e 3 meses em regime fechado, a primeira dessa natureza aplicada a um ex-presidente na história do país — responde aos atos praticados. Mas a pena interior, aquela que transforma de fato, exige outro tipo de instrumento: o livro.
O cárcere funciona como um espelho parado no tempo. Ele devolve ao condenado aquilo que o poder nunca devolveu: silêncio. E é dentro desse silêncio que a leitura assume a função que nenhum discurso público cumpriu — não a justiça penal, já determinada pelo Estado, mas a justiça da compreensão, da revisão e do reconhecimento. A prisão encerra o corpo; a leitura abre a consciência. Às vezes pela primeira vez.
A lei brasileira reconhece esse poder. A remição de pena pela leitura, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, permite que cada obra lida e interpretada por meio de resenha própria reduza até quatro dias da condenação. Não se trata de benevolência: é o reconhecimento institucional de que reflexão exige esforço — e que esforço intelectual é forma legítima de reparação.
No conjunto dos treze livros que seguem, o condenado levará 208 dias para concluir a leitura, dedicando apenas duas horas diárias. O prêmio, se cumprir as regras e apresentar resenhas autênticas, será modesto no tempo, mas significativo no sentido: 52 dias de remição. Dois meses a menos na sentença. Dois meses ganhos não pelo atalho, mas pelo enfrentamento.
E porque a leitura é mais exigente que o palanque, mais honesta que o slogan e mais profunda que qualquer gesto performático, a lista adiante não oferece consolo — oferece trabalho. São treze apoios éticos. Treze pontos de resistência moral. Treze oportunidades para que o condenado deixe de sustentar-se em fantasias e comece a sustentar-se em realidade.
Se decidir enfrentá-los, talvez encontre chão.
Se não decidir, afundará onde sempre esteve: em si mesmo.
Responsabilidade dele — não do Estado.
1. O Poder do Hábito — Charles Duhigg
A leitura desse livro funciona como uma chave que desmonta a mecânica mental do próprio condenado. Ele aprenderá que hábitos não desaparecem — são substituídos. A cela, para quem não lê, é uma eternidade imóvel; mas, para quem entende a engenharia dos gatilhos, rotinas e recompensas, torna-se laboratório. Aos 70 anos, construir o hábito da leitura não é capricho: é estratégia de sobrevivência cognitiva, emocional e espiritual.
Média: 350 págs. | 14 dias
Perguntas:
– Por que minha mente resiste ao novo?
– Como criar disciplina em ambiente hostil?
– Como substituir obsessões por reflexão?
2. Constituição da República Federativa do Brasil (1988)
O texto constitucional é a espinha dorsal da convivência democrática. Lido dentro da prisão, ele revela o que discursos políticos distorcem: direitos fundamentais, freios, contrapesos e garantias que existem justamente para impedir que governantes se tornem donos do país. É a leitura mais simbólica e mais urgente para quem tentou subverter a própria fonte da legitimidade republicana.
Média: 520 págs. | 20 dias
Perguntas:
– O que exatamente eu tentei destruir ao atacar o Estado Democrático de Direito?
– Como funcionam as garantias asseguradas até mesmo a mim, réu condenado?
– Que país eu teria criado se tivesse abolido os limites constitucionais ao meu poder?
3. A Vida Impossível — Primo Levi
Levi narra, com objetividade devastadora, o processo de desumanização — não como retórica, mas como experiência brutal. O livro revela onde políticas fundamentadas em ódio, mentira e desinformação podem levar sociedades inteiras. Para o condenado, é leitura sobre a responsabilidade de líderes diante dos riscos que produzem.
Média: 200 págs. | 8 dias
Perguntas:
– Como nasce o mal coletivo?
– Qual o preço da indiferença?
– Com
4. Crime e Castigo — Fiódor Dostoiévski
O romance coloca o leitor diante da cisão entre o que se faz e o que se suporta interiormente. O protagonista tenta justificar o injustificável com a fantasia de ser “superior”. É um mergulho no conflito entre orgulho e consciência. Para quem foi condenado por atacar a ordem democrática, Dostoiévski funciona como xadrez moral: cada movimento tem consequência, e a consciência não aceita atalhos.
Média: 670 págs. | 27 dias
Perguntas:
– O que a culpa faz à alma?
– Quem feri, direta e indiretamente?
– Sou capaz de admitir meu próprio Raskólnikov?
5. A Luta pelo Direito — Rudolf von Ihering
A obra devolve sentido ao que o condenado tentou distorcer: a lei não é arma pessoal, nem instrumento de oportunismo. É conquista coletiva, mantida à custa de disciplina e renúncia. Ihering lembra que não existe ordem jurídica sem esforço e sem respeito — valores que evaporam quando o governante acredita estar acima das instituições.
Média: 100 págs. | 4 dias
Perguntas:
– O que mantém a ordem social?
– Por que o direito exige renúncia do ego?
– Como minha ação corroeu essa estrutura?
6. Dos Delitos e das Penas — Cesare Beccaria
Beccaria constrói o alicerce da justiça penal moderna: racionalidade, proporcionalidade, humanidade. Para quem tentou instaurar um estado de exceção informal, esta obra é antídoto. Mostra que a violência estatal não é força, mas atraso. E expõe o paradoxo: enquanto o condenado defendia métodos arbitrários, ele próprio hoje se beneficia de um sistema jurídico que jamais o trataria como tratou seus adversários.
Média: 180 págs. | 7 dias
Perguntas:
– De onde nasce a legitimidade da pena?
– Por que o Estado não vinga, educa?
– Minha noção de justiça era justiça?
7. Cartas da Prisão — Nelson Mandela
As cartas de Mandela são monumentos de integridade. Escreve sem raiva, sem vitimização, sem desejo de vingança. É o antípoda moral do condenado: alguém que, mesmo encarcerado, protegeu as instituições, não as destruiu. A leitura oferece lição de dignidade e maturidade política. Mostrar que é possível ser firme sem ser violento — e forte sem ser cruel.
Média: 420 págs. | 17 dias
Perguntas:
– O que é grandeza moral?
– Como não ser refém do passado?
– O que é liderar sem rancor?
8. A Era dos Direitos — Norberto Bobbio
Bobbio descreve os direitos humanos como conquista histórica e vigilância permanente. Não são benefícios concedidos por governantes, mas barreiras erigidas para contê-los. Ao ler, o condenado entenderá que democracia não é paisagem: é construção diária. E que o negacionismo jurídico que praticou é incompatível com qualquer ordem civilizada.
Média: 400 págs. | 16 dias
Perguntas:
– O que são direitos humanos?
– Por que pertencem às pessoas, não aos governos?
– O que neguei quando ataquei a democracia?
9. Os Miseráveis — Victor Hugo
Valjean não muda porque o mundo o perdoa; muda porque reconhece seus erros. Hugo mostra que redenção exige ação concreta — não autopiedade, não teatralização. Para o condenado, o romance é espelho de possibilidades: há saídas, mas nenhuma delas dispensa responsabilidade, humildade e a disposição de não repetir o que destruiu sua vida pública.
Média: 1.200 págs. | 48 dias
Perguntas:
– O que torna possível recomeçar?
– Como um homem muda?
– O que devo aos outros?
10. O Homem em Busca de Sentido — Viktor Frankl
Frankl transforma sofrimento em responsabilidade. A cela, antes vivida como derrota, torna-se território de reconstrução. A obra ensina que a liberdade interior não depende de grades, mas de escolhas — algo que o condenado utilizou mal ao longo da vida pública. Aqui ele entenderá que sentido não se encontra pronto: é construído. E que, no silêncio, a verdade costuma se apresentar com mais nitidez do que na euforia do poder.
Média: 160 págs. | 6 dias
Perguntas:
– Para que serve o sofrimento?
– Qual o sentido da minha queda?
– O que ainda posso construir?
11. Meditações — Marco Aurélio
Marco Aurélio escreve como quem conversa com sua própria natureza, sem plateia, sem ilusões, sem autoengano. Para o condenado, que construiu boa parte da carreira diante de câmeras, esta leitura será desconfortável: exige introspecção. Ensina a reconhecer limites, responsabilidades e a fragilidade de quem ocupa posições de autoridade. O estoicismo não absolve — amadurece.
Média: 300 págs. | 12 dias
Perguntas:
– O que controlo de fato?
– Como lidar com a vergonha pública?
– O que significa governar a si mesmo?
12. Vigiar e Punir — Michel Foucault
Foucault revela como o poder produz obediência por meios sutis — vigilância, disciplina, normalização. Para o condenado, acostumado à retórica do “controle”, é leitura reveladora: entenderá que sistemas opressivos, mesmo quando convenientemente utilizados, acabam devorando seus criadores. A obra mostra a diferença entre autoridade legítima e autoritarismo fabricado.
Média: 330 págs. | 13 dias
Perguntas:
– Como o poder molda consciências?
– Como me deixei capturar por ilusões de autoridade?
– Que prisões internas construí?
13. Política — Aristóteles
Aristóteles devolve ao leitor a noção essencial de governo: servir ao interesse comum. A obra lembra que governantes existem porque a comunidade existe antes deles. O condenado verá a diferença entre governar e dominar — distinção que ignorou ou preferiu ignorar enquanto atacava os próprios pilares da vida cívica.
Média: 400 págs. | 16 dias
Perguntas:
– O que é governar?
– O que é o bem comum?
– Por que toda tirania fracassa?
O ferro, o fogo e as versões - Por Washington Araújo
Entre curiosidade admitida e surto alegado, restam apenas fatos: marcas de calor, relatório oficial e uma tornozeleira que resiste melhor que seu usuário às versões trocadas.
24 de novembro de 2025


Antes que o ferro de solda deixasse marcas na tornozeleira, as versões já começavam a derreter — e é justamente aí que o velho mito do fogo reaparece para nos orientar.
O de Prometeu, por exemplo: rouba o fogo dos deuses, entrega aos homens e termina acorrentado por achar que podia enfrentar o Olimpo como quem desafia um fusível. O mito sobrevive porque revela algo essencial: quem tenta manipular o poder pelas beiradas, mais cedo ou mais tarde, acaba queimado pelo próprio fogo.
Pois eis que, no Brasil de 2025, surge um Prometeu às avessas — aquele que não rouba o fogo para libertar, mas tenta usá-lo para escapar. E nem precisa de abutre: basta um ferro de solda e uma tornozeleira eletrônica.
Nas últimas 48 horas, Jair Bolsonaro apresentou ao país três versões completamente distintas para explicar como o dispositivo judicial que monitorava sua movimentação apareceu chamuscado, derretido e com sinais inequívocos de violação, como confirmam relatórios da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal já enviados ao STF. A velocidade com que essas narrativas brotaram seria cômica, não fosse o peso institucional da cena.
A primeira versão chegou embrulhada em delicadeza doméstica:
“Bati na escada.”
Segundo ele, um tropeço, um escorregão, um esbarrão acidental teria causado queimaduras circulares idênticas às produzidas por um ferro de solda profissional. Era a tentativa de transformar a tornozeleira danificada em mero incidente arquitetônico — como se degraus tivessem passado a expelir calor a 300 graus.
Quando a narrativa não resistiu nem ao bom senso, veio a segunda: a da “curiosidade”. Um vídeo divulgado pela imprensa séria mostrou uma policial penal perguntando:
— “O senhor usou alguma coisa para queimar isso aqui?
E ele, sereno, respondendo:
— “Meti ferro quente… curiosidade… queria ver o que tinha dentro.”
A curiosidade, no entanto, não explica a precisão das marcas deixadas no dispositivo, nem por que um equipamento resistente a impactos teria sido “aberto” justamente com um objeto capaz de derretê-lo. Mesmo assim, durante algumas horas, essa versão tentou ocupar o centro do palco.
Mas a terceira explicação não demorou. Diante do juiz, Bolsonaro apresentou outro enredo, agora farmacológico: o do “surto”. Disse que a combinação de pregabalina com sertralina teria provocado alucinações e uma paranoia súbita, fazendo-o imaginar que a tornozeleira continha uma escuta secreta. A narrativa tentava deslocar a responsabilidade da ação para os remédios — como se eles tivessem pegado o ferro de solda em seu lugar.
Ocorre que essa justificativa desaba no primeiro sopro de realidade. Pregabalina e sertralina são medicamentos amplamente prescritos no mundo inteiro e têm exatamente a função oposta à apresentada pelo réu. São usados para acalmar, estabilizar, reduzir ansiedade, tratar depressão e dores neuropáticas. Em seus perfis clínicos, divulgados pelas próprias farmacêuticas e por entidades médicas, não constam alucinações ou surtos como efeitos colaterais típicos, muito menos fenômenos capazes de produzir uma ruptura consciente, organizada e manualmente precisa como a de violar uma tornozeleira eletrônica.
Alucinações podem ocorrer? Podem, mas são raríssimas, quase sempre associadas a abuso, interação com álcool ou combinação inadequada de outras substâncias. Não é o padrão, não é o efeito esperado, não é o que a medicina reconhece como reação comum. Usar essa justificativa para explicar marcas de queimadura circular a 300 graus é tão plausível quanto culpar um calmante por ensinar alguém a manusear um ferro de solda ou um maçarico.
E aqui a narrativa volta a se chocar com o próprio enredo: se os remédios servem para tranquilizar, como explicariam a organização necessária para ligar ferro de solda, aquecer, manipular, posicionar e aplicar calor no ponto exato do dispositivo?
Surto não combina com método. Ansiedade reduzida não combina com engenharia improvisada. E medicamento ansiolítico não combina com paranoia produtiva.
A cada nova explicação, a ponte entre a realidade e a ficção se estica a ponto de ranger. E quando estala, o que emerge é a velha lição dos mitos: não há chama que apague o fato, não há ferro que derreta a lógica, e não há verso novo que resgate quem já perdeu o fio da própria história.
Onde os Correios param, o Brasil desaparece
Os Correios garantem eleições, ações emergenciais e a presença do Estado em cada região do país; se essa rede falha, desaparece o Brasil
24 de novembro de 2025


Desde a sua fundação, os Correios foram mais do que uma empresa estatal: foram a circulação sanguínea de um país que sempre teve mais território do que presença pública, mais distância do que estrada, mais Brasil do que meios para costurá-lo. Criada em 1969, mas herdeira de funções que remontam ao século XIX, a instituição consolidou-se como a forma mais concreta de o Estado alcançar cada cidade, cada povoado, cada comunidade ribeirinha, cada aldeia indígena.
A presença capilar — hoje distribuída em mais de dez mil unidades de atendimento — não é um luxo administrativo: é um pacto de unidade nacional. É a prova de que o Estado brasileiro, mesmo quando tarda, chega.
Essa capilaridade, no entanto, precisa ser vista à luz de um mundo que também enfrenta o declínio das cartas, o avanço da digitalização e o rápido crescimento do comércio eletrônico.
O mito de que apenas o Brasil enfrenta dificuldades em seu serviço postal não resiste a uma busca simples por dados oficiais.
Os Estados Unidos mantêm sua estatal — a United States Postal Service (USPS) — mesmo tendo registrado um prejuízo de US$ 6,5 bilhões no ano fiscal de 2023, segundo relatório divulgado pela Reuters. E, apesar disso, ninguém cogita privatizá-la. A razão é simples: ela é responsável, entre tantas funções, por assegurar a logística eleitoral de um país de dimensões continentais e de democracia complexa. A USPS é deficitária, sim, mas é estratégica demais para ser entregue ao varejo das conveniências privadas.
O mesmo ocorre na França. A La Poste Groupe, estatal francesa, teve receita de 34,1 bilhões de euros e lucro de 514 milhões de euros em 2023, de acordo com seus relatórios públicos. A França não abre mão de controlar seu sistema postal porque sabe que ele articula serviços financeiros, bancários e públicos que não podem ser completamente submetidos ao mercado.
Na Alemanha, os relatórios da agência reguladora Bundesnetzagentur mostram que o volume de cartas caiu de 11,93 bilhões em 2022 para 10,92 bilhões em 2023 — quase um bilhão de objetos a menos. Ainda assim, o país mantém forte regulação estatal e padrões obrigatórios, reconhecendo que o serviço postal universal é parte do funcionamento do Estado.
No Reino Unido, mesmo com a privatização do Royal Mail, o governo manteve a obrigação de entrega nacional: o mercado pode explorar lucros, mas não pode escolher bairros.
Trocando em miúdos: países que levam a sério a sua soberania postal não terceirizam sua integridade territorial. Entendem que um território não se mantém unido apenas com mapas, mas com presença real — física — que chega a todos os cidadãos, sobretudo nos momentos em que o país precisa funcionar como um organismo só.
No Brasil, o debate apresenta graves distorções. E isso não é de hoje. O futuro dos Correios é algo muito sério e existe reflexão profunda e não simplificações, quase sempre levianas e irresponsáveis.
Muitos analistas insistem em comparar os Correios a empresas privadas que operam apenas nas rotas lucrativas, ignorando que a estatal ficou encarregada do “osso” — a entrega universal — enquanto o mercado abocanhou o “filé” das encomendas rápidas nos grandes centros.
É fato verificável que a FedEx, a DHL, o Mercado Livre, a Amazon Logistics e outras empresas atuam onde há densidade populacional, acesso simples, risco baixo e retorno alto.
Não há mercado disposto a manter operações em vila, ilha, aldeia, sertão ou floresta. Os Correios, sim, mantêm.
A crítica financeira também exige contexto.
O Relatório de Administração de 2024 informa que os Correios possuem aproximadamente 84 mil empregados, todos com vínculo formalizado, salários garantidos, direitos trabalhistas preservados e responsabilidades públicas claras. Esses números não são acessórios: sustentam a qualidade do serviço e garantem que a estatal não funcione às custas de precarização — como ocorre em parte expressiva das estruturas logísticas privadas, que se baseiam em trabalhadores sem vínculo, pagos por entrega e submetidos à insegurança contratual.
Quanto ao caixa, os dados são verificáveis: prejuízo de cerca de R$ 767 milhões em 2022 e aproximadamente R$ 596 milhões em 2023. A situação se agravou em 2024 e 2025, o que levou à necessidade de pedido de crédito à União, plano de reestruturação acompanhado pelo Tribunal de Contas da União, venda de imóveis e programa de desligamento voluntário. A estatal tenta reencontrar seu equilíbrio num ambiente hostil: o mercado privado acelerou a disputa no setor de encomendas ao mesmo tempo em que a digitalização reduziu drasticamente o volume de cartas, boletos, contas e extratos — pilares que sustentaram o modelo postal por décadas.
Mas há um dado que frequentemente passa despercebido: poucas instituições brasileiras são tão decisivas quanto os Correios em situações de emergência nacional.
Basta lembrar que, quando milhões de aposentados foram lesados por empresas fraudulentas, foi a capilaridade dos Correios que permitiu à União implementar, em tempo recorde, processos de regularização e pagamento em municípios onde nenhum outro órgão federal possui presença física.
O mesmo se viu na distribuição de insumos de saúde durante crises regionais, no envio de comunicados oficiais a populações isoladas e, sobretudo, na logística das eleições brasileiras.
A cada dois anos, os Correios transportam urnas eletrônicas, lacres, formulários e materiais sensíveis para todos os municípios — incluindo áreas onde só se chega de barco, avião pequeno ou estradas improvisadas. É uma operação silenciosa, mas monumental, que garante o que muitos países mais ricos não conseguem: eleições funcionando com pontualidade em cada extremo do território. Nenhuma empresa privada aceitaria esse encargo sem exigir tarifas inviáveis ou subsídios extremos.
Os Correios aceitam porque essa é sua vocação: carregar o país inteiro, e não apenas sua parte rentável.
A reestruturação que a estatal vive não é o prenúncio de sua substituição, mas o passo necessário de um organismo que precisa se adaptar às novas exigências tecnológicas sem abandonar a missão pública que o mercado não abraça. Qualquer modernização séria exige investimentos, governança e revisão operacional — não desmonte.
Porque se o Brasil entregar os Correios ao mercado, estará entregando também o direito de existir plenamente como país. Estará dizendo que alguns territórios importam mais que outros, que algumas vidas merecem ser alcançadas e outras não. E essa é a antítese do ideal de nação.
Os Correios não são apenas uma instituição pública. São o último fio contínuo que conecta o Brasil inteiro — e se esse fio se rompe, não é uma empresa que desaparece. É o Brasil.
https://www.brasil247.com/blog/onde-os-correios-param-o-brasil-desaparece
“Que horas você começou a fazer isso, senhor Jair?” é a pergunta que derrete a defesa
O dano calculado, produzido com ferro de solda a 300°, contraria a ideia de curiosidade e indica prática orientada que exige investigação sobre coautores
22 de novembro de 2025


Entre a meia-noite do dia 21 e as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 22 de novembro de 2025, Jair Bolsonaro deixou de ser apenas um condenado monitorado para se transformar em um caso complexo de segurança pública. Às 0h08, o sistema de monitoramento registrou violação da tornozeleira eletrônica, e o alerta chegou imediatamente ao ministro Alexandre de Moraes, que horas depois determinou a prisão preventiva do ex-presidente sob o argumento de “elevado risco de fuga” e “ato deliberado de sabotagem”.
O documento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF (SEAPE), tornado público por veículos de imprensa, descreve “marcas de queimadura em toda a circunferência do fecho” e “avarias compatíveis com exposição a fonte térmica de alta intensidade”.
A versão apresentada pelo próprio réu — de que teria usado um ferro de solda por “curiosidade” — abriu uma discussão que vai muito além da anedota. A tornozeleira eletrônica não é um bracelete decorativo: é ajustada firmemente ao tornozelo, possui sensores internos e material resistente a corte e calor moderado. Qualquer tentativa de violação exige força, técnica e, no caso reportado pela SEAPE, exposição prolongada a calor extremo.
É aqui que entra um dado técnico incontornável. Um ferro de solda comum, usado por profissionais de elétrica e eletrônica, costuma operar entre 300 °C e 400 °C.
Qualquer contato acidental com a pele humana nessa temperatura causa queimaduras profundas, bolhas imediatas, necrose e risco de infecção. Apenas aproximar o instrumento por segundos já impõe dano severo. O simples fato de Bolsonaro ter posicionado essa ferramenta junto ao tornozelo — área sensível, vascularizada, com menor camada de proteção — revela um risco elevado que dificilmente seria assumido por alguém sem suporte técnico ou sem plena consciência do perigo.
Some-se a isso outro detalhe nada trivial: não é comum que uma pessoa sem atividade técnica mantenha um ferro de solda em casa, muito menos em ambiente de monitoramento judicial.
A investigação da Polícia Federal deve, inevitavelmente, rastrear a origem do equipamento: nota fiscal, loja, data de aquisição, entrega, testemunhas, câmeras de segurança, quem o levou até a residência, se havia assessoria técnica presente ou consultada.
O instrumento não surge por geração espontânea — ele foi comprado, entregue ou disponibilizado por alguém.
E há outro componente que complica a equação: Bolsonaro enfrenta relatos recentes de soluços persistentes, engasgos e dificuldades respiratórias, incluindo episódio em que teria “ficado quase dez segundos sem respirar”, segundo o senador Flávio Bolsonaro.
Se esse quadro é real, a pergunta é inevitável: e se, ao manusear um ferro a mais de 300 °C, preso a uma fonte de energia, ele tivesse uma crise súbita de soluço? As possibilidades vão de queimaduras graves a choque elétrico, queda, desorientação, colapso e até risco de morte. A interação entre instabilidade fisiológica e instrumento de alta temperatura cria um cenário de perigo intenso.
A SEAPE acrescenta um elemento que a investigação não pode ignorar: o dano térmico na tornozeleira é uniforme e circular, o que dificilmente é alcançável por uma única pessoa, em posição desconfortável, com um ferro de solda apontado para o próprio tornozelo.
Esse padrão sugere a possibilidade concreta de concurso de duas ou mais pessoas na manipulação — hipótese que amplia o escopo criminal, podendo configurar facilitação de fuga, associação criminosa ou obstrução de justiça.
No centro dessa noite estranha também aparece uma narrativa que precisa ser considerada: Bolsonaro diz ter agido por “curiosidade”, frase que soaria frágil até na boca de uma criança de seis anos — idade em que pais repetem, incansáveis, que não se aproxima o corpo de nada que queima.
Como imaginar que um adulto de 70 anos, ex-presidente da República, ex-deputado por mais de 30 anos, optaria por um ato que crianças sabem ser perigoso? Essa incongruência chama atenção não apenas jornalisticamente, mas juridicamente.
Por fim, uma hipótese mais delicada, porém plausível, deve entrar no radar: não seria esta uma tentativa calculada de construir a imagem de um homem emocionalmente abalado, psicologicamente instável, incapaz de responder por seus atos, com o objetivo futuro de pleitear que sua pena de 27 anos e três meses seja cumprida em prisão domiciliar — e não em presídio comum?
A súbita soma de sintomas físicos, crises respiratórias, impulsividade e ações irracionais pode, se articulada, formar uma narrativa conveniente para o réu.
Por isso, a Polícia Federal, ao custodiá-lo em suas instalações na Asa Sul, deve manter vigilância absoluta sobre medicamentos controlados, objetos disponíveis, visitas e registros contínuos, garantindo que nenhuma eventual autolesão possa ser atribuída a falha do Estado. Cada detalhe agora importa — e muito.
Porque, no final, mais do que um ferro de solda queimando plástico, o que se derrete nesta madrugada é a fronteira entre fato e versão. E o país tem o direito — e o dever — de saber exatamente o que aconteceu. Nenhum detalhe, o mínimo que seja, pode ser descartado.
Em sociedades desiguais, como os EUA e o Brasil, falar em mérito soa quase como deboche
Quando o berço define destinos, chamar sucesso de mérito é disfarçar injustiças profundas e culpar os vulneráveis por fracassos produzidos por estruturas que os esmagam desde o nascimento.
20 de novembro de 2025


Joseph Stiglitz, economista norte-americano, professor da Columbia University, ex-economista-chefe do Banco Mundial e vencedor do Prêmio Nobel de Economia, tornou-se uma espécie de herege intelectual: o homem que ousa dizer que o rei está nu. Ele descreve o mito da meritocracia como uma fraude moral — e desmonta essa invenção confortável sem pedir licença.
A verdade, porém, arranha. Em sociedades desiguais como Estados Unidos e Brasil, a largada é tão injusta que falar em “mérito” soa quase como deboche. Crianças pobres crescem cercadas de ruínas institucionais: escolas quebradas, saúde irregular, ausência total de redes de apoio e oportunidades que evaporam antes mesmo de terem corpo.
Stiglitz insiste em um dado que deveria envergonhar qualquer sociedade que se diga democrática: quase metade dos que nascem entre os mais pobres permanecerá pobre, não importa o quanto rale. O sistema se encarrega de esmagar ambições cedo, como se talento fosse defeito de fabricação quando nasce no endereço errado.
Do outro lado, o privilégio se reproduz com a eficiência de uma máquina bem lubrificada. Cerca de 40% dos nascidos entre os mais ricos permanecem no topo, mesmo carregando limitações gritantes. A herança funciona como salvo-conduto permanente. Ninguém pergunta se merece: basta ter chegado ao mundo no berço certo.
Stiglitz chama esse arranjo de captura: uma apropriação silenciosa do Estado por quem sempre mandou nele. Os ricos moldam leis, impostos e desregulações exatamente como moldam seus jardins — a seu gosto. Depois exibem o cenário e dizem: “Viu? Tudo é mérito.” Cinismo puro camuflado de argumento econômico.
Em “The Price of Inequality”, ele expõe a engrenagem com precisão cirúrgica. O capitalismo, capturado por poucos, deixa de incentivar inovação e mobilidade e passa a operar como fortaleza. Nada entra, nada sobe, nada se move. Chamar isso de meritocracia é piada — e daquelas que só quem está no topo consegue achar graça.
Nesse teatro, a narrativa do mérito funciona como anestesia coletiva. Ela transforma injustiças obscenas em “falhas individuais”, como se todo o peso da desigualdade coubesse nas costas de quem já nasceu carregando o mundo. É uma ideologia barata, mas extremamente eficiente: absolve os privilegiados e pune os vulneráveis.
A “Curva do Grande Gatsby”, que Stiglitz cita, revela o óbvio que muitos fingem não ver: desigualdade alta significa mobilidade baixa. Ponto. Países desiguais fabricam destinos engessados. A meritocracia não descreve a realidade — ela apenas tenta dourar a lama em que a realidade está mergulhada.
Stiglitz não combate o esforço — combate a mentira. Para que mérito exista, é preciso nivelar o chão. Educação forte, saúde universal, impostos progressivos e redes de proteção não são luxo: são o básico para impedir que alguém seja condenado antes mesmo de começar a correr.
Sem isso, repetir a palavra “meritocracia” é só participar da farsa. Uma fábula conveniente, contada por quem já venceu antes do jogo começar. Uma sociedade que confunde privilégio com virtude destrói seus talentos anônimos. E um sistema que chama injustiça de mérito perde, lentamente, a própria vergonha.
Prisão do banqueiro “ostentação” do Master explode pacto de silêncio no Congresso
A prisão do banqueiro e a liquidação do Master revelam relações espúrias de finanças com o Congresso Nacional e colocam sob suspeita decisões políticas que sustentaram o banco até o colapso.
19 de novembro de 2025


Há escândalos que chegam como rachaduras discretas; outros entram em cena como portas arrombadas. A derrocada do Banco Master pertence à segunda categoria — não apenas por sua dimensão financeira, mas pela revelação brutal de uma engrenagem político-econômica que funcionou por meses sob a proteção de gabinetes, alianças e interesses bem distribuídos.
A prisão de Daniel Vorcaro nesta terça-feira, 18 de novembro de 2025, é a queda do biombo: atrás dele, expõe-se um sistema inteiro. Nada para em pé e a lama chega até o pescoço.
A operação que levou a Polícia Federal ao Aeroporto de Guarulhos, onde Vorcaro embarcava rumo a Dubai, não investigava meros deslizes contábeis. A Operação Compliance Zero identificou um esquema multibilionário de títulos sem lastro, carteiras “insubsistentes” e circuitos de crédito simulados para ludibriar fiscalização.
O Banco Central — que descreveu o Master como instituição em “grave crise de liquidez” e com “violações severas às normas do sistema financeiro” — decretou a liquidação extrajudicial poucas horas depois.
A implosão de um banco não poderia ser mais simbólica: ela veio no mesmo dia em que políticos que o defenderam por meses tratavam de se proteger do incêndio.
O cálculo era simples: o Banco Master captou bilhões oferecendo CDBs de até 130%–140% do CDI, investiu em empresas com problemas severos e se alavancou em proporções que bancos prudentes jamais admitiriam — chegando a multiplicar por dez cada real de capital próprio. O rombo potencial beira 12,2 bilhões de reais, valor bloqueado pela PF. Mais de 1,6 milhão de investidores podem ser afetados. Tudo isso sob a sombra confortável do Fundo Garantidor de Créditos, que blindava o banco enquanto atraía depositantes com promessas de rentabilidade milagrosa.
Por que esse modelo arriscado continuou tolerado?
Por que o Banco Central, ainda sob Roberto Campos Neto, não interveio antes, quando já existia clara deterioração dos ativos?
E por que a decisão final só veio na gestão de Gabriel Galípolo, justamente no dia da prisão do controlador?
Neste desmoronamento, surge uma peça-chave: o BRB — Banco de Brasília. Em março, o conselho do BRB aprovou a compra de 58% do Banco Master, numa operação de R$ 2 bilhões, que transformaria o banco público do DF num escudo para o Master. O governador Ibaneis Rocha celebrou o negócio, dizendo que o BRB “daria um salto nacional” e que salvar o Master seria “garantir estabilidade ao sistema”. A narrativa não resistiu a setembro, quando o BC vetou a compra. Mas antes disso, muitos alertas já haviam sido dados por sindicatos, auditores e analistas.
Por que um banco público menor deveria comprar um banco privado maior, mais arriscado e envolvido em denúncias crescentes?
Quais pareceres técnicos sustentaram decisão tão temerária?
Havia interesses políticos ocultos em jogo?
Quem, dentro do BRB e do governo do DF, garantiu que o Master era sólido quando já não era?
No Senado, uma CPI sobre a compra do Master pelo BRB estava pronta para nascer. O autor do requerimento, Izalci Lucas, dizia buscar transparência. Tinha assinaturas suficientes. De repente, duas desapareceram — Carlos Viana e Cleitinho — ambos de Minas Gerais, estado natal de Vorcaro. A CPI morreu antes de respirar.
Foi nesse ponto da narrativa — quando Brasília parecia disposta a silenciar — que surgiu a primeira fissura no pacto: o anúncio de que deputados do Distrito Federal preparavam uma reação própria. A notícia correu hoje cedo pelos corredores da CLDF: havia movimentação para um requerimento de CPI local. Apenas rumores, até então.
E então veio o documento.
No início da tarde, o deputado Chico Vigilante, acompanhado por Fábio Felix e por parlamentares do PT, PSOL, PSB e outros blocos, protocolou na CLDF um requerimento formal para criação de uma CPI destinada a investigar a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. O texto pede investigação das negociações bilionárias, suspeitas de gestão fraudulenta, possível uso indevido de recursos públicos para salvar instituição privada, ingerência política, favorecimento indevido e denúncias internas envolvendo auditorias como EY e PwC, incluindo o “Projeto Luna”.
Esse requerimento, ao contrário das manobras do Senado, não recua. Ele escancara tudo: Você usou recursos públicos para salvar um banco privado? Quem autorizou isso? Quem intermediou? Que contratos foram assinados às pressas? Quais líderes partidários influenciaram decisões técnicas do BRB? Por que pareceres da EY e da PwC foram ignorados? Quem participou do “Projeto Luna”? Quais reuniões ocorreram entre BRB, Master e governo do DF antes da liquidação? Havia ingerência direta do Palácio do Buriti? Que vantagens políticas seriam geradas com a operação?
Enquanto o escândalo se expande, o rombo econômico já se manifesta no cotidiano: investidores buscando o FGC; filas digitais para verificar ressarcimentos; servidores do BRB alarmados; auditores revirando contratos; a praça dos Três Poderes murmurando nomes antes intocáveis.
A implosão do Master não é uma história de um banqueiro audacioso — é a história de uma arquitetura de poder construída com conivência, arrogância e silêncio institucional.
No fim, o episódio é como ver uma grande barragem se romper: durante anos, autoridades garantiram que tudo estava sob controle, que a estrutura era segura. Mas a água — a verdade — já pressionava as paredes.
Quando a primeira fissura surgiu, não havia mais como conter o fluxo. Agora, todos tentam escapar da enxurrada. Mas há um detalhe incômodo: a água sempre leva consigo o que estava escondido no fundo. É um voa barata em Brasília.
Na biblioteca humana, diálogos de 30 minutos mudam vidas para sempre
Histórias de refugiados, transgêneros e autistas desafiam estigmas em conversas íntimas, promovendo compreensão
17 de novembro de 2025


Visualize uma biblioteca onde os livros não são de papel, mas pessoas com histórias vivas, prontas para serem compartilhadas. Nascida em 2000, em Copenhagen, Dinamarca, a Biblioteca Humana surgiu após um ato de violência que marcou um grupo de amigos. Ronni Abergel, junto a seu irmão e colegas, criou o projeto no Festival de Roskilde, movido pela urgência de enfrentar o ódio que quase roubou uma vida. Aqui, o “empréstimo” vai além do comum: indivíduos se tornam “livros humanos”, oferecendo capítulos de suas jornadas a leitores abertos ao diálogo.
Nessa biblioteca itinerante, os “livros” carregam rótulos que desafiam estigmas – “Refugiado”, “Homossexual”, “Transgênero”, “Autista”, “Muçulmano”, “Bipolar”, “HIV positivo” ou “Convertido”. Cada sessão, de 30 minutos, é um espaço para escuta atenta e troca respeitosa. Sem julgamentos, constroem-se conexões onde antes havia distância. Os “leitores” saem transformados, com empatia brotando no lugar de preconceitos. É uma experiência que desmonta estereótipos, promovendo entendimento genuíno.
O impacto é mensurável. Um estudo de 2020 da Analyze og Tal, na Dinamarca, mostrou que participantes desenvolvem atitudes mais abertas a grupos marginalizados, reduzindo vieses inconscientes. A Biblioteca Humana transcende eventos pontuais, alcançando empresas para treinamentos de diversidade, escolas para formar jovens e comunidades para curar divisões. A Forbes destaca sua abordagem direta, que confronta preconceitos individuais e fomenta inclusão autêntica. Em 2021, o Fórum Econômico Mundial reconheceu sua força em unir pessoas em tempos de crise pandêmica.
Presente em mais de 80 países, a iniciativa se adapta a cenários diversos — bibliotecas, jardins, salas corporativas e festivais. No Brasil, eventos em São Paulo e Rio de Janeiro trazem “livros” como sobreviventes de violência doméstica ou imigrantes. Em 2025, a sede em Copenhagen recruta estagiários para ampliar sua missão, enquanto o “Livro do Mês” apresenta narrativas como a de Viva, uma groenlandesa que reflete sobre cultura e identidade. Projetos semelhantes, como o Human Library Project 2025 na Índia, pela Sarthak, celebram histórias de superação, inspirando mudanças pessoais.
Considere um “livro” refugiado narrando sua fuga da guerra a um ouvinte que antes via imigrantes com desconfiança. Ou uma pessoa transgênero compartilhando camadas de sua identidade, desfazendo temores infundados. Esses diálogos não são apenas conversas; são transformações sutis, nas quais o outro se torna familiar, refletindo nossa humanidade comum.
Numa era de divisões amplificadas pelas redes, a Biblioteca Humana prova que a mudança começa no encontro direto. Ela não apenas informa, mas reconecta, tecendo laços de empatia global. Ao “emprestar” uma pessoa, você não lê uma história — você a vive e sai transformado. Em 30 minutos, mundos se encontram, mostrando que o preconceito é apenas uma página que pode ser deixada para trás.
https://www.brasil247.com/blog/na-biblioteca-humana-dialogos-de-30-minutos-mudam-vidas-para-sempre
Derrite enfraquece o Estado e oferece às facções o que elas mais desejam
Texto de Derrite desloca recursos, distorce competências e impõe obstáculos inéditos ao governo, enquanto oferece às facções um ambiente mais favorável
17 de novembro de 2025


A quarta versão do parecer de Guilherme Derrite surge como a quarta tentativa seguida de desfigurar o projeto nacional concebido por Ricardo Lewandowski para desarticular facções que violentam nossa segurança pública.
Para entender o alcance da distorção, basta observar sua forma: o parecer avança como um esboço rabiscado à pressa, onde trilhas tortas conduzem a becos institucionais, atalhos desviam da rota central e regiões inteiras permanecem sem legenda. Segurança pública exige projeto arquitetado, não mapa improvisado diante de um inimigo que domina a geometria do crime.
A espinha dorsal deslocada
O primeiro movimento de desmonte é o enfraquecimento proposital da Polícia Federal. O parecer desloca funções essenciais para as polícias estaduais e subordina a cooperação da PF à iniciativa dos governadores. É a reinstalação do improviso, justamente onde a técnica deveria comandar.
Essa inversão abre uma porta larga para a fragmentação institucional. O crime organizado prospera onde o Estado se divide, e não onde se articula. Desfazer a coerência nacional da PF significa entregar às facções o que elas mais desejam: um mosaico de interesses regionais vulneráveis a pressões políticas e disputas locais.
Derrite parece ignorar que a PF é o único órgão com alcance nacional, capacidade de rastrear fluxos internacionais e competência técnica para desmantelar redes financeiras sofisticadas. Ao amarrá-la às conjunturas estaduais, o parecer cria gargalos onde antes havia direção única.
O mapa torto das finanças ilícitas
A distorção se agrava quando o texto entrega aos estados a gestão dos bens confiscados das facções. Em vez de fortalecer a centralização técnica — como previra Lewandowski —, o parecer pulveriza o eixo econômico do combate ao crime, criando múltiplos cofres locais sujeitos a pressões e vulnerabilidades distintas.
Essa engenharia não apenas gera desigualdade operacional, mas abre espaço para desvios, disputas internas e manipulações políticas. O dinheiro do crime só teme uma força: controle unificado. Derrite propõe o contrário.
A comparação com a lógica curitibana da Lava Jato é inevitável. Entre 2015 e 2018, a força-tarefa liderada por Deltan Dallagnol e Sérgio Moro conduziu acordos que devolveram R$ 2,1 bilhões à Petrobras, mas, segundo relatório do CNJ publicado em 2021, articulou-se a criação de uma fundação privada de R$ 2,5 bilhões que seria gerida pelos próprios integrantes da operação. A gestão dos valores foi descrita como “caótica”, sem critérios uniformes. O parecer Derrite produz efeito semelhante: permitir que caixas paralelos se formem em nome de um federalismo de fachada, vulnerável e perigoso.
O excesso que confunde e enfraquece
No campo penal, a ampliação quase ilimitada de condutas equiparadas a terrorismo transforma a lei em um corredor estreito onde crimes distintos são comprimidos por tipificações excessivas. A precisão jurídica dá lugar ao exagero.
Essa fusão artificial entre violência armada, ataques reais e ações disruptivas menores ameaça gerar confusões graves na aplicação do direito. A função da lei penal é distinguir, não aglomerar. O parecer embaralha, e onde há embaralhamento, há injustiça.
A retórica de “endurecimento” esconde uma fragilidade: quanto mais o texto tenta parecer rígido, mais revela que foi construído sem medir consequências. É força sem freio, forma sem método.
Quando o Estado abandona, o crime ocupa
Um dos trechos mais inquietantes é a proibição de que dependentes de presos enquadrados no novo art. 2-A recebam auxílio enquanto o parente estiver privado de liberdade. O problema não é previdenciário — é estratégico.
Quando o Estado abandona famílias vulneráveis, as facções ocupam o espaço vazio. Pagam despesas, financiam necessidades básicas e constroem laços de gratidão que se convertem em lealdade. Tais vínculos, uma vez criados, são quase impossíveis de dissolver.
Ao impedir o mínimo de proteção institucional, o parecer cria o terreno ideal para que organizações criminosas ampliem sua base social e recrutem novas gerações. Em nome de uma suposta firmeza, Derrite oferece às facções um presente que elas jamais pediriam, mas sempre agradeceriam.
A muralha de areia
A ampliação de poderes judiciais — intervenção, dissolução, liquidação de empresas, transferência ao Estado — é outro ponto crítico. A intenção de atingir estruturas econômicas criminosas é legítima, mas o instrumento é mal calibrado e insuficientemente delimitado.
Construir repressão eficaz com dispositivos assim equivale a levantar uma muralha feita com tijolos de areia. Pode parecer imponente, mas sua fragilidade estrutural a torna inútil ao primeiro teste sério. A aparência de dureza nunca substitui a solidez institucional.
O parecer Derrite 4.0 tenta apresentar-se como modernização, mas é, de fato, uma soma de improvisos. A fragmentação institucional, a dispersão de recursos, o enfraquecimento da PF e a confusão penal desenham um único caminho: a desarticulação do que realmente funciona.
O país precisa de firmeza, mas precisa sobretudo de coerência. O projeto original do Ministério da Justiça seguia essa direção. O parecer Derrite 4.0 faz o oposto: promete força, entrega fragilidade; promete precisão, entrega distorções; promete ordem, entrega ruído.
Se facções criminosas pudessem escolher o modelo ideal de repressão estatal, escolheriam exatamente esse. E é justamente por isso que o Congresso não pode aceitá-lo.
Entre o portão de ferro e o portão eletrônico
O caminho da punição no Brasil passa pela miséria das prisões e pelo conforto dos privilegiados — dois países separados pela mesma sentença
11 de novembro de 2025


Nem toda sentença judicial no Brasil termina em cela. A lei prevê que um condenado pode cumprir pena em regime fechado, semiaberto, aberto — ou, em casos excepcionais, em prisão domiciliar. A definição depende da gravidade do crime, do histórico do réu e da decisão judicial fundamentada na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984).
O país possui mais de 1.500 unidades prisionais entre estaduais e federais. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e do World Prison Brief, o Brasil registra 672.696 pessoas presas para uma capacidade total de 490 mil vagas, um déficit de 182 mil e uma taxa de superlotação de 137%. A média nacional é de 319 presos por 100 mil habitantes, a terceira maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China.
Nos EUA, há cerca de 1.254.200 presos sentenciados em prisões estaduais e federais, o equivalente a 541 por 100 mil habitantes — a mais alta taxa entre países desenvolvidos. Já a China divulga oficialmente 1,7 milhão de presos, embora estimativas independentes indiquem até 2,3 milhões, com taxa aproximada de 119 por 100 mil habitantes. O Brasil ocupa uma posição intermediária, mas com condições de encarceramento muito piores que as das duas potências.
As cinco penitenciárias federais brasileiras — Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Mossoró (RN), Porto Velho (RO) e Brasília (DF) — abrigam pouco mais de 1.000 presos. São unidades de segurança máxima, destinadas a criminosos de alta periculosidade. Já as prisões estaduais concentram 96% da população carcerária e enfrentam colapso: superlotação, escassez de agentes, violência endêmica, doenças e ausência de trabalho ou estudo.
A rotina no regime fechado é a tradução física da punição: acordar antes das seis, revista, contagem, alimentação sob vigilância. O preso cumpre dias que não passam. Em muitos casos, há três pessoas em celas projetadas para uma. O tempo se torna castigo e o castigo, sobrevivência.
A prisão domiciliar, em contraste, oferece um regime brando. O condenado permanece em casa, sob vigilância eletrônica e restrição de deslocamento. A lei permite esse benefício apenas em casos específicos — idade avançada, doença grave, gestação, deficiência física — ou quando não há vagas no regime aberto. Mas a execução é falha: faltam fiscais, sobram brechas. O resultado é um regime desigual, aplicado de forma generosa aos poderosos e severa aos anônimos.
A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 11 de setembro de 2025, reacendeu o debate. Sentenciado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, tornou-se o primeiro ex-mandatário brasileiro a enfrentar pena tão longa. O caso levanta a questão essencial: seria legítimo cumprir uma condenação dessa gravidade no conforto do lar? A resposta jurídica pode ser complexa; a ética, não.
A lei é clara — a prisão domiciliar não se destina a quem tenta subverter a democracia. No entanto, cresce o discurso de que o ex-presidente deveria permanecer em casa “por segurança”. Essa justificativa, mais política que jurídica, ameaça transformar a lei em cortina moral para encobrir privilégios.
Há outro fator que acende o alerta: quatro filhos do ex-presidente exercem mandatos eletivos — um senador, um deputado federal e dois vereadores. Caso o pai cumprisse pena domiciliar, o que impediria um deles de levar um celular pessoal e permitir comunicações políticas disfarçadas de conversas familiares? Nenhum monitor eletrônico é capaz de conter a influência simbólica de quem foi chefe de Estado.
A democracia se sustenta sobre o princípio da isonomia penal: o mesmo crime deve gerar a mesma consequência, independentemente de sobrenome ou cargo. Quando o prestígio substitui a punição, a justiça deixa de ser balança e torna-se vitrine.
Outros países enfrentam dilemas semelhantes, mas respondem com firmeza. Na França, o ex-presidente Nicolas Sarkozy foi condenado em 25 de setembro de 2025 a cinco anos de prisão, sendo dois em regime fechado, por corrupção e financiamento ilegal de campanha. Em 21 de outubro, ingressou na prisão de La Santé, em Paris, e, semanas depois, obteve liberdade provisória sob supervisão judicial rigorosa (Reuters, 2025). Nenhuma menção a “prisão domiciliar” por conveniência política.
Nos Estados Unidos, figuras públicas condenadas — de ex-governadores a assessores presidenciais — cumprem pena em prisões federais comuns, com condições adequadas, mas sem privilégios. Na Alemanha, o princípio é o mesmo: o poder passado não isenta o condenado da lei presente.
A experiência internacional inspira soluções concretas. O Brasil poderia criar duas ou três celas especiais em penitenciárias federais para abrigar ex-autoridades com doenças graves ou fragilidade física. Seriam espaços com infraestrutura médica e vigilância reforçada — preservando a dignidade humana, sem transformar a punição em conforto.
Outra hipótese expõe o risco extremo: imagine um sequestrador condenado há mais de 20 anos de prisão, de 70 anos e com múltiplas cirurgias. Se for beneficiado com prisão domiciliar e fugir para uma embaixada estrangeira, cria-se impasse diplomático, impossibilitando o cumprimento da sentença judicial e lesando a sociedade. Para evitar isso, seria necessário estabelecer cooperação internacional imediata, revogação automática da domiciliar e monitoramento permanente.
A desigualdade no cumprimento de penas é uma ferida aberta. No andar de cima, tornozeleiras discretas; no andar de baixo, algemas enferrujadas. O Brasil vive entre dois extremos: a miséria e o privilégio. A cada caso emblemático, a justiça revela se está a serviço da República ou dos seus donos.
O equilíbrio entre humanidade e punição define o caráter de uma nação. Quando o cárcere se torna símbolo de desigualdade — e a pena se transforma em extensão do poder —, o país todo cumpre uma sentença moral.
A Constituição de 1988 assegura que todos são iguais perante a lei. O desafio é fazer com que essa igualdade sobreviva ao portão de ferro das prisões — e também ao porteiro eletrônico dos condomínios.
https://www.brasil247.com/blog/entre-o-portao-de-ferro-e-o-portao-eletronico
Copômia, a República Paralisada por Jurus Obscenus, por Washington Araújo
Copômia Brasilis virou vitrine de estabilidade e museu de ambição. Haddadius constrói pontes, Galyppolus ergue barreiras, e Lulix governa o silêncio com serenidade calculada.
07 de novembro de 2025


Desde os tempos em que Roma ditava o preço do trigo e o destino das legiões, os impérios aprenderam que a guerra mais longa não é travada com espadas, mas com moedas. É nesse campo invisível — onde o ouro substitui o sangue — que se desenrola a história de Copômia Brasilis, uma nação tropical e poderosa que, como Roma em seus dias de glória, alterna entre conquistas e sabotagens internas. Aqui, os generais não marcham sobre cavalos, mas sobre gráficos; e as batalhas não se decidem em colinas, mas nas atas solenes do Conselho de Política Omnipotente Monetária, o temido COPOM.
Nesse cenário, dois generais disputam o coração do Império. Galyppolus, o da retaguarda, protege os rentistius, povo bárbaro insaciável, que devora carne humana e regojiza-se com a miséria alheia.. E Haddadius, o da ofensiva, luta para libertar o povo das correntes invisíveis do crédito. Acima deles, paira o imperador Lulix III, reconduzido ao trono pelo povo copomiano, que nele vê o artífice de uma era de estabilidade e inclusão. Em seu terceiro mandato, Lulix tornou-se o símbolo de uma república em reconstrução — e já desponta como favorito inconteste para um quarto, e inédito, mandato imperial.
Lulix confia plenamente em Haddadius, a quem chama de seu “general do pão e da esperança”. É ele quem executa os planos estratégicos, quem multiplica a infraestrutura e sonha com um império que avance com equilíbrio e justiça. Mas no outro flanco, Galyppolus — de nariz proeminente, curvado como o bico de uma ave de rapina — sobrevoa os campos da economia à caça de qualquer sinal de expansão que possa inflamar os preços. Para ele, o crescimento é uma ameaça a ser abatida antes de alçar voo. Há quem diga que Galyppolus deixou-se encantar pelos cânticos da deusa Farias Limanis.
Em novembro de 2025, Copômia ostenta números que fariam corar até os contadores de Augusto: inflação de 5,1%, desemprego em 5,5%, PIB crescendo 2,2%, renda média próxima de R$ 3.500 e o Índice Bovespius — o Coliseu dos mercadores — superando 153.000 pontos, recorde histórico. As legiões produtivas celebram, mas a euforia é breve: os senhores do Norte impuseram tarifas colossais sobre as exportações de Copômia, reduzindo em 12% o volume exportado. Em resposta, Lulix abriu novas rotas comerciais com os reinos da Ásia e da África, firmando alianças que prometem devolver fôlego e dignidade ao comércio coponiano.
Mesmo assim, o general da retaguarda mantém sua muralha. Galyppolus defende a taxa de juros em 15% ao ano, uma das mais altas do mundo, venerando o medo como se fosse virtude. Sua doutrina — festejada pelos rentistius e pelos senhores do capital — é simples: preservar o lucro, mesmo que ao custo do futuro. O capital aplaude, porque lucra. O povo suporta, porque crê.
Haddadius, porém, entende que nenhuma civilização floresceu de joelhos diante dos deuses do juro. Ele exige que Copômia revise, junto ao Governo Central da República dos Bancos, a meta de inflação que aprisiona a economia. Defende que o verdadeiro equilíbrio está na prosperidade compartilhada, e que juros tão altos sufocam o trabalho, retardam o progresso e condenam a plebe a viver de esperança parcelada.
O imperador Lulix tenta equilibrar o trono entre a prudência do banqueiro e o sonho do construtor. Sabe que Haddadius dá movimento à história, enquanto Galyppolus oferece segurança à memória — e que, entre ambos, o império corre o risco de tornar-se uma pintura imaculada: perfeita, mas imóvel. Lulix não entende porque Haddadius indicou Galyppolus para essa missão.
No grande anfiteatro da economia copomiana, as legiões produtivas esperam o toque da trombeta que nunca vem. Os engenhos dormem, os portos sonham, e a esperança caminha devagar, em passo de procissão. Lulix assiste, sereno e pensativo, enquanto a retaguarda contabiliza vitórias e a ofensiva se inquieta.
Não se pode dizer que Copômia Brasilis venha vencendo a inflação — talvez apenas a contenha à força, sacrificando no altar dos juros a energia que faria o império prosperar. Suas legiões estão prontas, mas acampadas. Se o império quiser renascer, terá de escolher entre o conforto dos templos bancários e o risco glorioso de voltar a conquistar o mundo. Porque nenhum povo que teme o futuro jamais será digno dele.
Chamar tráfico de terrorismo é submeter o Brasil à tutela estrangeira
Equiparar o narcotráfico ao terrorismo não fortalece a Justiça — pelo contrário, enfraquece o país
06 de novembro de 2025


O Brasil vive uma epidemia de atalhos morais. Diante de cada tragédia, ressurge a pressa de batizar leis, de criar categorias punitivas que soam fortes nos microfones e fracas nos tribunais. Agora, pretende-se equiparar o narcotráfico ao terrorismo — um erro conceitual, jurídico e ético. Não é com analogias que se enfrenta o crime; é com leis claras, penas duras e execução eficiente.
A proposta de tratar o tráfico como terrorismo parece tentadora: soa heroica, veste-se de patriotismo e promete resultados rápidos. Mas o efeito seria o oposto. Seria abrir mão da soberania penal brasileira e entregar nossa definição de crime grave à interpretação de outros países. O terrorismo, por definição internacional, está ligado a motivações ideológicas, políticas ou religiosas. O narcotráfico é movido por lucro e domínio territorial. Misturar os dois é o mesmo que confundir poder econômico com ideologia — e isso, além de juridicamente incorreto, é moralmente perigoso.
A saída racional não está em copiar o léxico estrangeiro, mas em fortalecer o Código Penal Brasileiro. O caminho mais simples, correto e pertinente é reformar as penas aplicáveis ao narcotráfico e às organizações criminosas que o estruturam — como o PCC e o Comando Vermelho — colocando-as sob o regime das penas mais severas previstas no ordenamento nacional.
Minha proposta é clara: que o crime de narcotráfico — especialmente quando associado a organizações criminosas estruturadas — passe a ter pena máxima de 40 anos de prisão, o teto permitido pelo Código Penal Brasileiro. Essa é hoje a maior sanção aplicável no país, conforme o artigo 75, após a reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019. Mesmo que a soma das condenações ultrapasse esse limite — como ocorre em casos de múltiplos homicídios, tráfico internacional ou lavagem de dinheiro — a execução da pena é unificada, de modo que nenhum condenado pode cumprir mais de 40 anos de reclusão.
Essa proposta garante proporcionalidade, rigor e clareza ao sistema penal, fortalecendo a soberania jurídica brasileira e dispensando comparações impróprias com o terrorismo ou legislações importadas que não refletem nossa realidade.Além dessa redefinição central, proponho também o endurecimento complementar da legislação, nos seguintes pontos:
1. Tornar o crime imprescritível.Significa que o tempo não apaga a responsabilidade penal. Hoje, após certo número de anos, o Estado perde o direito de punir. Se o narcotráfico fosse imprescritível, o traficante seria punível a qualquer tempo, como acontece com crimes de racismo e com a ação de grupos armados contra a ordem constitucional.
2. Tornar o crime inafiançável.O acusado não poderia pagar fiança para responder em liberdade. Isso impede que o poder econômico — justamente o motor do narcotráfico — compre a liberdade antes do julgamento. A fiança, nesse contexto, deixa de ser garantia judicial e vira instrumento de privilégio.
3. Impedir a progressão de pena.Nada de reduzir o tempo de prisão por bom comportamento. A sentença seria cumprida integralmente. A progressão de regime é benefício reservado a quem o sistema reconhece como recuperável; no narcotráfico, o crime é estrutural, reincidente, profissionalizado e sustentado por hierarquias que continuam operando de dentro dos presídios. Enquanto houver comando externo e lucro interno, não há ressocialização possível.
4. Vedação absoluta do perdão judicial, da graça presidencial e de qualquer forma de anistia.Nenhum presidente da República, magistrado ou parlamentar poderia perdoar, reduzir ou extinguir a pena de um condenado por narcotráfico. Fica vedada toda e qualquer modalidade de anistia — individual ou coletiva, política ou penal — que permita apagar o crime, suspender seus efeitos ou reabilitar o criminoso. Essa blindagem impede o uso oportunista da clemência estatal, prática recorrente em momentos de conveniência política, e garante que o combate ao tráfico permaneça imune à manipulação de governos, bancadas ou coalizões partidárias. Justiça, aqui, não pode ser moeda de troca nem instrumento de negociação.Essas medidas tornariam o combate ao tráfico mais duro e mais justo — sem precisar importar conceitos de guerra externa. A clareza da lei é o primeiro passo da soberania. Uma lei mal tipificada gera impunidade, e impunidade é o oxigênio do crime.A diferença essencial entre narcotráfico e terrorismo deve ser preservada. Primeiro: a motivação — o terrorismo busca fins políticos, religiosos ou ideológicos; o tráfico, apenas lucro. Segundo: a estrutura — o terrorismo é célula de propaganda e intimidação; o tráfico é empresa do crime, com contabilidade, hierarquia e rede logística.
Terceiro: o território — o terror ataca para espalhar medo; o tráfico ocupa para controlar renda e poder local. São naturezas distintas. Misturar ambas não fortalece a lei, mas destrói o rigor jurídico e confunde o papel do Estado.Quando o Brasil decide chamar o tráfico de terrorismo, abre mão de sua própria soberania jurídica. Passa a aceitar, na prática, que um brasileiro possa ser tratado segundo leis estrangeiras — leis feitas para outros contextos, outras guerras, outras constituições. É importar a lógica penal de potências que confundem segurança com controle e justiça com vingança.
Ao permitir isso, o país viola o artigo 5º da Constituição, que garante a todos o devido processo legal e a proteção das liberdades civis. Equiparar tráfico a terrorismo, portanto, não é endurecer o combate ao crime — é cometer um ato de submissão nacional, um erro de lesa-pátria disfarçado de coragem jurídica.
O discurso que pretende comparar o PCC e o Comando Vermelho a organizações terroristas é uma forma disfarçada de terceirizar a soberania. Sob a máscara da eficiência, esconde-se a servidão jurídica. Nenhum país que se respeite permite que conceitos internacionais ditem a forma como pune seus próprios criminosos. Ao contrário: países soberanos protegem sua tipificação penal como quem protege sua língua — porque cada termo jurídico carrega séculos de história, cultura e jurisprudência.
Combater o tráfico exige inteligência, coordenação, leis severas e um Estado que funcione — não slogans, nem comparações indevidas. O crime organizado deve ser enfrentado como o que é: um império econômico paralelo, e não um grupo ideológico armado.Confundir narcotráfico com terrorismo é o caminho mais curto entre a ignorância e a submissão. Que os três Poderes da República repudiem essa fantasia e reafirmem o óbvio: soberania penal não se terceiriza, se exerce.
https://www.brasil247.com/blog/chamar-trafico-de-terrorismo-e-submeter-o-brasil-a-tutela-estrangeira
Entre o perdão e a arrogância, o STM revelou o quanto teme a própria consciência
Maria Elizabeth Rocha falou em nome da História; o ministro respondeu em nome da hierarquia — confundindo arrependimento com afronta e empatia com heresia
05 de novembro de 2025
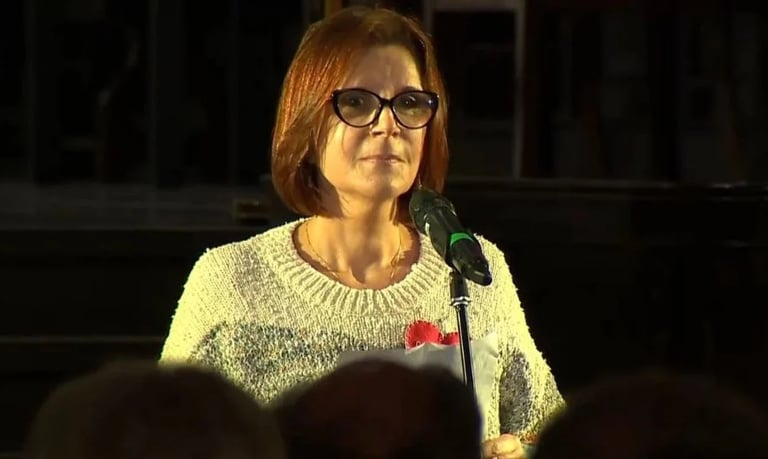
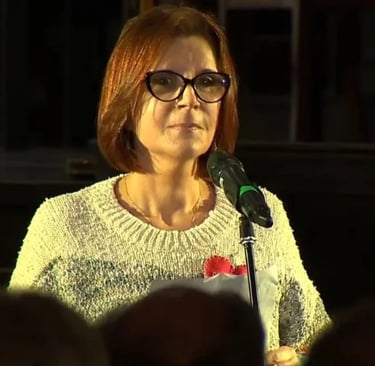
A presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha, rebateu críticas misóginas do ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira em sessão nesta terça-feira (4). Ela rejeitou o “tom misógino, travestido de conselho paternalista” de Oliveira, que sugeriu que ela “estudasse um pouco mais da história do tribunal”.
Elizabeth, primeira mulher no cargo em 217 anos, havia pedido perdão por erros e omissões judiciais cometidos durante a ditadura militar — em ato realizado na Catedral da Sé, em São Paulo, no último 25 de outubro, pelos 50 anos do assassinato do jornalista Vladimir Herzog. No mesmo discurso, citou vítimas como Rubens Paiva e Miriam Leitão, evocando a memória dos que sofreram nas mãos de uma Justiça que, à época, serviu mais ao poder do que à lei. (Curiosamente, o que deve ter dado nos nervos do ministro foi que a televisão captou José Dirceu, emocionado, aplaudindo a presidente do STM).
O embate com o ministro gerou bate-boca e até a sugestão de uma reunião fechada, como se o eco da História ainda precisasse ser abafado entre paredes de cimento e cal.
A reação do ministro veio dias depois, na sessão seguinte do tribunal, transformando o que poderia ter sido um gesto interno de cortesia institucional em um ato público de ressentimento histórico. Em tom ríspido, Carlos Augusto Amaral Oliveira fez um pronunciamento que se estendeu por longos minutos, lido entre hesitações, pausas e contradições, no qual buscou se dissociar da fala da presidente e da ideia de arrependimento que ela representava.
O discurso, proferido sob o manto da formalidade judicial, tornou-se rapidamente um espelho do que o próprio STM ainda reluta em reconhecer: sua dificuldade de lidar com o passado e de encarar o papel que desempenhou durante os anos de exceção.
Mais do que uma divergência jurídica, tratou-se de uma colisão simbólica. De um lado, a coragem da reparação; do outro, o constrangimento de quem confunde arrependimento com fraqueza. A presidente falou em nome da consciência; o ministro, em nome da tradição. O resultado foi o retrato de uma instituição dividida entre o passado e o possível futuro — entre a Justiça que julga e a Justiça que finalmente se julga.
O tom burocrático da intervenção do ministro — “peço registro em ata”, “não lhe outorguei mandato”, “nego essa delegação” — é o vocabulário da autopreservação. Ele se diz defensor da liberdade de opinião, mas o que reivindica é o direito de não ser confundido com o perdão. Sua fala é uma tentativa de salvar-se da história, travestida de zelo institucional. E, ironicamente, ao tentar negar o gesto da presidente, ele o eterniza.
O ministro fala para o arquivo, não para o presente. Deseja que sua recusa fique registrada “para os arqueólogos da História”. É o medo de quem sabe que o futuro julgará não só o silêncio, mas também o barulho feito para impedir que outros falem. A menção aos “arqueólogos” revela uma consciência atormentada: ele sabe que o perdão — gesto de lucidez e humildade — transformou a paisagem simbólica do tribunal, abrindo uma fissura na muralha de solenidades onde há décadas se escondem as culpas não ditas.
Talvez o ministro tenha se inspirado — sem saber — em Chico Buarque, aquele que cantou os “arqueólogos do futuro” desenterrando versos e vestígios de amor. Só que, neste caso, não encontrarão poesia alguma — apenas atas frias, carimbos e o pó de uma consciência pesada.
Voltemos, então, ao discurso do ministro e ao seu conteúdo, onde a forma revela tanto quanto as palavras. O que se quis defender como ato de lucidez institucional se expõe, linha por linha, como demonstração de arrogância togada — a convicção de que a toga confere superioridade moral, mesmo quando a História já decretou o contrário. É o velho reflexo de um poder que não pede desculpas porque nunca aprendeu a duvidar de si.
A oralidade truncada — “é, bom, é, eu, eu, é…” — expõe o desconforto. A gramática hesita onde a consciência fraqueja. A cada pausa, uma tentativa de recalcular a rota moral. Não é apenas nervosismo; é a dificuldade de nomear o que sempre se preferiu ocultar. Sua irritação é o sintoma daquilo que tenta negar: o reconhecimento de que houve erros, e que a Justiça Militar foi parte deles.
Ao insinuar que a presidente deveria “estudar mais a história do tribunal”, o ministro deixa escapar o viés paternalista que ela denunciou. O “conselho” vem carregado de um machismo cerimonioso, o tipo que ainda sobrevive sob o disfarce do protocolo. Ele fala como quem repreende uma aluna ousada, não como quem dialoga com uma colega de toga. É a língua do patriarcado institucional, fantasiada de cortesia.
O que o ministro pretendeu apresentar como defesa da neutralidade revela-se, no fundo, um discurso de poder. Ele não defende a história — defende a versão. Ao negar o perdão, reafirma a lógica de sempre: a Justiça Militar não erra, apenas “cumpre seu dever”. Mas o ato de Maria Elizabeth Rocha expôs a fissura dessa narrativa. Pela primeira vez, uma voz do próprio tribunal admitiu o que o país sempre soube: que a toga, quando cega, pode ser cúmplice da violência.
A insistência do ministro em dizer “não falo em nome do tribunal, falo por mim” é uma estratégia de sobrevivência discursiva. É a tentativa de salvar-se individualmente de uma culpa coletiva. Mas todo esforço de isolamento termina revelando o que pretende esconder: há culpa compartilhada. E há também medo — o medo de que a palavra “perdão” abra um precedente moral dentro das paredes da caserna.
No fundo, o ministro quis preservar o próprio nome. Conseguiu apenas preservar o sintoma. Sua fala pertence à galeria dos discursos que tentam apagar a sombra lançando mais escuridão. Ele quis que seu nome ficasse em ata — e ficará. Mas não como imaginava: não como o guardião da tradição, e sim como o símbolo do desconforto de uma geração que ainda acredita que pedir perdão é fraquejar.
Enquanto ele pedia “registro”, a História, sem pedir licença, já o registrava.
A brevidade da vida, por Washington Araújo
A vida não admite ensaio. Cada gesto é estreia e despedida — e o palco do tempo nunca reabre a cortina.
03 de novembro de 2025


A vida não se alonga em promessas. Vive-se num fio de navalha entre o já e o nunca mais. Não há luxo maior do que o instante. O relógio, esse algoz disfarçado em rotina, não concede apelações. O que se perde não volta, e o que se imagina eterno revela-se miragem ao primeiro vento contrário.
Sêneca, o estoico que enfrentou o império de Nero, sabia o que era viver cercado de urgência. Escreveu que “não é a vida que é curta, é o desperdício que a encurta”. Foi forçado a morrer com a serenidade que pregava — cortando as próprias veias enquanto o discípulo transformado em tirano assistia. Talvez, se vivesse hoje, reconhecesse nas vielas do Rio o mesmo espetáculo trágico do poder embriagado de si: 121 mortos numa só operação, e a ilusão de que justiça se mede em cadáveres.
No Brasil, onde a medicina prolonga corpos mas o medo encurta futuros, a longevidade virou estatística sem alma. A expectativa de vida passa dos 75 anos, dizem os relatórios; mas a cada madrugada, a juventude é ceifada nas periferias, como se o tempo fosse privilégio de poucos. Morre-se antes da velhice, não por doença, mas por decreto. A morte chega fardada, legalizada, transmitida em tempo real — e cada corpo caído é uma biografia interrompida no parágrafo inicial.
Sêneca insistia que “viver bem é morrer cedo com dignidade ou tarde com sabedoria”. No Brasil, não temos uma opção nem outra: morre-se cedo, sem dignidade; e os que chegam longe o fazem cercados de medo, blindagem e indiferença. A brevidade que o filósofo via como convite à reflexão, aqui se converteu em rotina: vidas consumidas entre tiros, telas e pressa.
A cultura nacional, porém, ainda encontra modos de resistir ao vazio. O samba, o teatro, a canção — todos sabem que o instante é o palco e a despedida é o aplauso final. Cartola, em sua doçura ferida, cantou como quem compreendia que o tempo é um visitante breve. A beleza, quando não se apressa, vira eternidade por um segundo. É nesse segundo que a vida inteira cabe.
O jornalismo, ao narrar o mundo, torna-se seu obituário. Guerras, enchentes, chacinas — manchetes são orações fúnebres disfarçadas. O papel se renova, mas o drama é o mesmo: a arrogância humana de acreditar que controla o tempo, como se o relógio obedecesse à vaidade. Sêneca diria que desperdiçamos a vida como quem gasta uma fortuna imaginária, convictos de que haverá outra conta a resgatar no futuro. Não há. Não temos vida de reserva — pelo menos não esta, com este corpo, esta memória, estas pessoas e este breve teatro de afetos que nos cerca. O instante é tudo o que se nos concede. E temos que fazer tudo caber nele.
Viver, afinal, é um ato de presença radical. É beber o café como quem assina o último tratado de paz com o instante. É ouvir uma canção como quem testemunha um milagre efêmero. É abraçar alguém sabendo que nenhum gesto se repete. A vida é breve — e justamente por isso, insubstituível. O que lhe dá valor não é a duração, mas a intensidade com que se deixa arder.
https://revistaforum.com.br/opiniao/2025/11/3/brevidade-da-vida-por-washington-araujo-191178.html
O silêncio dos vivos é a continuação da chacina – Por Washington Araújo
Mais que números e perícias, operação no Rio expõe a história dos que não têm voz. Foucault chamaria de “a arqueologia dos silenciados”
02 de novembro de 2025


Rio de Janeiro, 2025. Nas vielas do Alemão e da Penha, o dia amanheceu com o ruído das metralhadoras e o zumbido dos helicópteros sobre os telhados. Quando o sol se pôs, restava a contagem macabra: mais de uma centena de mortos, dezenas de feridos, nenhuma certeza — exceto a de que o Estado voltou a confundir território com alvo. O governo chamou de operação. O povo chamou de medo.
O filósofo francês Michel Foucault, que dedicou sua vida a compreender as engrenagens invisíveis do poder, provavelmente veria ali um experimento moderno do que ele chamou de sociedade disciplinar. Em “Vigiar e Punir”, Foucault descreve a passagem histórica do castigo espetacular — o suplício público — para o controle contínuo dos corpos. A violência deixou de ser um espetáculo de dor e passou a ser um mecanismo de vigilância permanente.
Em tantas aulas de Sociologia na Universidade de Brasília, Foucault era minha sombra constante. Falávamos de prisões, hospitais, escolas, e eu percebia como o poder que ele descreveu atravessava nossas paredes invisíveis. O Brasil, afinal, é uma sala de aula prolongada: disciplinar, hierárquica, vigilante. E talvez, sem o saber, todos nós sejamos, ao mesmo tempo, professores e prisioneiros do mesmo sistema que analisamos.
É o que o pensador denominou de panoptismo, inspirado no Panóptico de Jeremy Bentham — uma prisão circular com uma torre no centro, de onde o vigia pode observar todos os prisioneiros sem ser visto. Não há mais açoite, há olhar. Não há mais grilhões, há consciência de estar sendo observado. O poder não precisa mais punir todos; basta que todos acreditem poder ser punidos a qualquer momento.
Nas favelas do Rio, o panoptismo deixou o campo das metáforas e ganhou helicópteros, drones, câmeras térmicas e manchetes que repetem a palavra “suspeito” como se fosse sentença. Os moradores vivem sob a lógica de um olhar que nunca se apaga — o da polícia, o da mídia, o do Estado e, por fim, o deles próprios. Quando a comunidade começa a se autocensurar, o poder cumpriu seu papel: a vigilância foi internalizada.
Mas Foucault foi além. Em sua arqueologia do saber, ele procurou reconstruir a história dos que foram silenciados — os loucos, os presos, os pobres, os desviantes. A civilização ocidental, dizia, se ergueu sobre o exílio dos que não cabiam no discurso da razão. Cada época inventa seus “irracionais” para justificar o controle. No Brasil, essa categoria tem cor, endereço e CEP: o jovem negro do morro, o corpo que apanha, morre e ainda precisa provar inocência depois de morto.
O massacre do Alemão e da Penha não é um erro operacional; é o modo normal de funcionamento de um Estado que administra a morte como política pública. Foucault chamaria de biopoder — o poder que decide quem vive e quem pode morrer. Nas sociedades modernas, o poder não se limita a reprimir: ele gere a vida, regula nascimentos, controla fluxos, define prioridades. No Rio, o biopoder opera ao contrário: o Estado, incapaz de garantir a vida, aprende a administrar o risco da morte.
E há ainda o pós-operação: o silêncio disciplinar. A cidade retoma a rotina, os jornais mudam de manchete, o noticiário volta ao futebol. O esquecimento é parte do mecanismo. O poder moderno — ensinou Foucault — já não precisa de censura explícita; ele se impõe pela indiferença. A barbárie se repete porque encontra, embaixo da violência visível, uma violência ainda mais eficaz: a de quem se acostuma.
Mas o filósofo também lembrou que onde há poder, há resistência. Nas margens desse silêncio, surgem gestos que racham o discurso oficial: moradores que filmam da janela, mães que escrevem os nomes dos mortos em cartazes, advogados populares que exigem perícia, jornalistas independentes que se recusam a usar a palavra “confronto”. Pequenas insurreições de linguagem que devolvem humanidade a quem o Estado insiste em tratar como número.
A arqueologia foucaultiana não é escavação do passado; é escuta do presente. É cavar entre os escombros da verdade oficial para encontrar as vozes que sobrevivem ao medo. Se Foucault estivesse entre nós, talvez dissesse que a favela é o arquivo vivo do Brasil — o lugar onde se acumulam as provas de que a violência é racional, planejada, administrativa. E onde, ao mesmo tempo, germina a resistência mais radical: a de continuar existindo.
A democracia se mede não pelo número de urnas, mas pela capacidade de ouvir quem ficou vivo. O Brasil precisa decidir se quer ser uma sociedade de segurança ou uma sociedade de justiça. Porque enquanto o Estado fala em “retomar territórios”, o território devolve a pergunta essencial: quem retoma o direito de viver?
O massacre de hoje não é o fim — é o método. E o silêncio que o sucede não é paz — é política. O silêncio dos vivos é a continuação da chacina.
O Rio enfim tem um Carandiru para chamar de seu — e o Estado assina a certidão
No Rio, uma megaoperação com pelo menos 119 mortos expôs não apenas falhas sensíveis da política pública, mas um convite velado à intervenção externa
30 de outubro de 2025


Na manhã seguinte ao confronto nos complexos da Penha e do Alemão, a cidade amanheceu em desalento. As ruas guardavam o rastro da noite anterior e o eco das sirenes. O número de mortos, 119 segundo a Polícia Civil, é mais que estatística: é o espelho sombrio de uma política que confunde força com vitória. O governador Cláudio Castro, ladeado pelo ministro Ricardo Lewandowski, anunciou o roteiro de sempre: mais presídios, mais recursos, mais peritos, mais tropas.
O plano soa emergencial, mas repete o velho vício de tratar sintomas com munição. Na coletiva, Castro e Lewandowski prometeram um “escritório emergencial” entre União e Estado, como se o problema fosse de comunicação e não de concepção. O que realmente poderia alterar o curso dessa tragédia está no Congresso: a PEC 18/2025, a chamada PEC da Segurança Pública, que prevê integração nacional das forças policiais sob coordenação da União.
Castro não a mencionou — talvez por não tolerar o que não controla.
A omissão é reveladora: prefere o improviso da guerra ao método da lei. Na sua retórica, o crime é o inimigo absoluto, e a solução, o extermínio. Mas quando o governador usa a palavra “narcoterrorismo”, ele mistura fronteiras jurídicas e morais. Narcotráfico é crime comum, ligado ao comércio ilícito e ao lucro; terrorismo, segundo o direito internacional, é crime político, movido por ideologia ou religião, destinado a provocar pânico e coagir governos. Ao confundir os dois, o discurso oficial tumultua o debate legítimo e pavimenta o caminho para justificar o uso de força sem limite, nem lei.
Foi com esse mesmo vocabulário que Donald Trump ampliou a guerra ao narcotráfico, chamando traficantes de terroristas. Sob essa lógica, os EUA enviaram porta-aviões e submarinos nucleares ao Caribe, matando dezenas de pessoas em águas internacionais, sem processo, sem perícia e sem corpo. O governador do Rio segue essa trilha: chegou a enviar relatório a autoridades americanas classificando o Comando Vermelho como organização terrorista internacional. E um senador fluminense, em publicação no antigo Twitter, pediu que o secretário de Defesa dos EUA bombardeasse a Baía de Guanabara.
Não é coincidência. O discurso do “narcoterrorismo” é o pretexto perfeito para converter soberania em subordinação. A retórica da guerra, quando internaliza o vocabulário estrangeiro, transforma o Rio em laboratório de um modelo importado — e falido.
Nesse contexto, o despacho do ministro Alexandre de Moraes ganha densidade. Vinculado à ADPF 635, exige que o governador e os chefes de segurança prestem contas. Entre as perguntas: qual o grau de força autorizado? Quantos mortos, feridos e detidos? Que armas foram usadas? Houve câmeras corporais? Ambulâncias? Comunicação ao Ministério Público? Essas exigências não são burocráticas — são morais. O STF obriga o Estado a devolver à sociedade o que dela tomou: o direito à verdade.
Porque a letalidade não é destino.
O Brasil já provou que é possível desmantelar o crime com inteligência. Operações como a Carbono, conduzida pela PF com o Coaf e a Receita Federal, recuperaram bilhões sem disparar um tiro. O sucesso está em prender, não em sepultar. E é isso que torna a pergunta inevitável: se há mais mortos do que fuzis apreendidos, mais cadáveres do que presos, pode-se chamar isso de vitória?
Em 1992, o massacre do Carandiru deixou 111 mortos e marcou a história como a face mais brutal do sistema prisional brasileiro. Trinta e três anos depois, o Rio ultrapassa essa cifra com 119 vítimas confirmadas — e, segundo relatos, outras ainda por contabilizar. É o maior massacre já cometido no Brasil sob o comando direto do poder do Estado — no caso, o poder do Estado do Rio de Janeiro. Se no Carandiru a barbárie ocorreu entre muros, agora ela se expande pelas vielas, como se a cidade inteira fosse um presídio a céu aberto.
Na coletiva, o governador repetiu que o Rio precisa de apoio federal, mas suas palavras soaram como provocação: a retórica do “narcoterrorismo” substitui a cooperação pela confrontação e legitima o caos. O Palácio do Planalto respondeu com firmeza, rejeitando qualquer ingerência estrangeira. Ainda assim, o risco permanece — a tentação de transformar a política de segurança num corredor diplomático para operações externas “de apoio”.
Enquanto isso, a Polícia Federal segue outro caminho. Conduziu mais de 170 operações no Estado, apreendeu toneladas de drogas e armas, prendeu lideranças, sem a mesma contagem de corpos. Isso mostra que inteligência é mais poderosa que pólvora. Mas no Rio, a política insiste em inverter a lógica: celebra a força que mata e silencia a que investiga.
A audiência marcada para 3 de novembro será o divisor. O governador, pela primeira vez, terá de explicar uma operação que o próprio Estado chama de sucesso e o país reconhece como tragédia. Não se trata de um embate entre poderes, mas de um teste entre barbárie e responsabilidade.
O futuro da segurança no Brasil talvez dependa dessa resposta: se queremos um Estado que governa com lei ou um poder que mata com discurso. Porque quando o Estado se transforma no seu próprio algoz, já não defende ninguém — apenas confirma que perdeu o direito de comandar.
O que antes era figura de linguagem — o “mundo cão” — agora tem CEP, governador e coletiva de imprensa.
O Brasil desnuda no Rio a anatomia de um Estado falido, por Washington Araújo
A bala fala mais alto que a Constituição — e o medo, mais alto que o som das bombas, granadas, fuzis e sirenes. Mais do que nunca precisamos aprovar a PEC 18/2025.
29 de outubro de 2025


O Rio de Janeiro amanheceu sitiado.
Pelas ruas e vielas da Penha e do Alemão, o Estado desceu em peso com 2.500 agentes, helicópteros, blindados e drones. O saldo oficial até agora é devastador (corpos não param de chegar e os números, infelizmente, devem aumentar muito): 64 mortos, entre eles 4 policiais e um delegado, 9 feridos das forças de segurança, 75 fuzis apreendidos e 81 prisões. A guerra urbana ganhou rosto, cheiro e ruído. E, como nas tragédias humanas, ninguém sabe ao certo quem são os inimigos — e quem, de fato, é o povo a ser protegido.
Desta vez, os criminosos lançaram bombas e granadas por drones. O cenário não lembrava uma operação policial, mas uma ofensiva militar. A paisagem — vielas de concreto, fumaça preta, corpos estendidos no chão — era a mesma que se vê em Gaza, onde o bombardeio cotidiano destrói o sentido da palavra “vida”.
Em ambos os lugares, o Estado responde com força desproporcional, e a população se encolhe entre o dever de sobreviver e o direito de existir. No Rio, como em Gaza, o barulho das explosões é seguido por um silêncio que não é paz — é o intervalo entre duas violências.
A guerra sem fronteiras
Os números da operação carioca soam como boletim de guerra: dezenas de mortos em poucas horas, armas pesadas, drones lançando morte do céu.
Mas há algo mais profundo — e mais devastador — que os números não mostram. É o colapso da confiança entre cidadãos e instituições.
No Rio, cada sirene é uma sentença antecipada.
Cada helicóptero, um presságio.
Cada esquina, uma trincheira improvisada.
A diferença entre a guerra declarada do Oriente Médio e a guerra disfarçada do Brasil é apenas semântica. Gaza é o território da ocupação e da retaliação. O Rio é o território da omissão e da ausência de Estado.
Lá, há drones israelenses.
Aqui, há drones improvisados pelo crime.
Lá, as bombas caem em nome da segurança nacional.
Aqui, em nome da “ordem pública”.
Nos dois, a vida civil é a que mais sangra.
Blindagem como modo de vida
O Rio virou um campo minado emocional.
As famílias aprenderam a medir o tempo pela duração dos tiroteios, e não mais pelo ponteiro dos relógios.
O aço virou segunda pele: quase 400 mil carros blindados circulam pelo país — 45 mil só em 2024, segundo a Associação Brasileira de Blindagem.
Não se trata de luxo. É medo com certificado de fábrica.
A sociedade brasileira naturalizou o inaceitável.
Os condomínios são fortalezas verticais; as ruas, arenas de fuga.
A política virou coadjuvante da barbárie.
Enquanto isso, o Congresso debate a PEC 18/2025, que tenta transformar o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) em política de Estado. Mas a tramitação emperra na burocracia e nas barganhas partidárias.
A tragédia do Alemão é, também, a metáfora de um país que não sabe mais distinguir o combate ao crime do combate ao pobre.
A ausência como política
Cada morador da Penha ou de Gaza conhece de cor o som de um disparo.
Mas talvez o que mais doa seja o som da ausência: ausência de Estado, de justiça, de coordenação.
No Brasil, as forças de segurança agem como exércitos autônomos.
Não há integração de dados, nem protocolos compartilhados, nem transparência no uso da força.
A cada operação, repete-se o roteiro: helicópteros, mortos, notas oficiais, silêncio.
É essa descoordenação que a PEC 18/2025 tenta enfrentar — e que a covardia política insiste em perpetuar.
Porque enfrentar o crime sem enfrentar a desigualdade é fabricar tragédias em série.
Porque chamar de “efeito colateral” o corpo de um adolescente é renunciar à civilização.
Gaza é aqui
Ao comparar o Rio a Gaza, não se pretende diluir a dor de nenhum dos dois povos, mas reconhecer a semelhança das feridas.
Ambos os lugares vivem sob fogo cruzado, sob o olhar distante de autoridades que chamam de “dano colateral” aquilo que é, na essência, vida perdida.
Ambos se tornaram laboratórios da desumanização. A diferença é que, em Gaza, o inimigo tem bandeira.
No Rio, o inimigo veste farda, terno, toga — e também bermuda e chinelo.
O Brasil precisa decidir se quer continuar assistindo a seus próprios bombardeios diários transmitidos em tempo real.Ou se, enfim, reconhece que a guerra não é o único caminho.
Enquanto a guerra de Gaza segue estampada nas manchetes internacionais, a guerra do Rio se repete sem tradução. Mas ambas nascem do mesmo ventre: o fracasso da política e o desprezo pela vida comum.
Nenhuma sociedade pode se considerar civilizada quando o resultado de uma operação policial se assemelha a um relatório de guerra. Sessenta e quatro mortos, entre eles inocentes, não representam êxito tático, mas um retumbante fracasso de Estado. São o retrato da incompetência estratégica, da ausência de comando unificado e da renúncia à inteligência como instrumento de ação pública. Uma operação que termina assim não é segurança: é barbárie com crachá oficial.
Insisto: a PEC 18/2025 pode ser o início de uma reconstrução institucional — se houver coragem de aprová-la e aplicá-la. Mas, até lá, o que se vê é um Estado que atira primeiro, pensa depois e se acostuma a contabilizar cadáveres como se fossem números de um balanço contábil da violência.
Volta dos Clãs revela como o Supremo trocou a República pela linhagem e pelo sobrenome
Sob o manto da legalidade, o Supremo apaga fronteiras entre público e privado, permitindo que o parentesco suplante o mérito e a República volte a falar o idioma dos clãs.
25 de outubro de 2025


Nas últimas 48 horas, o Supremo Tribunal Federal formou maioria de 6 a 1 para permitir que autoridades nomeiem parentes para cargos de natureza política — como ministérios, secretarias e assessorias diretas — sem que isso configure automaticamente nepotismo. O argumento central da Corte: a súmula que proíbe o favorecimento familiar (Súmula Vinculante 13) não alcançaria cargos “essencialmente políticos”. Soa técnico, equilibrado, até racional. Mas, por trás desse verniz jurídico, o que se erige é um perigoso monumento ao autoengano institucional — uma fantasia revestida de formalidade legal.
Essa “flexibilização” é, na prática, uma ficção moral. Imaginar que um prefeito, governador ou ministro nomeie seu cônjuge, filho, mãe ou irmão apenas porque “atendem aos critérios técnicos e à idoneidade moral” é acreditar em um país que só existe no parágrafo do voto de um relator.
É ignorar o Brasil real — aquele onde o mérito raramente se sobrepõe ao laço familiar, e onde o currículo pesa menos que o sobrenome. A decisão do STF cria um teatro de legalidade: a cena é de transparência; o enredo, de patrimonialismo; o desfecho, de impunidade.
A Corte repete, com toga e eufemismo, o argumento da exceção que engole a regra.
Diz que a nomeação será legítima se houver “qualificação técnica”. Mas quem, afinal, auditará isso com independência?
Que órgão aferirá, de forma objetiva, que um secretário municipal ou ministro indicado por laços de sangue foi escolhido pelo saber e não pelo DNA?
Não há instância que possa provar, de modo incontestável, que a escolha decorreu do mérito e não da conveniência. O resultado é previsível: a subjetividade vira escudo, e o discurso da técnica legitima o abraço da família na coisa pública.
E o STF, ao reconhecer essa modalidade de nomeação como possível, dilui o princípio da impessoalidade da administração pública — cláusula pétrea do artigo 37 da Constituição. Essa diluição não é apenas jurídica; é simbólica. É o Estado dissolvendo sua fronteira com o lar, a esfera pública misturando-se à mesa de jantar. É o gesto que transforma o serviço público em herança, o cargo em dote, a gestão em condomínio.
O que se esfarela não é uma norma, é um valor republicano: a separação entre o “meu” e o “nosso”, entre o poder e a família.
O Brasil parece assistir, mais uma vez, à naturalização do indevido — como se a moralidade administrativa fosse um móvel antigo, relegado ao fundo da sala, empoeirado, porém ainda exibido nas cerimônias de posse. O país, cansado de discursos e escândalos, vê o STF reescrever a ética em letra miúda, trocando o ideal republicano por uma pragmática de compadrio. É a liturgia da legalidade servindo de biombo para a persistência do velho feudo de sempre.
O Supremo, ao criar essa brecha, age como quem libera uma nova substância sem testar seus efeitos colaterais. O nepotismo político é o vírus que se anuncia “controlado” — até começar a se replicar nos tecidos da administração pública, silenciosamente. Quando se perceber o dano, já será tarde: a impessoalidade, pilar da democracia, estará contaminada, e a confiança pública, com. febre alta.
No fim, o STF não está apenas reinterpretando uma súmula. Está abrindo um precedente que torna o país mais vulnerável ao arbítrio familiar, mais distante da ideia de Estado e mais próximo do velho patriarcado que há séculos drena nossa energia cidadã. É uma vitória do formalismo sobre a ética, da conveniência sobre o princípio, do sangue sobre o mérito.
O que se chama de “flexibilização” é, na verdade, a legitimação de um retorno: o retorno da política como negócio de família — e da República como ficção cada vez mais difícil de sustentar. Isso tudo ocorre em um momento em que estávamos tao satisfeitos com a atuacao da nossa Suprema Corte. Deplorável desvario.
O delírio das incertezas
Do negacionismo científico à xenofobia, o planeta adoece de certezas frágeis e ilusões digitais. Pensar por si mesmo virou ato de resistência.
24 de outubro de 2025


Vivemos um tempo em que o diferente se tornou ameaça. O plural, que deveria ser celebração da inteligência humana, virou sinônimo de ofensa. Há quem reaja à divergência como quem ouve um ruído insuportável — não para escutar, mas para silenciar. É nesse ponto que começa o deserto das ideias.
Respeitar a diversidade — de pensamento, de crença, de ideologia, de nacionalidade, de cultura — não é um gesto de condescendência, mas um ato de lucidez. O mundo não foi moldado para caber num único ponto de vista.
A natureza ensina, em silêncio, que a força da vida está justamente na diferença.
Há sabedoria em quem escuta o que o contradiz. Quando alguém pensa diferente de você, o único direito legítimo é o de argumentar. Nada além disso. Argumentar é ato civilizatório, uma ponte entre ilhas. Ofender, agredir e odiar são sintomas de mentes que não suportam o próprio espelho.
Quem não suporta o pensamento alheio teme ver o próprio erro refletido. É mais fácil querer que o mundo mude de lugar do que admitir a necessidade de mudança em si mesmo. Por isso, tantos se comportam como imperadores sem império, impondo verdades a quem apenas tenta existir.
A mente infantilizada acredita que a vida deve confirmar suas certezas. A madura sabe que viver é desapegar-se delas.
A diversidade é escola de humildade — ensina que não precisamos vencer debates, mas compreender que a razão é uma moradora itinerante.
Como psicanalista, não acho que o mundo esteja mal frequentado. O que vejo é um retrocesso civilizatório. Tijolo a tijolo, construímos valores de convivência e razão. Agora, muitos os renegam, trocando empatia por fúria, escuta por grito, reflexão por certezas que se autoproclamam eternas.
De 2016 a 2025, assisti com espanto à volta de ideias autoritárias, disfarçadas de soluções simples. Vi pessoas abrirem mão do livre-arbítrio, permitindo que outros pensassem por elas. O desconforto diante da diferença transformou-se em ódio. Famílias, antes inteiras, se fragmentaram em tribos que se enfrentam.
Essa nova ordem emocional, feita de medo e intolerância, espalhou uma paranoia planetária. O outro se tornou ameaça. Surgiu a xenofobia — medo e rejeição do estrangeiro, real ou simbólico —, expressão do pavor de conviver com o que não espelha nossa imagem.
O delírio das incertezas passou a enfermar as mentes cansadas de pensar por si mesmas.
O negacionismo científico virou epidemia moral. Opinião se confundiu com conhecimento; crença, com evidência. A dúvida, antes semente da razão, foi transformada em combustível da histeria coletiva.
Se o Iluminismo — movimento do século XVIII — foi o nascimento da razão moderna, suas luzes parecem agora se apagar. Boa parte da humanidade retorna voluntariamente à caverna de Platão, fascinada pelas sombras digitais que tremulam nas telas do mundo virtual.
As redes tornaram-se o novo oráculo. Ali, as sombras são mais confortáveis que a luz. As mentiras circulam mais depressa que o pensamento, e as convicções se tornaram trincheiras. A humanidade assiste, mesmerizada, ao eclipse do discernimento.
Enquanto isso, o fanatismo religioso corrói o que há de sagrado na fé: a liberdade de crer e o respeito ao diferente. O sentido da vida foi trocado por acumulação de riqueza, e a realidade, por um simulacro de si mesma.
Vivemos num palco de aparências, onde a autenticidade virou artigo de luxo. O mundo virtual nos permite ser quem gostaríamos de ter sido, não quem realmente somos.
A verdade perdeu a voz, e o ego assumiu o microfone.
Conviver com a diversidade é reconhecer que ninguém tem o monopólio da verdade. Respeitar é compreender que a humanidade é um coral de dissonâncias. E que o respeito — mais do que virtude — é o idioma que nos impede de voltarmos, cegos, à escuridão da caverna.
Narrativas de sangue e silêncio
A cada jornalista silenciado, o mundo fica mais cego — e a palavra narrativa, repetida sem escrúpulo, cava o túmulo da verdade compartilhada
22 de outubro de 2025


Em um discurso recente no Vaticano, o Papa Leão XV falou aos jornalistas de todo o mundo como quem ergue uma tocha num campo de sombras.
“Fazer jornalismo nunca pode ser considerado um crime, mas sim um direito a ser protegido. A informação livre é um pilar que sustenta a construção das nossas sociedades, e por isso somos chamados a defendê-la e garanti-la.”
Suas palavras soaram como advertência e epitáfio. Em um planeta onde o ato de informar tornou-se perigoso, o simples gesto de contar o que se vê pode custar a vida.
Segundo dados da Repórteres Sem Fronteiras (RSF), até meados de outubro deste ano, 38 jornalistas foram assassinados, 514 permanecem detidos, e 39 colaboradores da imprensa também estão presos por exercer o dever de informar. A liberdade de imprensa, em muitas nações, deixou de ser um direito — virou suspeita.
O Papa advertiu: “Devemos dizer não à guerra das palavras e das imagens; devemos rejeitar o paradigma da guerra.” Mas essa guerra está em curso — e o campo de batalha é a própria linguagem. As armas são hashtags, campanhas de difamação, algoritmos e linchamentos virtuais.
Em Gaza, segundo a Al Jazeera, mais jornalistas morreram em poucos meses do que em qualquer outro conflito desde 1945. O jornalismo, literal e simbolicamente, sangra.
Mais grave, porém, é o assassinato simbólico da verdade.
A palavra “narrativa” — antes nobre, associada ao esforço humano de compreender o mundo — foi sequestrada e transformada em disfarce para a mentira. Hoje, dizer “essa é a minha narrativa” equivale a proclamar que a realidade é opcional, que o fato é apenas uma versão entre tantas.
Nesse terreno movediço, o jornalismo se fragmenta em ruídos. Multiplicam-se manchetes que se bastam, subtítulos que prometem o que não entregam e textos que repetem o título como se fosse pensamento.
Há matérias tão rasas que uma formiga se afogaria nelas se caísse distraída — e o pior: morreria sem saber se estava em água ou café.
A busca por curtidas e cliques substituiu a busca pela apuração.
O Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) revelou que 361 repórteres estavam presos no mundo em dezembro passado, número que segue crescendo.
Na América Latina, a RSF contabiliza 13 jornalistas assassinados apenas entre janeiro e julho de 2025, superando todo o ano anterior. São vidas interrompidas não por erro, mas por coragem.
E enquanto os que resistem caem, cresce uma geração de cronistas do efêmero — analistas de manchete, repórteres de algoritmo, comentadores de si mesmos. O jornalismo que nasce da pressa morre de anemia ética.
Sem responder às perguntas essenciais — o que, quem, quando, onde, como e por quê —, a notícia se desmancha, o leitor se perde, e o poder agradece.
Leão XV disse ainda: “Não precisamos de uma comunicação ruidosa e violenta, mas de uma que saiba escutar e dar voz aos que não têm voz.” Mas escutar, hoje, é o gesto mais revolucionário que existe. Num mundo que só fala, quem escuta é subversivo.
A perda de profundidade não corrói apenas o ofício. Corrói a confiança pública, o sentido de pertencimento, o fio invisível que liga o cidadão à realidade.
Quando o repórter abdica de apurar, o leitor abdica de pensar — e a mentira, vestida de narrativa, assume o comando da história.
As palavras que me levaram a essas reflexões foram ditas em homilia pronunciada por Leão XV no Vaticano, em 12 de maio de 2025, um dos discursos mais lúcidos e ignorados do ano. A cobertura incessante das guerras nos campos de batalha e das guerras nos campos do comércio internacional abafou o eco moral desse pronunciamento histórico, que deveria ter ganhado manchetes, análises e reflexão global.
Soterrado sob estatísticas de destruição, câmbio e commodities, o discurso se perdeu — e com ele, perdeu-se também a chance de repensar o jornalismo como consciência coletiva, não como ruído de ocasião.
O Papa concluiu: “Jamais vendam sua autoridade.”
E talvez nenhuma frase resuma melhor a urgência deste tempo.
Porque, quando a imprensa troca sua integridade por visibilidade, deixa de ser bússola noturna e vira holofote — ilumina o cenário, mas não o caminho.
Entre a bala e a palavra, o verdadeiro jornalista escolhe a palavra.Não por heroísmo, mas por convicção. E é dessa convicção — ferida, teimosa e luminosa — que depende a última chama de lucidez que ainda resiste no mundo.
https://www.brasil247.com/blog/narrativas-de-sangue-e-silencio
Eles morrem cedo. Elas chegam pontualmente à velhice, por Washington Araújo
Eles vivem 73, elas 79. Não é sorte, é método: enquanto uns fogem do consultório, outras transformam o cuidado em hábito, não em drama.
20 de outubro de 2025


Há quem diga que a vida é um jogo de resistência, e que as mulheres, discretamente, vieram ao mundo com melhores tênis e mais fôlego. Elas atravessam as décadas como quem conhece o caminho secreto para chegar inteira ao outro lado — mesmo tropeçando em desigualdades, duplas jornadas e preconceitos que insistem em desafiar a biologia. Enquanto os homens ainda discutem onde perderam o mapa da própria saúde, elas já estão preparando o café e lembrando de tomar o remédio da pressão.
No Brasil, segundo o IBGE, as mulheres vivem, em média, quase sete anos a mais do que os homens. Não é pouca coisa. É como se cada brasileira ganhasse um pequeno bônus de tempo — 2.500 dias a mais de vida — para fazer o que quiser: cuidar, trabalhar, amar, reclamar, recomeçar.
A diferença é global, mas aqui ela tem sabor de paradoxo tropical: o mesmo país que as obriga a enfrentar maratonas diárias entre trabalho, filhos e violência doméstica é o que também as vê envelhecer mais.
A explicação mistura ciência, cultura e ironia. Os cientistas falam dos cromossomos X, do estrogênio e do sistema imunológico mais robusto. E talvez tenham razão. Mas quem vive entre brasileiros sabe que, além da genética, existe uma pedagogia da sobrevivência.
As mulheres aprendem desde cedo a cuidar de tudo e de todos — e, nesse processo, acabam cuidando também de si.
Já nós homens, coitados, tratamos o médico como se fosse o fiscal da Receita Federal: só aparecemos em caso de extrema necessidade.
Essa resistência feminina não é privilégio nem feitiço: é adaptação. São elas que lembram do protetor solar, do check-up, da máscara na pandemia, do cinto de segurança, do exame preventivo. A prudência, aqui, é quase uma herança materna. Enquanto isso, boa parte dos homens insiste em acreditar que uma tosse persistente é “coisa da friagem”, que o colesterol se cura com chimarrão e que a morte é sempre algo que acontece com os outros.
As estatísticas confirmam o enredo: morrem mais homens de causas evitáveis, de acidentes, de violência, de abuso de álcool. São vítimas de uma masculinidade que ainda confunde coragem com imprudência e bravura com descuido. A vida, para muitos deles, parece um campeonato de bravatas — e a velhice, um troféu que poucos disputam.
Mas viver mais não significa necessariamente viver melhor. As mulheres, embora mais longevas, convivem mais tempo com doenças crônicas e fragilidades físicas. O corpo sobrevive, mas o sistema social frequentemente adoece junto.
A velhice feminina, no Brasil, costuma ser acompanhada de solidão, aposentadorias minguadas e a eterna tarefa de cuidar — de filhos, netos, vizinhos, e vejam só, até do cachorro do filho do vizinho.
A diferença entre os sexos, portanto, não se mede apenas em anos, mas em como se vive esses anos. A mulher se cerca de laços, amizades, conversas, rituais simples que a mantêm dentro da vida. O homem, muitas vezes, se isola — e o isolamento é uma forma elegante de morrer mais cedo. Talvez a ciência devesse incluir o churrasco com os amigos e o grupo do zap entre os fatores de risco.
No fundo, essa vantagem feminina é uma espécie de vingança silenciosa da natureza: durante séculos, a humanidade confiou às mulheres a tarefa de parir, alimentar e amparar. Agora, é como se a vida, generosa e espirituosa, dissesse: “por tanto serviço prestado, fiquem mais um pouco”.
Não é uma disputa de quem chega mais longe, mas de quem aproveita melhor o percurso.
A diferença entre homens e mulheres diante da vida não é apenas biológica — é um modo distinto de escutar o tempo. Eles tratam o corpo como máquina; elas, como abrigo. Mas o corpo não aceita ordens, apenas sinais. Quem o ouve, dura; quem o desafia, some antes da fotografia. A verdadeira revolução da longevidade não virá da ciência, mas da coragem de substituir descuido por atenção e orgulho por lucidez. Viver mais, penso, é o ato mais silenciosamente subversivo que ainda nos resta praticar.
O país de Vale Tudo é mais crível que o país que temos, por Washington Araújo
Sob o disfarce da ficção, Vale Tudo exibe o país real: um lugar onde a mentira é arte, o egoísmo é lei e a maldade, aplauso garantido.
17 de outubro de 2025


Há ficções que apenas distraem — “Vale Tudo”, não. Desde sua estreia, a nova versão da novela da Rede Globo tornou-se uma espécie de radiografia do Brasil contemporâneo, uma lente cruel que aproxima nossas contradições e exibe, sem pudor, a erosão dos valores mais simples.
O penúltimo episódio, exibido nesta quinta-feira, 16 de outubro de 2025, deixou uma sensação incômoda no ar: a de que, quando o mal vence na ficção, ele apenas confirma o que já triunfou fora dela.
Durante meses, a trama conduziu milhões de brasileiros por um labirinto moral em que as paredes são feitas de mentira e o teto, de ambição.
Ali, trair é inteligência emocional; corromper, uma forma de ascensão; falsificar, um talento disfarçado de esperteza.
A ética surge apenas como uma lembrança incômoda, como algo fora de moda. O país se viu inteiro nesse roteiro — e o mais perturbador foi a naturalidade com que aceitou reconhecer-se.
Como pai, há uma exaustão quase física diante da tarefa de seguir educando filhos e netos num tempo em que o mal virou entretenimento.
Fala-se em valores, mas a sociedade vibra com a vitória do vilão, com o riso sarcástico do corrupto que escapa, com a frieza de quem pisa sem culpa.
A ficção, que deveria inspirar, está ensinando a sobreviver sem alma, como pigmeu moral.
Os roteiristas foram cirúrgicos ao capturar o veneno social que circula pelas veias do país.
A empresária que encomenda crimes, a filha que renega o avô, e a própria mãe; o marido que arma flagrantes; a executiva que falsifica exames médicos — todos praticam o mesmo credo: o de que tudo tem preço e nada tem valor.
Em “Vale Tudo”, novela que já vai tarde, o mal é eficiente, sedutor e, o mais grave, recompensado.
Como professor há décadas nas universidades, foi mais fácil reconhecer rostos e comportamentos familiares: jovens inteligentes, cheios de potencial, mas com bússolas éticas desnorteadas, danificadas.
O pragmatismo tomou o lugar da reflexão, e a pressa substituiu o propósito. Há brilho no olhar, mas nenhum horizonte. O que antes era busca por sentido virou desejo de visibilidade — e o resultado disso é uma juventude treinada para vencer a qualquer custo, mas não para ser.
Em “Vale Tudo”, o mesmo se repete: todos correm, competem, se fingem de bons, vendem uma imagem, traem um ideal. A protagonista — símbolo do eterno complexo de vira-lata nacional, embora estando no topo da pirâmide na companhia de 0,01% da população brasileira — representa a caricatura de um país que busca status, mesmo à custa da própria dignidade.
A morte de Odete Roitman, ao invés de comoção, gerou júbilo e escárnio entre os personagens e, em certa medida, entre os próprios espectadores. Ali estava a prova de que o egoísmo venceu: nem a morte escapa da zombaria. Ninguém sabe se a bala encontrou o seu destino nela.
A novela expõe a pedagogia da perversão: o aprendizado de que o mal é mais interessante que o bem, e o crime, mais envolvente que a virtude.
E nós, espectadores, seguimos aprendendo — atentos, fascinados, cúmplices. Em mais de 96% dos capítulos, a trama oferece um curso intensivo sobre como sepultar a honestidade, neutralizar a empatia, silenciar a consciência.
O pouco que resta de redenção chega tarde, como uma nota dissonante num concerto de cinismo.
Como psicanalista, há um diagnóstico quase inevitável: vivemos uma epidemia de hedonismo e superficialidade.
A sociedade transformou-se em um palco de personalidades ansiosas, competitivas, desumanizadas. Todos parecem ser nossos de “dessemelhantes”.
Cresce o número de pessoas neuróticas, aprisionadas no medo de fracassar e na ânsia de aparentar sucesso.
“Vale Tudo” apenas dramatiza o que já é cotidiano: a transformação da dor em espetáculo e da falsidade em virtude.
As redes sociais ampliam esse deserto moral. Ali, a encenação se multiplica. Há falsos amores, falsos ativismos, falsos exemplos.
O que importa é parecer — não ser.
O culto ao ego substituiu a solidariedade; a vaidade tomou o lugar da empatia. No universo digital, cada um se torna roteirista da própria farsa.
Pior: A mesma lógica que move “Vale Tudo” move o Instagram, o TikTok, o X: todos encenam uma vida que não têm, por medo de enfrentar a que possuem.
Como jornalista, me chama atenção o espaço que a mídia — grande, média e pequena, analógica ou digital — dedicou durante meses a exaltar os “golpes geniais” da novela. Revistas, portais e programas de entretenimento celebraram o talento dos vilões, o charme dos trapaceiros, o glamour da maldade.
Enquanto isso, temas cruciais do país — desigualdade, fome, violência, educação — desapareceram das manchetes. Os crimes da ficção ocuparam o lugar dos crimes reais. Posso afirmar que nos dias que correm o que realmente é notícia é exatamente o que NÃO é noticiado.
A direção da novela é impecável, o elenco, talentoso; mas o impacto ético é devastador.
“Vale Tudo” mostra que a corrupção é democrática: o pobre e o rico, o político e o vendedor ambulante, todos aprendem a trapacear dentro de suas possibilidades. O lema é simples: quem não trapaceia, não sobrevive.
E essa lógica, repetida diariamente, vai se infiltrando nas salas de aula, nas empresas, nas famílias.
Há cenas inesquecíveis em que as personagens humilham umas às outras com um charme quase elegante, transformando a crueldade em estilo de vida. A novela romantizou o abuso emocional, estetizou a hipocrisia, tornou a traição um gesto de empoderamento.
E nós, espectadores, fomos sendo anestesiados, capítulo a capítulo.
Em meio a tanta sedução visual, o país real se esvaiu.
Os jovens aprenderam que os fins justificam os memes, e que a honestidade é um fardo pesado demais para se carregar.
Nessa roleta russa da insanidade as crianças crescem acreditando que a maldade é divertida e a bondade, tola. Isso porque as famílias, exaustas e distraídas, deixam a televisão ou o celular educarem em seu lugar.
Quando se observa essa engrenagem como pai, professor, psicanalista e jornalista, a conclusão é amarga: “Vale Tudo” não é apenas uma novela — é uma radiografia de um país em colapso moral. Cada capítulo foi um desnudamento daquilo que fingimos não ser, mas somos.
E sabem o que é mais doloroso? Perceber que a audiência vibra com isso.
O último capítulo está prestes a ir ao ar, e talvez os vilões sejam punidos, as vítimas redimidas, o amor triunfe no final.
Mas nada disso compensará o estrago. O mal já venceu — não apenas na ficção, mas no modo como o público aprendeu a desejar o que ela ensina.
O que se assiste, noite após noite, é a celebração da maldade como entretenimento. O país que sorri diante disso já perdeu parte da alma.
E talvez o alerta mais urgente seja este: nossas crianças estão observando — atentas, silenciosas, curiosas — aprendendo, sem saber, que no Brasil de hoje ainda vale tudo.
Hediondo é o crime de roubar a nação com emendas e chamar isso de política
Ao invés de atacar causas da criminalidade, preferem encenar medidas performáticas, enquanto o palco encharcado desaba sobre quem não pode pagar defesa adequada
06 de outubro de 2025


Brasília mantém uma oficina de pintores de emergência. A cada crime que irrompe nas telas, corre-se ao almoxarifado legislativo, tiram-se baldes de tinta e repinta-se a fachada da casa: “hediondo”. É como se, diante de uma tempestade, repintássemos paredes mofadas, enquanto o telhado segue furado e as goteiras alagam os cômodos. O barulho da tinta secando dá ilusão de ordem, mas a água continua a cair.
Em vez de recitar rosários infindos, fiquemos no essencial. Destacamos, por exemplo, quatro tipos que costumam puxar a fila: homicídio qualificado (inclui feminicídio e o praticado contra menor de 14 anos), latrocínio, extorsão mediante sequestro (nas formas qualificadas) e estupro — todos expressamente arrolados no art. 1º da Lei 8.072. A lista legal não se resume a eles, mas evita-se o tédio de catecismos intermináveis.
Quantos, afinal, já são “hediondos” hoje? O rol taxativo do art. 1º, com seus incisos (I, I-A, II a VIII e VII-B), soma dez hipóteses; o parágrafo único acrescenta mais duas: genocídio e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Resultado: 12 hipóteses no total. A inclusão do armamento decorre da alteração legal mais recente no ponto — primeiro por lei de 2017 e, depois, pela redação dada pelo Pacote Anticrime, que restringiu a hediondez à arma de uso proibido.
Como filho de advogado e pai de dois advogados, convivi desde cedo com reflexões sobre justiça. Na juventude, cursei quatro anos de Direito no Rio de Janeiro, no início dos anos 1980. Lembro-me bem de como esse tema da aplicação das leis me mobilizava: como combater a criminalidade sem, no afã de puni-la, cometer novos crimes contra o próprio tecido social? Essa inquietação ainda me acompanha como testemunho íntimo e sincero de alguém que viu de dentro as engrenagens da formação jurídica e de fora as contradições da vida política.
“E as penas?” O leitor comum não precisa virar penalista: basta saber que o teto das reprimendas dos crimes do “andar de cima” toca sistematicamente os 30 anos. Latrocínio tem faixa de 20 a 30 anos; a extorsão mediante sequestro qualificada vai a 24 a 30; homicídio qualificado finca-se entre 12 e 30; estupro com morte, 12 a 30. O detalhe técnico mora nos artigos, mas a música é a mesma: gravidade máxima no papel, com limite legal de execução hoje unificado em 40 anos quando se somam penas.
Na execução, porém, começa o país real.
A progressão de regime depende do tempo cumprido e do mérito prisional. Por muito tempo, falou-se no “1/6” para crimes comuns; o Pacote Anticrime redesenhou as frações, endurecendo a régua: para hediondos sem morte, 40%; reincidente específico, 60%; e, nos casos com resultado morte, a jurisprudência fixou teses próprias, afinando a leitura dos percentuais e do livramento condicional.
A “mania de hediondizar” não freia a fábrica de projetos. Em 2025, só na Câmara, tramitam ao menos seis proposições que incluem novas hipóteses no rol (subtração de criança para colocação em lar substituto; maus-tratos a animais em cenário específico; fraude em alimentos e bebidas com risco agravado; violência contra pessoas com deficiência; pacote ampliando vários tipos; e outras redações com o mesmo fim).
No Senado, ao menos três iniciativas recentes caminham, neste momento, na mesma direção (crimes em escolas; “domínio de cidades”; lavagem de dinheiro no rol). É um piso — não um teto — do que está vivo na pauta.
E diante da grande repercussão das mortes por metanol em bebidas alcoólicas e destiladas ocorridas nesta semana em São Paulo e em Pernambuco, é fácil prever o próximo passo: logo teremos parlamentares propondo que a falsificação dessas bebidas seja alçada à categoria de crime hediondo.
A comoção empurra, os microfones captam, e o mesmo ritual legislativo se repete: mais uma camada de tinta sobre paredes já encharcadas, enquanto as goteiras seguem abertas no telhado da prevenção e da fiscalização.
E surge a pergunta que parece proibida: por que os senhores parlamentares não tornam hediondos os crimes de corrupção contra o dinheiro público?
Especialmente a malversação das emendas parlamentares, que sequestram um montante extraordinário de recursos da União e poderiam estar fortalecendo políticas sociais em saúde, educação e segurança. Se o critério é impacto social, poucos crimes devastam tanto quanto esse. Mas aqui não se toca: melhor endurecer contra o ladrão de galinha que contra o ladrão de cofres.
Funciona? A experiência ensina que “mostrar serviço” com etiquetas não substitui o trabalho silencioso que dá resultado: investigação que descobre autores, prova que sustenta denúncia, julgamento em tempo razoável, execução com fiscalização.
Enquanto isso, o sistema de execução penal distribui justiça de forma assimétrica: quem tem recursos contrata bancas especializadas para acumular remição por estudo e trabalho, calibrar pedidos, desatar nós burocráticos; quem depende exclusivamente da defensoria enfrenta filas, laudos tardios e falta de vaga no semiaberto.
Ainda guardo esperança de que propostas estruturais tenham andamento real. A recente Proposta de Emenda Constitucional da Segurança Pública, apresentada pelo ministro Ricardo Lewandowski, poderia, se tramitada com agilidade, inaugurar uma resposta menos performática e mais consequente. Seria a chance de, com essa PEC 18/2025, trocar não apenas a cor da parede, mas finalmente reparar o telhado que insiste em deixar a chuva cair sobre todos nós.
Juristas de referência têm insistido no ponto: endurecer o rótulo pouco altera a curva do crime se não houver certeza da resposta penal. A doutrina crítica sintetiza: o Brasil adotou um sistema legal fechado de hediondez — não cabe criatividade judicial —, mas isso nunca dispensou o Estado de prover polícia técnica, perícia, defensorias, Ministério Público e juízos com meios para fazer a roda girar.
Sem isso, a hediondização vira cortina de fumaça: mais tinta na fachada, o mesmo telhado vazando. Eis o paradoxo que atravessa justiça, leis, ordem pública e proteção da sociedade: a política criminal performática rende manchete; a política criminal eficaz rende resultado.
O país precisa menos de pintores apressados e mais de telhados novos que não deixem, ano após ano, a água encharcar a vida de todos nós.
Viver é, sobretudo, aprender a dizer adeus
A vida nos exige muitas despedidas — mas nenhuma tão cruel quanto assistir à morte do que nos fazia inteiros, enquanto ainda respiramos.
04 de outubro de 2025


A vida, quando olhada com calma, é um calendário recheado de despedidas. Uma sequência de adeuses que se entrelaçam como contas invisíveis, formando a corrente secreta de nossa existência.
Somos feitos tanto de chegadas quanto de partidas, mas é nas despedidas que mais nos reconhecemos, porque nelas se revela a fragilidade e a grandeza de ser humano.
O primeiro adeus nos é imposto antes mesmo de termos memória. É a dolorosa ruptura com o ventre materno. Ali, no escuro amniótico, tínhamos tudo: alimento, calor, batida constante de um coração a embalar-nos. E, de repente, somos arrancados dessa perfeição e lançados ao clarão, ao frio, ao choro. A primeira lição da vida é dizer adeus ao lugar mais seguro que jamais conheceremos.
Crescemos e aprendemos a sorrir, a brincar, a confiar. Os primeiros amigos de infância são cúmplices da inocência: dividimos balas, bolinhas de gude, sonhos improvisados nas calçadas. Mas o tempo se move depressa, e basta uma mudança de bairro, de cidade ou de país para perdê-los. Um dia damos conta de que aqueles risos já não ecoam na mesma esquina. Essa despedida precoce nos ensina que a amizade, por mais doce, não está imune ao destino.
E então chega o amor, em sua versão inaugural. O primeiro amor é uma revolução de sentidos: o frio na barriga, a ansiedade do encontro, o beijo que parece conter todo o universo. Mas cedo ou tarde a vida impõe outro adeus: esse amor, que julgávamos eterno, se desfaz em silêncio, deixando apenas a lembrança de como era amar pela primeira vez. É uma despedida cruel porque encerra não apenas uma relação, mas a própria inocência de acreditar que bastava amar para ser feliz.
Com o tempo, atravessamos os portões da juventude e seguimos para os bancos universitários. Ali, passamos anos sentados entre provas, livros e sonhos. Aquele espaço se torna extensão de nós mesmos. Mas um dia, na formatura, vestimos beca e chapéu para um último adeus. É a despedida da escola que nos acompanhou desde a infância. Encerramos um ciclo de aprendizagem formal, deixando para trás corredores que já não nos pertencem.
Logo a vida nos apresenta outra estação: escolhemos alguém para compartilhar o destino. Casamos. Construímos uma nova família. Mas se casar é também despedir-se: da vida de solteiro, da liberdade individual, da casa dos pais que nos acolheu por tanto tempo. Nesse momento, atravessamos o limiar que separa a juventude da maturidade, levando conosco um adeus silencioso às paredes onde crescemos.
Chegam os filhos, e com eles outro corte profundo. Já não nos pertencemos inteiramente. O que antes eram preocupações pessoais agora se dissolve no cuidado constante com esse ser frágil que exige tudo de nós. Dormimos pouco, mas sonhamos muito. Cada choro noturno é um lembrete de que nos despedimos definitivamente de uma vida voltada apenas para nós, para abrir espaço ao amor mais radical que existe: aquele que nos entrega a outro ser sem esperar retorno.
E há despedidas que doem sem aviso.
O dia em que perdemos o pai é uma quebra de chão. É como se a coluna que sustentava parte do nosso mundo desabasse. Fica o silêncio da cadeira vazia, o conselho que já não ouviremos, a mão firme que não nos guiará mais. É um adeus que nos arranca a infância remanescente, mesmo quando já estamos adultos.
Mais tarde, quando chega a vez da mãe, a despedida é ainda mais dolorosa. É como se a vida nos tirasse o último porto seguro. Sem o olhar dela, o mundo parece mais frio, mais deserto. É um adeus que fere fundo porque, ao perdermos a mãe, perdemos também a última testemunha da nossa origem. É a despedida definitiva do abrigo emocional, a mais dolorosa de todas até que a morte nos reclame.
O tempo, com sua cadência implacável, nos obriga a outras renúncias: despedimo-nos da juventude quando o corpo já não acompanha o espírito; despedimo-nos da saúde quando as forças se retraem; despedimo-nos dos amigos que partem, um a um, levando consigo partes de nossa história. Até mesmo do espelho nos despedimos, quando ele nos devolve um rosto que já não reconhecemos como nosso.
E assim seguimos, de despedida em despedida, até o último instante — aquele em que fechamos os olhos para sempre. Mas talvez a morte não seja o fim, apenas a última metamorfose. Talvez seja o maior de todos os adeuses, que se abre, paradoxalmente, para um reencontro.
Miguel Torga, com a lucidez de quem sabia olhar fundo, escreveu: “toda a vida humana é uma breve ou demorada despedida, que começa logo à nascença e acaba aparentemente no dia da morte.” Ele tinha razão. Viver é atravessar sucessivas perdas, e é nesse movimento de desapego que reside a nossa grandeza.
E recordo isso porque, ao revisitar a vida e a obra do grande poeta lusitano Miguel Torga — esse homem de raízes e horizontes, que em 1993 recebeu o Prémio Montaigne e transformou suas próprias despedidas em matéria literária — compreendi melhor que viver não é apenas chegar, conquistar, permanecer.
Viver é, sobretudo, aprender a dizer adeus.
https://www.brasil247.com/blog/viver-e-sobretudo-aprender-a-dizer-adeus
Como se mata a humanidade em nós
Entre palavras, metáforas e silêncios, David Livingstone Smith revela a engrenagem invisível que separa “nós” de “eles” — e decide quem merece viver ou morrer
30 de setembro de 2025


David Livingstone Smith talvez não seja um nome popular nas conversas de café ou nas manchetes diárias, mas sua obra ecoa com força crescente em um mundo ainda incapaz de se libertar de suas velhas cicatrizes de intolerância, violência e exclusão. Filósofo britânico radicado nos Estados Unidos, professor da Universidade de New England, Smith se especializou em investigar um tema perturbador: a desumanização. Não como metáfora literária, mas como mecanismo social e psicológico que molda guerras, genocídios e preconceitos cotidianos.
Ele escreve no início do século XXI, período em que a humanidade parece oscilar entre avanços civilizatórios — globalização, direitos humanos, interconexão digital — e regressões brutais: campos de refugiados lotados, xenofobia alimentada por algoritmos, populismos que reciclam fantasmas do passado. É nesse terreno contraditório que Smith propõe revisitar a velha questão: o que significa tratar alguém como “menos humano”?
Para ele, a desumanização não é apenas insulto ou ofensa: é uma operação mental, uma engrenagem que converte vizinhos, colegas, povos inteiros em criaturas fora do círculo da moralidade. No livro On Inhumanity (2020), ele demonstra como, ao longo da história, a linguagem de vermes, ratos, baratas e feras sempre foi utilizada para preparar massacres e legitimar atrocidades. O nazismo não surgiu do nada: ele foi precedido de décadas de retórica que retirava do “outro” sua humanidade, transformando-o em praga a ser eliminada.
Mas Smith vai além da lição histórica. Ele insiste que a desumanização não é um episódio restrito a regimes totalitários; é um recurso psicológico latente, pronto para ser ativado em qualquer sociedade. Em sua visão, somos animais simbólicos capazes de inventar mundos de sentido — e igualmente capazes de reduzir nossos semelhantes a coisas, sombras, inimigos imaginários. É como se tivéssemos herdado uma caixa de ferramentas ambígua: nela estão a compaixão e a empatia, mas também a habilidade de negar a humanidade do outro com a mesma naturalidade com que respiramos.
O leitor leigo pode se perguntar: como essa teoria toca o meu cotidiano? A resposta é direta e desconfortável. Cada vez que aceitamos piadas que ridicularizam minorias, cada vez que fechamos os olhos diante do sofrimento de migrantes à deriva, cada vez que reduzimos adversários políticos a caricaturas grotescas, estamos flertando com a lógica da desumanização. Não significa que cometeremos genocídios, mas que participamos de um ambiente cultural que naturaliza a exclusão e prepara o terreno para atrocidades em escala maior.
O mérito de Smith é justamente retirar a desumanização do terreno abstrato e colocá-la no campo da vida comum. Ele não escreve como quem lança maldições, mas como quem acende refletores sobre cantos escuros da alma coletiva. Ao demonstrar que a desumanização é uma “tecnologia social” recorrente, alerta-nos para o perigo de tratarmos como normal o que é, na verdade, o prelúdio da barbárie.
A originalidade de sua proposta está em não separar filosofia e psicologia, política e biologia. Ele busca compreender como mecanismos mentais evolutivos — nossa tendência a dividir o mundo em “nós” e “eles” — se combinam com ideologias, discursos políticos e interesses econômicos. A desumanização, nesse sentido, não é aberração, mas possibilidade sempre presente no repertório humano.
Há, contudo, uma fresta de esperança. Se a desumanização se vale de nossa capacidade de simbolizar, é também por essa mesma via que podemos combatê-la. O antídoto não está em abstrações grandiosas, mas em pequenos gestos que criam sentido diferente: a recusa consciente da linguagem que degrada, o cultivo da memória contra o esquecimento seletivo, o esforço de enxergar humanidade até onde o olhar coletivo insiste em negar. Não se trata de ingenuidade, mas de estratégia ética e política para manter abertas as portas da civilização.
Sua filosofia nos devolve a pergunta essencial: queremos ser os autores de narrativas que expulsam ou de narrativas que acolhem? A resposta não é teórica; é prática, diária, íntima. Na forma como tratamos estranhos, como reagimos a discursos de ódio, como moldamos nossa memória coletiva.
David Livingstone Smith nos lembra que a linha entre civilização e barbárie não está apenas nas páginas da história, mas corre dentro de cada um de nós. Reconhecer isso não nos condena; ao contrário, nos dá a chance rara de escolher, a cada gesto, de que lado queremos estar.
Entre sonhos, estigmas e flores do Irã
Viajar é cruzar fronteiras, desafiar preconceitos, cultivar amizades improváveis e descobrir a diversidade humana como verdadeira pátria. Essa é a história de Maryam Ghadiri.
30 de setembro de 2025


Era 7 de abril de 2012 quando Maryam Ghadiri atravessou o oceano carregando apenas duas malas. Uma, leve e luminosa, abarrotada de sonhos, esperanças e paixão por um futuro melhor. A outra, densa de lembranças: fotos, livros, souvenirs, tudo o que pudesse impedir que a nova vida nos Estados Unidos apagasse a memória da terra natal, o Irã.
Na bagagem invisível, porém, havia algo mais: o medo do desconhecido. Medo das reações alheias, medo do silêncio pesado que se segue ao se apresentar como iraniana, medo de carregar na pele e na voz os estigmas fabricados por noticiários repetidos até a exaustão. Maryam não viajou apenas para estudar. Ela viajou para confrontar a imagem distorcida que o mundo ocidental cultiva sobre sua cultura e seu povo.
Logo percebeu três formas de acolhimento. O primeiro era a indiferença cortês: um “ah, legal” encerrava a conversa. O segundo era a pausa carregada de estereótipos: “Irã? Ah, guerra, deserto, camelos.” O terceiro, mais generoso, buscava associações estéticas ou gastronômicas: o tapete persa do avô, o gato da tia, o açafrão na comida. Maryam descobriu, então, que ser chamada de persa era mais confortável do que ser chamada de iraniana — um detalhe linguístico capaz de atenuar o desconforto de ser estrangeira.
Ao ver sua amiga francesa despertar sorrisos e lembranças de vinhos e queijos, Maryam sentiu o peso do contraste. A nacionalidade da amiga era um convite à conversa; a sua, um convite ao silêncio. E nesse silêncio, ela mesma se escondia, aceitando ser confundida com francesa para compartilhar o brilho nos olhos dos outros. Mas logo veio a culpa: esconder a própria identidade significava negar a família, os amigos, a língua, o ar respirado por 26 anos.
A consciência desse autoapagamento foi o estopim para um segundo capítulo: Maryam decidiu assumir-se inteira. Criou a exposição Irã além da Política, reunindo fotografias que revelavam o país invisível às lentes da mídia: padarias de bairro, danças tradicionais, monumentos históricos, montanhas floridas. Mais de 600 pessoas percorreram esse Irã de cores, cheiros e rostos. Ali, o visitante podia ver além das manchetes, perceber que existe vida cotidiana onde a televisão só mostra conflito.
Espelho invertido
E é aqui que me permito abrir um parêntese pessoal. Entendo profundamente o estranhamento de Maryam. Ao longo de quarenta e poucos anos atravessei 57 países, dois terços deles mais de três vezes. Cada travessia foi um espelho invertido da minha própria cultura, revelando línguas que soavam como enigmas — o grego, o árabe, o hebraico e, sobretudo, o húngaro, essa língua que, como se graceja, “até o diabo respeita, porque não consegue entender nada”. Em cada pouso, fosse num café da manhã apressado ou num almoço prolongado, percebia-se que nada vinha à mesa sem estar temperado com histórias: algumas centenárias, outras milenares.
Foi assim que compreendi que a maior riqueza da humanidade está em sua diversidade indomável — sons, crenças, cheiros, sabores, literaturas e culturas que se cruzam como fios de um tecido inesgotável. Uma riqueza que resiste às fronteiras e desmente o reducionismo das manchetes.
A experiência de Maryam e a minha convergem nesse ponto: a cultura não é ornamento, mas eixo da identidade. E o idioma é mais que comunicação: é morada simbólica, fronteira entre ser reconhecido e ser negado. A cada fotografia exposta, Maryam reafirmava que somos múltiplos e que a “história única”, como advertiu Chimamanda Adichie, não passa de caricatura perigosa.
No fundo, sua jornada fala de todos nós. O medo do desconhecido é universal: atravessa fronteiras, colapsa diálogos e reduz culturas inteiras a um rótulo. Mas também é universal o desejo de ser visto e reconhecido em plenitude. Maryam ousou mostrar que identidade não deve ser refém da mídia, nem da desinformação, nem da covardia de se esconder.
Hoje, se perguntam quem ela é, Maryam responde sem hesitar: “Sou do Irã.” A mala de sonhos segue aberta. Mas a de lembranças, antes apenas peso de saudade, tornou-se agora fonte de orgulho e resistência.
Inventário das sombras no plenário da Câmara reflete fuga da compostura - Por Washington Araújo
Deputados abandonam a civilidade, promovendo motins, brigas, misoginia, palavras de baixíssimo calão, elogio a torturadores e discursos de ódio envergonham a nação.
29 de setembro de 2025


Compostura não é mero ornamento social, mas a essência da busca pela excelência humana em meio ao caos das interações cotidianas. Ela se manifesta no respeito inabalável às opiniões contrárias, na valorização da diversidade de raças, etnias, gênero, culturas, idiomas, classes sociais e religiões, transformando diferenças em pontes ao invés de abismos. Compostura é a arte refinada de conduzir-se com urbanidade, elevando a civilidade a um patamar onde o diálogo prevalece sobre o confronto, e o indivíduo se torna guardião da harmonia coletiva.
É espantosa a capacidade de nossos deputados federais em desperdiçar oportunidades de dignidade, frequentemente optando por exibições que envergonham a nação inteira, enquanto senadores, embora menos propensos, ocasionalmente derrapam de forma grotesca nesse quesito vital.
A ausência de compostura no âmbito privado já danifica as relações sociais, gerando prejuízos irreparáveis à convivência harmônica; no espaço público, porém, torna-se inadmissível, inaceitável, servindo como termômetro preciso da qualidade humana e ética de representantes eleitos em pleitos democráticos regulares. A compostura, assim como a cortesia, “é o príncipe de todas as virtudes”, capaz de sustentar a democracia em tempos de extrema turbulências.
Retrocedendo à história recente e remota do Parlamento brasileiro, uma pesquisa em fontes confiáveis revela uma cronologia alarmante de episódios onde deputados e senadores, especialmente da extrema direita, violaram a liturgia de suas funções elevadas, beirando a indignidade e merecendo o repúdio unânime da sociedade.
Em 1929, no Rio de Janeiro, o deputado Luís Simões Lopes (RS) reagiu a uma bengalada do colega Sousa Filho com tiros de revólver, resultando na morte deste último no plenário, em um ato de violência impulsiva que chocou o país e destacou a fragilidade da civilidade parlamentar inicial.
Em 1960, Tenório Cavalcanti (RJ), conhecido por sua postura truculenta, sacou uma submetralhadora contra Antônio Carlos Magalhães (BA) durante um debate acalorado na Câmara, gritando ameaças de morte antes de ser contido por colegas, configurando uma tentativa de intimidação que beirava o crime de ameaça e expunha a falta de decoro em discussões políticas.
Já em 1963, no Senado, Arnon de Mello (AL) disparou contra Silvestre Péricles (AL) em meio a uma discussão inflamada, acertando fatalmente José Kairala (AC), um homicídio no plenário que ilustrou a ausência total de controle emocional e respeito à vida em ambientes legislativos.
Avançando para 2003, o então deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) confrontou a deputada Maria do Rosário (PT-RS) no Salão Verde da Câmara, esbravejando “Jamais estupraria você porque você é muito feia”, uma declaração misógina que incitava ao ódio e configurava injúria e apologia ao estupro, repetida em 2014 com “Não te estupro porque você não merece”, levando a condenações judiciais posteriores.
Em abril de 2016, durante a votação do impeachment de Dilma Rousseff, Bolsonaro dedicou seu voto ao torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, declarando “Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, o meu voto é sim”, um elogio sombrio a um condenado por tortura que glorificava a ditadura militar e provocou repúdio internacional por apologia a crimes contra a humanidade.
Ainda em 2016, Bolsonaro trocou insultos com Jean Wyllys (PSOL-RJ) durante a mesma sessão, chamando-o de termos homofóbicos como “queimado” e “veado”, levando a uma reação em que Wyllys cuspiu nele, mas destacando a incitação ao ódio e quebra de decoro por parte de Bolsonaro.
Em fevereiro de 2021, o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), da extrema direita, divulgou um vídeo com discursos violentos contra os ministros do STF, chamando-os de “hienas” e afirmando “vocês levariam uma surra de gato morto na rua” e “imaginem se a gente fechar o STF”, pregando apologia ao AI-5 e ao fechamento do tribunal, configurando ameaças à democracia que resultaram em sua prisão em flagrante e processo por quebra de decoro parlamentar.
Em novembro de 2018, Alberto Fraga (PL-DF) e Laerte Bessa (PL-DF), ambos da extrema direita, envolveram-se em uma briga física no plenário sobre a extinção da Casa Militar no DF, trocando empurrões e xingamentos como “seu safado”, configurando agressão e desrespeito ao regimento interno.
Em agosto de 2019, já como presidente, Bolsonaro reiterou elogios a Ustra, chamando-o de “herói nacional” em entrevista, defendendo que ele evitou o comunismo no Brasil, uma declaração que banalizava torturas documentadas e incitava negacionismo histórico.
Em 2023, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) debochou da tortura sofrida pela jornalista Míriam Leitão durante a ditadura, postando “Que pena que não deu certo” em redes sociais, um ato de apologia à violência que gerou acusações de calúnia e difamação.
Na semana do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março de 2023, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) subiu à tribuna com uma peruca loira, autodenominando-se “deputada Nicole” e declarando “Me sinto mulher hoje, mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres”, um discurso transfóbico que ridicularizava parlamentares trans como Erika Hilton e Duda Salabert, configurando discriminação e quebra de decoro.
Em abril de 2023, o senador Sérgio Moro (União-PR) apareceu em vídeo durante uma festa junina em Brasília, insinuando que o ministro do STF Gilmar Mendes vende sentenças ao dizer “Não, isso é fiança. Instituto… para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”, uma declaração caluniosa que imputava corrupção passiva ao ministro, levando à abertura de ação penal por calúnia no STF em junho de 2024, com julgamento marcado para outubro de 2025 nas próximas semanas.
Em novembro de 2023, a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) atacou verbalmente Erika Hilton (PSOL-SP) em sessão, chamando-a de “aberração” e questionando sua identidade de gênero com gritos como “Você não é mulher de verdade”, um episódio de transfobia que levou a queixas por discriminação.
Em junho de 2024, Júlia Zanatta protagonizou outro confronto na Comissão de Direitos Humanos, interrompendo deputadas de esquerda com berros como “Vocês são cúmplices de bandidos” durante debate sobre segurança pública, configurando calúnia e interrupção indevida.
No mesmo mês, em 5 de junho de 2024, Nikolas Ferreira, Éder Mauro (PL-PA) e André Janones envolveram-se em empurrões no plenário, com Nikolas gritando “Vai pra rua se você é homem”, exigindo intervenção policial em uma briga que paralisou a sessão por agressão física.
Em julho de 2024, Júlia Zanatta desferiu insultos contra ambientalistas em comissão, chamando-os de “eco-terroristas” e ameaçando “vamos acabar com essa palhaçada”, um discurso que incitava ódio e desrespeitava o debate democrático.
Em maio de 2025, na Comissão de Infraestrutura do Senado, a ministra Marina Silva sofreu ataques misóginos de senadores da extrema direita, como Plínio Valério (PSDB-AM), que apontou o dedo e gritou “A mulher está nervosa, vá se acalmar”, interrompendo-a repetidamente e levando-a a deixar a sessão, um ato de violência de gênero que expôs machismo institucional.
Em julho de 2025, na mesma comissão, Marina Silva foi comparada a “grupos armados” e “câncer” por deputados ruralistas da extrema direita, com interrupções constantes e ameaças veladas como “Você vai pagar por isso”, configurando misoginia e intimidação.
Em fevereiro de 2025, a “guerra das plaquinhas” envolveu Nikolas Ferreira e Coronel Zucco (PL-RS) contra Lindbergh Farias (PT-RJ), exibindo cartazes com gritos como “Traidores da pátria devem ser punidos”, suspendendo a sessão em balbúrdia e incitando calúnia.
Em setembro de 2025, deputados da extrema direita do PL promoveram um motim ao sequestrar a Mesa Diretora da Câmara, impedindo que o presidente Hugo Motta (PP-PB) assumisse sua cadeira nos dias 16 e 17, exigindo com berros “Pauta a anistia agora ou não sai ninguém” para anistiar golpistas do 8 de janeiro, um ato de obstrução que configurava desobediência ao regimento e ameaça à ordem democrática, levando à votação de urgência no dia 18.
Ainda em setembro de 2025, o escárnio atingiu níveis inéditos com o episódio escandaloso na Câmara para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição conhecida como PEC das Prerrogativas, que na essência funcionava como uma PEC da Bandidagem, blindando parlamentares contra ações penais sem autorização prévia da Casa, sob o pretexto de proteger mandatos mas efetivamente dificultando a responsabilização por crimes; aprovada por ampla maioria na Câmara em meio a protestos e acusações de corporativismo, a proposta foi debelada e enterrada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado em 24 de setembro, após forte reação da opinião pública e relatório contrário do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que destacou como o texto servia para “proteger corruptos” e minava a preceitos básicos da Constituição de 1988.
O Parlamento, qual mecanismo de relógio antigo com engrenagens enferrujadas pela acidez da incivilidade, paralisa o progresso nacional ao transformar debates em paradas abruptas, onde o tique-taque da democracia se perde em rangidos estéreis.
Esses casos, entre calúnias, difamações, agressões, troca de sopapos e brigas, ilustram uma erosão persistente da civilidade parlamentar, dominada por figuras da extrema direita que priorizam o confronto sobre o debate construtivo. É corriqueiro hoje em dia as pessoas falarem, sejam nos gabinetes refrigerados da Avenida Paulista ou na fila do pão em Petrolina ou Taubaté, que “o nível do Parlamento brasileiro alcançado em 2024 é provavelmente o mais baixo, o menos produtivo, que reúne o maior número de personagens sem compostura e sem consciência da elevada função que exercem”.
Acredito que devemos ser menos generalistas, porque a falta de compostura não é carência apenas do Congresso Nacional. Basta ver o elevado número de ameaças e até mortes no trânsito, em que as pessoas perdem a cabeça do nada, apenas por alguém ter entrado à direita sem ligar a seta ou ter buzinado demais, encontrando como reação motoristas com arma em punho.
Seria muita ingenuidade e pouca quilometragem de vida para não entender que a representação popular na seara política é um reflexo direto do nível de civilidade, educação e urbanidade da população brasileira como um todo.
É a constatação do velho axioma de que não podemos ter uma sociedade de ouro com indivíduos de chumbo.
Mais uma vez, a saída só tem uma direção: fortalecer o sistema educacional brasileiro desde as primeiras séries do ensino fundamental, para que a compostura volte a ser o alicerce de uma nação verdadeiramente civilizada.
Fanatismo livre e sátira calada nos EUA, mas a vida deve valer mais
Kirk morto, Kimmel calado: nos EUA, a liberdade de expressão definha, mas nenhuma ideia justifica desvalorizar a vida humana
22 de setembro de 2025


Nova York, 18 de setembro de 2025 – Jimmy Kimmel, mestre da sátira, jogou uma bomba em seu monólogo no Jimmy Kimmel Live! de 15 de setembro. Pela rede ABC, ele ironizou o assassinato de Charlie Kirk: “O queridinho da extrema-direita foi abatido por um fã que viu o ‘herói’ como mercador de ódio”. A piada, mirando Tyler Robinson, o suspeito, gerou risos e revolta.A reação foi imediata. Horas após o programa, a ABC suspendeu o show, citando pressões da FCC – Comissão Federal de Comunicações dos EUA, que regula rádio e TV. Donald Trump, em seu segundo mandato, celebrou no X: “Kimmel aprendeu: não se zomba de patriotas como Kirk”. O caso expõe os limites frágeis da Primeira Emenda, que desde 1791 protege fala, imprensa e reuniões pacíficas.
Em 10 de setembro, Kirk, 32 anos, foi morto em Phoenix, Arizona, num evento da Turning Point USA, sua organização. O atirador, Tyler Robinson, 22, ex-voluntário da entidade, confessou ao FBI – Escritório Federal de Investigações – que agiu por “ódio ao extremismo que destrói famílias”. Autoridades negaram laços com a esquerda, apesar das acusações de JD Vance, vice-presidente.
Trump usou o crime para atacar opositores, prometendo punir quem “celebra a violência”. A suspensão de Kimmel foi o primeiro golpe. Sua piada, que ligava Robinson ao movimento MAGA – “Make America Great Again” –, foi chamada de “insensível” pela FCC. Nos EUA de 2025, a sátira, antes escudo de comediantes, vira alvo de censura estatal.
Charlie Kirk não era qualquer ativista. Nascido em 1993 em Chicago, fundou a Turning Point USA em 2012, aos 18 anos, para combater o “progressismo” nas universidades. Suas ideias, marcadas por fanatismo – intolerância obstinada contra minorias por raça, religião ou orientação sexual –, moldaram a direita jovem. Kirk chamava o casamento gay de “aberração bíblica”.
Sobre aborto, Kirk o comparava a “um genocídio pior que o Holocausto”. Em 2016, relativizou mortes por armas – 12 mil anuais – dizendo: “Abortamos 800 mil bebês; isso é mais grave”. Ele via o Islã como “ideologia de conquista” e a imigração como “invasão para diluir a América branca”, inflamando divisões com teorias conspiratórias.
Kirk espalhava narrativas sobre fraudes eleitorais em 2020, culpando democratas e o “deep state”. Durante protestos do Black Lives Matter, rotulou manifestantes negros de “negros à espreita”, termo racista denunciado pela NAACP – Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor. Aliado de Trump, ele energizava o MAGA, mas sua radicalidade afastou até aliados.
A deserção de Robinson, o atirador, reflete o racha na Turning Point. Ele via Kirk como “hipócrita que lucra com ódio”. O caso Kimmel-Kirk vai além: mostra a Primeira Emenda em xeque. Antes, Lenny Bruce e George Carlin ridicularizavam o poder sem medo. Hoje, a FCC usa “luto nacional” para silenciar, ignorando precedentes como New York Times v. Sullivan (1964).
Outros casos sinalizam erosão. Em 2018, Roseanne Barr foi demitida da ABC por um tuíte racista, punição corporativa que prenunciou autocensura. Em 2025, a ACLU – União Americana pelas Liberdades Civis – processou o governo por banir ativistas de redes sociais, acusados de “propaganda subversiva”. O processo, no Supremo, expõe abusos do Executivo.
No Texas, Free Speech Coalition v. Paxton (2025) validou lei que restringe sites adultos, sob pretexto de proteger crianças. Críticos veem ataque à expressão. Leis “anti-woke” na Flórida e Texas baniram livros como The 1619 Project, tachados de “divisórios”. A Primeira Emenda, criada para blindar dissidência, agora protege narrativas dominantes.
Barack Obama, presidente de 2009 a 2017, reagiu no X em 17 de setembro: “A liberdade de expressão é o coração da democracia, seja para Kirk, Kimmel ou MAGA. Celebrar mortes, porém, é errado: a vida humana supera qualquer ideia”. Sua postagem, com 45 mil interações, alerta: punir a sátira enquanto o fanatismo de Kirk prosperava é autoritarismo.
Nenhum debate, porém, deve justificar celebrar assassinatos. Discordar de Kirk, cujas ideias semeavam divisão, é legítimo, mas sua vida valia mais que suas crenças. Matar ou aplaudir a morte por divergências é barbárie, um retrocesso que nenhuma sociedade tolera. A América de 2025 pune Kimmel, mas tolerou o ódio de Kirk.
Para brasileiros, que conhecem a censura do AI-5, o caso é familiar. A liberdade de expressão não é favor do Estado, mas direito inato. Nos EUA, a Primeira Emenda definha enquanto a ABC cede e Trump avança contra o “discurso de ódio seletivo”. Kimmel, silenciado, é o comediante amordaçado. No Brasil infelizmente tem sido constante a confusão dos extremistas sobre o conceito de liberdade de expressão. Esse conceito nunca abarcará o direito de qualquer pessoa de de cometer outros crimes como de calúnia e o dia difamação.
Todos os dias a vida nos pede coragem - Por Washington Araújo
O Brasil toma as ruas contra privilégios parlamentares escandalosos e impunidade, em defesa da justiça, igualdade e da Constituição
21 de setembro de 2025


Não é de hoje que o povo brasileiro tem transformado as ruas em palco de protestos por justiça e resistência coletiva. Há momentos na história de uma nação em que a paciência, como um copo cheio de injustiças, recebe a gota d’água que faz tudo transbordar. É nesse momento que o sentimento de enxugar gelo se esgota, e a indignação vira um rio que não cabe no leito. Tais episódios revelam a força da sociedade civil, que se mobiliza para corrigir rumos desviados por poderes instituídos.
Desde 1984, quando as marcas da ditadura ainda doíam, até os dias atribulados de 2025, o povo brasileiro marcha, não com ódio cego, mas com a chama da cidadania acesa. Eu, com os pés gastos e o coração na mão, conto essa crônica com um sorriso cúmplice, porque vocês, leitores, já sentiram ao menos uma vez a rua ficar rouca de tanto gritar por justiça. Essa narrativa conecta gerações, mostrando como a luta coletiva persiste apesar das adversidades políticas e econômicas.
Era abril de 1984, e eu, chefe de uma área operacional do Banco do Nordeste, na velha Rua do Rosário, no coração do Rio, vi a cidade despertar em festa. A Avenida Rio Branco, que liga Cinelândia à Presidente Vargas, amanheceu coberta de confetes e papel picado, lançados dos edifícios como se fosse carnaval. Chegar ao trabalho? Tarefa mais do que complicada! Ônibus despejavam milhares rumo à Candelária, no início da Presidente Vargas, para o comício das Diretas Já.
Ali, trezentas mil vozes se esgoelavam: “É agora ou nunca! Ditadura nunca mais! Voto direto já!”. Camisas amarelas – que, naquela época, simbolizavam o retorno de uma nação soberana – tremulavam com orgulho vibrante. “Liberdade sempre! Basta de opressão!”, se ouvia por todo lado, enquanto Tancredo, Lula, Ulysses e Brizola uniam o Brasil contra o colégio eleitoral.
Eu morava em Botafogo, e afirmo: o Rio era mesmo maravilhoso. O povo acolhedor transformava tudo em roda de samba, e até as pedras do calçadão de Copacabana pareciam se mexer naqueles dias de novo despertar. Ser jovem ali era o melhor dos tempos. Explico: era melhor apenas por sermos jovens, mesmo quando a temporada era de uma pavorosa sombra verde-oliva nos espreitando. Aquela juventude enfrentava resquícios autoritários, mas não cansava de ter esperança em um futuro democrático.
Em 1992, o copo transborda outra vez. A mobilização contra Collor levou milhões às ruas, de Brasília a Salvador. Com máscaras de Zé Gotinha e cartazes com fundo preto – “Impeachment Já!” –, estudantes, metalúrgicos e donas de casa exigiam o fim da corrupção que esmagava os pobres. Não era só o confisco da poupança; era a luta por ética. O impeachment veio, e as ruas gritaram: o povo é guardião do poder. Esse episódio marcou a consolidação da democracia participativa, influenciando protestos futuros.
Em 2023, durante a tentativa de golpe de 8 de janeiro, quando golpistas alucinados invadiram e depredaram o Congresso, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal, o Brasil reagiu com força. No dia 9, 50 mil pessoas – negros da Coalizão por Direitos, feministas e LGBTQIA+ – lotaram a Avenida Paulista, clamando: “Democracia sim, ditadura não!”. Em Salvador, baianas marcharam pela resistência; em Porto Alegre, gaúchos exigiram igualdade.
E agora vejo o Brasil que pensa no futuro ir às ruas novamente, em atos contra a impunidade e em repúdio a decisões do Congresso que traem a Constituição de 1988, criando dois Brasis: um que presta contas à justiça e outro, de parlamentares, intocável. Esses movimentos recentes destacam divisões sociais profundas, mas também a necessidade do engajamento indispensável da população brasileira.
Esse rio já parece não caber no leito tende a ser caudaloso, leitores, é o Brasil vivo. E é muito bom rever o engajamento dos artistas antenados voltar às ruas com seus cabelos brancos, olhos cansados e sorrisos na cara. Alguns poucos da nova geração poderão aprender com eles, enquanto outros continuarão no ostracismo cidadão a que se aprisionaram. Alô, alô, sertanejos, ainda há tempo. Só um lembrete. A participação cultural enriquece esses atos, unindo tradição e inovação.
De 1984 a 2025, o povo não quer reis; exige igualdade, liberdade, humanidade. Cuidado: se a justiça for negada, o copo não vai parar de transbordar. Eu, que vi essas marchas, digo com entusiasmo: a democracia é nossa conquista diária, forjada no suor e esperança. Essa trajetória reforça a necessidade de vigilância constante.
Preciso dizer que, em toda a minha vida, nunca participei da política partidária, nunca fui afiliado a qualquer partido político, e sei que nunca o serei. É que me concedo o direito de ser livre pensador, firme na crença de que “a mais amada entre todas as coisas é a justiça”. Isso não quer dizer que ficarei em cima do muro esperando que ele se mova.
Ser coerente em tempos de incoerência dá um trabalho danado de grande. Mas no fundo é isso que vale a pena, porque o que a vida exige da gente é coragem. Vai aqui um salve para Guimarães Rosa!
Trump desmonta a ciência e ameaça décadas de pesquisa contra o câncer
Com cortes de 37% no Instituto Nacional do Câncer (NIH), Trump ameaça 80 anos de liderança biomédica dos EUA, reduzindo a taxa atual de 68% de sobrevivência
17 de setembro de 2025


Rachel Maddow é uma das vozes mais afiadas e consistentes do jornalismo norte-americano contemporâneo. Doutora em política pública, comentarista da MSNBC e autora de livros de investigação rigorosa, ela se consolidou como intérprete lúcida da crise democrática nos Estados Unidos. E foi com a contundência habitual que, em entrevista recente, trouxe à tona um tema que, pela gravidade, parece ultrapassar os limites da racionalidade política: a campanha de Donald Trump para desmantelar o sistema nacional de pesquisa sobre o câncer.
O sistema que salvou milhões de vidas
Na metade da década de 1970, apenas 49% dos pacientes diagnosticados com câncer nos Estados Unidos conseguiam sobreviver cinco anos após o diagnóstico. Hoje, graças a décadas de investimentos contínuos, esse índice alcança 68%. Foram anos de construção institucional, cooperação científica e apoio bipartidário que moldaram um ecossistema capaz de salvar milhões de vidas, gerar milhares de empregos e consolidar os EUA como líder global em pesquisa biomédica.
Esse sistema, que se tornou referência mundial, foi desenhado para resistir a interferências políticas. Os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) e, em particular, o Instituto Nacional do Câncer (NCI), foram concebidos para estar acima das disputas de ocasião, protegendo a ciência de ciclos eleitorais.
Aqui, como observador externo, não posso deixar de ver uma ironia cruel: um país que soube construir instituições de longo prazo para garantir o avanço da ciência agora se permite corroer esse mesmo patrimônio em nome de um cálculo político imediato. É como se a lógica da destruição tivesse se infiltrado no próprio coração do sistema que foi criado para resistir à destruição.
O ataque sem precedentes
E, no entanto, é exatamente esse sistema que agora se encontra sob ataque direto. O orçamento proposto por Donald Trump para 2026 prevê um corte superior a 37% nos recursos destinados ao Instituto Nacional do Câncer. Não se trata de ajuste fiscal. Como aponta Jonathan Mahler em reportagem publicada na New York Times Magazine e analisada por Maddow, a medida faz parte de um ataque direcionado, planejado e deliberado.
Um oficial do próprio NCI reconheceu que a Casa Branca “estudou como os Institutos Nacionais de Saúde funcionam, estudou intensamente e aprendeu bem – para então colocar areia nas engrenagens de formas eficazes e devastadoras”. Um ex-dirigente do NIH, com 18 anos de experiência, foi taxativo: “É um desastre absoluto e sem atenuantes. Vai levar décadas para nos recuperarmos disso, se conseguirmos.”
Essa fala ressoa em mim como metáfora da vulnerabilidade humana: basta um ato de poder mal direcionado para comprometer conquistas civilizatórias inteiras. Não são apenas cientistas que sofrem. São pacientes, famílias, sociedades inteiras. O que se está em jogo é mais que um orçamento — é o pacto ético entre governo e cidadãos, rompido de forma explícita.
Cui bono?
A pergunta que ecoa é inevitável: quem ganha com isso? Maddow insiste na interrogação. Mahler também. Não existe eleitorado pedindo o fim da pesquisa sobre o câncer. Não há base ideológica ou movimento conspiratório que associe a pesquisa científica ao inimigo interno. Diferente das vacinas, que foram demonizadas em meio à pandemia por grupos antivacina e teorias de conspiração, a pesquisa contra o câncer sempre foi vista como consenso – quase um pacto civilizatório.
E, ainda assim, Trump e seus assessores parecem dispostos a arruinar um sistema que levou 50 anos para ser consolidado. Jonathan Mahler resume: “A corrida de 80 anos da América como líder mundial em pesquisa biomédica e os 50 anos como líder global em pesquisa sobre o câncer podem estar chegando ao fim. E sem razão aparente.”
Penso, diante dessa constatação, no silêncio cúmplice que se instala quando políticas insanas se transformam em rotina. A ausência de resistência efetiva normaliza o absurdo. Como em tantos momentos sombrios da história, a indiferença coletiva permite que um ato sem razão aparente se imponha como fato consumado.
O sarcasmo que virou programa de governo
É impossível não recordar a cena da campanha presidencial de 2024, quando Trump, em duelo contra Kamala Harris, ironizou em comício: “Votem em mim. Eu acabarei com a pesquisa sobre câncer. Votem em mim. Eu sou a favor de mais câncer.”
À época, o comentário soava como bravata grotesca, mero sarcasmo de campanha. Hoje, transformou-se em política oficial, inscrita no orçamento federal. O grotesco deixou de ser piada para se converter em projeto de governo.
Destruição sem substituição
Mahler enfatiza: não se trata de reformar o sistema, nem de redesenhá-lo em moldes mais eficientes. Não há qualquer plano alternativo. Não há promessa de que, com a retirada do governo, a iniciativa privada assumirá o protagonismo. Não há um “faremos isso para alcançar aquilo”. Há apenas cortes. Há apenas o desmonte.
A hipótese mais benigna seria enxergar nisso uma tentativa de “desestabilização criativa”, no estilo Vale do Silício: destruir estruturas para abrir caminho ao setor privado. Mas até essa leitura é frágil. O que se constata é a ausência de qualquer proposta consequente. O vazio, aqui, é absoluto.
Ao refletir sobre esse vazio, percebo como o poder político, quando guiado por impulsos destrutivos, pode ser ainda mais perigoso do que a doença em si. O câncer é tragédia biológica; já o desmonte da pesquisa é tragédia moral. Um ataca corpos, o outro ataca consciências e esperanças.
O caráter deliberado da ofensiva
A entrevista conduzida por Maddow revela o que mais espanta cientistas e analistas: a ofensiva não é improvisada. Ela foi preparada com cuidado, planejada passo a passo, estudada para atingir em cheio o que deveria ser o coração imune da política científica norte-americana.
É o que torna a medida ainda mais perturbadora. Não é acidente, não é descuido, não é erro técnico. É projeto político consciente.
A pergunta que não cala
Maddow encerra a entrevista com a inquietação que dá título ao seu programa: “Por que diabos Donald Trump está destruindo a pesquisa de câncer?!”
A pergunta, feita com ironia indignada, revela-se o ponto central: não há justificativa racional. Não há benefício eleitoral. Não há retorno econômico. Não há explicação que resista ao teste da lógica.
O que resta é a perplexidade diante de um governo que, em nome de uma agenda opaca, desmonta uma das conquistas mais extraordinárias da ciência moderna.
Entre a vida e a sombra
O resultado imediato é o risco de retrocesso: pesquisas paralisadas, tratamentos interrompidos, esperança comprometida. O resultado histórico pode ser ainda mais devastador: a perda do papel de liderança dos EUA na ciência biomédica, posição construída ao longo de oito décadas.
E, enquanto isso, milhões de pacientes aguardam. Para eles, o tempo não é recurso renovável. A cada dia, a cada corte, a cada sabotagem institucional, o que se destrói não é apenas um orçamento, mas a própria possibilidade de sobreviver.
E é nesse ponto que minha percepção se torna mais pungente: destruir a pesquisa contra o câncer é, em última instância, um atentado contra o futuro. É reduzir a política ao presente imediato, sacrificando gerações que poderiam se beneficiar dos avanços científicos. O governante que age assim não compromete apenas sua biografia: compromete a própria ideia de humanidade que deveria proteger.
https://www.brasil247.com/blog/trump-desmonta-a-ciencia-e-ameaca-decadas-de-pesquisa-contra-o-cancer
Não é o desastre que nos define, é a luta
De Woodstock à África, a revolta por um mundo humano persiste, enfrentando o caos com coragem e não deixando apagar a chama da indignação sagrada
15 de setembro de 2025


Olhe para este mundo: uma fotomontagem de dores, onde guerras sem sentido, fome e intolerância desenham um caos que nos fere a alma. José Saramago, já partido, dizia que vivemos “num mundo que é um desastre” e se recusava a aceitá-lo.
Essa inquietação nos atravessa, nos provoca, nos chama a mudar o que não suporta mais ser. Você se conforma com esse cenário?
Sonhar com justiça plena é quimera. Mas e um mundo um pouco mais humano? Menos cruel, onde a exclusão não engula multidões, onde a África não seja esquecida, entregue a doenças e conflitos sem lógica? “Abandono de continentes inteiros, como é o caso da África, destroçada”, lamentava Eduardo Galeano, revisando a angústia de um planeta em crise.
Essa revolta não é só minha. É de uma geração que viu os EUA deixarem o Vietnã, após rios de sangue. Que vibrou com Yuri Gagarin e depois com Neil Armstrong na Lua, um feito que uniu o mundo por instantes. Que se emocionou com o jovem da sacola desafiando um tanque na Praça da Paz Celestial. Momentos que marcaram nossas memórias coletivas.
Os Beatles, de Liverpool, incendiaram o planeta com canções que ainda são entoadas em grupos. Aquela turma de Woodstock, dançando naquele aguaceiro sob o lema de paz e amor, gritava contra toda guerra. “Um mundo de angústia total”, como dizia Milan Kundera, não era o que sonhavam. Eles queriam liberdade, igualdade, um futuro em que o ódio não vencesse.
Mas o presente nos trai.
O mundo se arma, vira as costas ao diferente, ignora dois terços de sua gente na miséria e rejeita sua maior riqueza: a diversidade. Essa geração, que ergueu bandeiras de esperança, não aceita um planeta xenófobo, militarizado, cego à dor alheia.
É hora de transformar inconformismo em ação. A mudança exige passos firmes: paz como prática diária, respeito ao planeta que nos acolhe, força para as mulheres em todos os espaços, fim dos abismos entre extrema riqueza e extrema miséria.
Para conflitos globais, diálogo, não bombas. Consulta sobre as motivações, as causas e as consequências das decisões que estamos para tomar. A desumanidade não pode ser o que nos define. Precisamos de pontes, não de muros.
Enquanto a indignação pulsar contra o que rebaixa a humanidade, há esperança. “É aquilo que pretendo passar aos meus leitores”, dizia Kundera sobre suas inquietações. Essa chama nos dá motivo para viver, para lutar por um mundo que não humilhe, que não descarte, que celebre o que nos une.
Rabindranath Tagore, em Gitanjali, cantava a conexão universal: “O mesmo rio da vida que corre em minhas veias noite e dia corre pelo mundo e dança em pulsações rítmicas”. Um lembrete de que todos compartilhamos o mesmo sopro vital, uma corrente que não deve ser quebrada.
Pablo Neruda, em Os Versos do Capitão, sonhava com transformação: “Quero fazer contigo o que a primavera faz com as cerejeiras”. Um chamado para cultivar paz, para fazer florescer o que o ódio tenta secar, para regar a humanidade com esperança.
Maya Angelou, em Human Family, abraçava a pluralidade: “Notei as diferenças óbvias na família humana. Alguns de nós são sérios, alguns prosperam no riso”. Ela via na diversidade a força que o mundo insiste em negar, mas que precisamos defender com unhas e dentes.
Galeano escrevia com dor: “guerras completamente absurdas” destroem o que poderia ser. Essa herança de luta, de Woodstock ao jovem de Tiananmen, nos convoca.
A África clama, as periferias resistem, o céu está coalhado de drones. Mas a recusa em aceitar o caos nos define, nos empurra a construir um futuro diferente, se apenas o quisermos.
Essa faísca se alastra, lenta, mas firme. De Kundera aos ativistas nas ruas, o coro ganha força. Um mundo menos cruel não é miragem; é meta possível, se agirmos. E agir, no fundo, é o que nos mantém vivos, é o que faz algo no lado esquerdo do peito bater por algo maior.
https://www.brasil247.com/blog/nao-e-o-desastre-que-nos-define-e-a-luta
Fux se converteu em unidade de medida de excesso
O voto Fux será lembrado não pela justiça, mas pela desmedida: treze horas de dispersão, vaidade e vexame, o maior monólogo já imposto ao Supremo
14 de setembro de 2025


Era 9h da manhã do dia 10 de setembro de 2025 quando Luiz Fux começou a falar. Terminou depois das 9h da noite. Treze horas de voto ininterrupto. O Supremo Tribunal Federal, os réus da trama golpista de 2022 e milhões de brasileiros que acompanhavam pela TV Justiça, transmitida simultaneamente por outros canais, foram tomados por uma sensação de estranheza: o excesso, o monopólio da palavra, a recusa em ouvir apartes dos colegas.
Houve quem lembrasse de discursos épicos de Fidel Castro, que chegavam a sete horas de duração — ainda assim, metade do que Fux entregou. O paralelo é inevitável: para sustentar treze horas de fala, seria necessário um talento de orador incomum, coisa de Billy Graham, com seu fervor religioso arrebatador, ou de Barack Obama, com sua cadência magnética e frases que pareciam esculpidas em mármore. Fux, porém, não tem nem o carisma pastoral de Graham nem a fluidez política de Obama. O contraste foi brutal.
Para medir tal desmesura, basta comparar.
Em menos de 13 horas pode-se assistir, do início ao fim, a uma temporada inteira de cinco séries consagradas do streaming: Breaking Bad, La Casa de Papel, The Crown, Stranger Things e O Gambito da Rainha.
Em 13 horas é possível ver, de ponta a ponta, a trilogia de O Poderoso Chefão, que moldou a história do cinema mundial.
O contraste se amplia quando lembramos de julgamentos de júri de grande repercussão, como o caso de O.J. Simpson ou mesmo o de Suzane von Richthofen: em fases cruciais, com testemunhos e alegações, sessões inteiras se encerravam em menos de 13 horas.
A duração do voto de Fux ultrapassou não apenas o senso do razoável, mas também a lógica processual. Esse foi o pensamento de ilustres juristas país afora.
Na música, em treze horas é possível ouvir todas as nove sinfonias de Beethoven ou percorrer as quatro óperas da tetralogia O Anel do Nibelungo, de Wagner — marcos da civilização ocidental. Em literatura, em menos tempo pode-se atravessar Os Miseráveis, decifrar Grande Sertão: Veredas, refletir sobre as distopias de 1984 e perder-se nos labirintos de Cem Anos de Solidão.
Na Bíblia católica, treze horas são suficientes para ler não apenas Gênesis e Êxodo, mas também os quatro Evangelhos e ainda o Livro dos Salmos — o coração poético das Escrituras. Uma jornada espiritual inteira cabe no mesmo espaço que Fux ocupou para, ao fim, entregar um voto sem equilíbrio, sem estrutura lógica, sem nexo e sem senso de justiça, uma vez que a falta de sintonia entre o Fux antigo e o Fux atual foi gritante ao longo das tortuosas horas.
Até a Copa do Mundo serve de medida: as finais dos últimos dez mundiais, somadas, com prorrogações e pênaltis, não atingem treze horas. A paixão e o drama do futebol, compactados, não se comparam à resistência de quem acompanhou o monólogo de Fux.
E há mais formas de dimensionar o exagero. Em treze horas, um avião percorre todo o trajeto de São Paulo a Tóquio, cruzando oceanos e fusos horários. Em treze horas, um maratonista como Kipchoge correria seis maratonas oficiais e ainda sobraria tempo para o banho. Em treze horas, um cirurgião cardíaco poderia realizar ao menos cinco transplantes de coração, devolvendo vida onde só havia silêncio. Em treze horas, um navio cruza o Canal do Panamá de ponta a ponta, ligando o Atlântico ao Pacífico.
Em treze horas, a Estação Espacial Internacional completa quase nove voltas inteiras em torno da Terra, provando que até o cosmos é mais ágil que o Supremo. Em treze horas, a equipe do Cirque du Soleil monta, apresenta e desmonta um espetáculo inteiro, deixando atrás de si aplausos e encantamento. Em treze horas, uma criança pode nascer, ser embalada e dormir, enquanto o ministro Fux ainda insiste em conduzir o fio de sua fala.
“O voto Fux” entrará para os anais não apenas da jurisprudência, mas também da excentricidade. Foi mais do que uma decisão: foi uma prova de fôlego, de vaidade e de uma estranha vocação para reinventar a própria ideia de tempo.
Faltou ao ministro o senso de ridículo. Seu voto foi tão incompreensível que duas horas bastariam para dizê-lo com clareza. Se o relator Alexandre de Moraes levou cerca de cinco horas para apresentar um relatório denso de mais de 800 páginas — peça reconhecida já como uma das mais consistentes da história do STF —, Fux, por seu turno, retirou-lhe a espinha dorsal, desconectou causas de consequências, tratou-o como salame a ser fatiado ao longo de treze horas, perdendo sua unidade temporal e sua lógica interna.
Poucas vezes o Supremo passou por vexame tão histórico e tão longo. Restará ao ministro Fux a vergonha de ter sido autor dessa proeza, um monumento à verborragia que já nasceu condenado ao esquecimento.
E, como se não bastasse, o episódio pariu até uma nova tradição linguística: o neologismo “um Fux”. Prometer falar apenas 10% de um Fux; medir viagens intercontinentais em pontos Fux; intitular cursos de oratória como “aprenda a falar bem evitando o estilo Fux”; ou mesmo, no altar, o padrinho tranquilizar os convidados: “para não os cansar, prometo falar menos que o Fux”. Um exagero que se converteu, ironicamente, em unidade de medida do excesso. E agora resta a ele conviver com essa fama.
https://www.brasil247.com/blog/fux-se-converteu-em-unidade-de-medida-de-excesso
O que espera quem recebe 27 anos de prisão: a Papuda dos anônimos ou a mansão dos poderosos?
Bolsonaro é condenado e expõe o contraste: pobres em celas superlotadas, enquanto poderosos fazem de mansões prisões de luxo
13 de setembro de 2025


Onde Jair Bolsonaro deve iniciar o cumprimento da pena de 27 anos e três meses fixada pelo STF em 11 de setembro de 2025? Em cela da Polícia Federal, em dependência militar, na Papuda ou no conforto vigiado da própria casa?
A dúvida, repetida à exaustão, não é apenas logística: ela revela o abismo entre um sistema penitenciário que superlota celas e um país que, para certos nomes, sempre encontra uma chave extra para abrir a porta da sala.
Hoje, o Brasil convive com algo em torno de 900 mil pessoas privadas de liberdade. A imensa maioria está em unidades estaduais, comprimida em taxa média de ocupação superior a 130%, numa realidade de déficit estrutural superior a 170 mil vagas.
As condições dos presídios são dramáticas: falta de higiene, assistência médica escassa, superlotação e violência endêmica. Relatórios mostram que um terço das unidades foi classificado como ruim ou péssimo. As mortes violentas dentro das prisões são quatro vezes maiores que na sociedade.
Há cinco presídios federais de segurança máxima — Brasília, Catanduvas, Campo Grande, Mossoró e Porto Velho — reservados a casos excepcionais. Todo o restante pesa sobre uma malha estadual com cerca de 1,5 mil estabelecimentos, incluindo grandes complexos e pequenas cadeias.
Na geografia simbólica do cárcere, Tremembé, no interior paulista, tornou-se vitrine. Ali se custodiam condenados de grande repercussão, como Suzane von Richthofen, Alexandre Nardoni, Elize Matsunaga, Roger Abdelmassih. Por isso o apelido: “presídio dos famosos”. Um rótulo que cola.
Se a lei prevê domiciliar por idade, saúde, maternidade ou ausência de vaga adequada, a prática cobra senha de acesso: bons advogados, laudos céleres, capacidade de acionar o Judiciário. Assim, casos de grande visibilidade alcançam a casa mais rápido.
Foi assim com Fernando Collor, solto sete dias após ingressar na prisão por comorbidades. E aí tem um vale-tudo: participa de comícios, viaja na garupa de moto, mas, quando tem que cumprir pena, afirma ser bipolar, ter mal de Parkinson e outra penca de doenças. Foi assim com Sérgio Cabral, migrado ao regime domiciliar por decisão do Supremo após seis anos de cárcere. Com Eduardo Cunha, a pandemia abriu a porta. Todos eles parecem mafiosos que saltam da tela do cinema para a vida real, mas, quando precisam cumprir suas penas, adotam discurso de dar dó.
E Lula? Cumpriu 580 dias na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Recusou a domiciliar — “não sou pombo para usar tornozeleira”, disse ele uma vez — e saiu por decisão judicial que derrubou sua prisão. Depois, o STF anulou suas condenações por incompetência e parcialidade de Sergio Moro. A Justiça falhou vergonhosamente com Lula.
O ponto é que, entre exceções e revisões, a mensagem pública permanece turva. Quando a engrenagem aperta, os mais visíveis encontram respiro fora das grades. Já os anônimos, mesmo com as mesmas doenças e idades, ficam na fila. A seletividade dos benefícios para os condenados mostra uma justiça que há muito aposentou a venda que lhe cobre os olhos: ela conhece o CPF de cada um, a conta bancária de cada um, o espaço midiático ocupado por cada um. É ultrajante essa situação.
É nesse cenário que se decide o destino imediato de Jair Bolsonaro. Condenado por liderar a trama golpista, o ex-presidente já vinha em prisão domiciliar. Agora, sociedade e Justiça debatem: será cela comum ou será sala de estar? O grau de periculosidade do ex-presidente, seu histórico de não respeitar medidas cautelares, sua tendência a espalhar notícias falsas e promover discursos de ódio, sua misoginia e sistemático ataque às instituições do Estado de Direito, a meu ver, não recomendam que cumpra a pena em sua sala de estar.
Mas, então, deveria cumprir onde? Numa sala especial na Polícia Federal ou na Papuda. Qualquer decisão que não considere a escolha de um desses dois endereços será um escárnio, além de um cumprimento de pena sabidamente ineficiente, ineficaz, inútil, antipedagógico e altamente injusto para os condenados que não possuem um sobrenome vistoso, uma conta bancária polpuda ou legião de fãs ideológicos. Uma última opção é trancafiá-lo em apartamento de Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário. Assim fica sanada a preocupação do condenado de vir a morrer por falta de atendimento hospitalar tempestivo.
Não se discute apenas segurança institucional. Discute-se igualdade da lei. Se a escolha recair no endereço residencial, a percepção pública será clara: a prisão domiciliar, no Brasil real, parece privilégio reservado a quem ocupa o topo.
A contraprova está nas estatísticas ocultas do cotidiano. Milhares de mulheres pobres alcançam a domiciliar por maternidade graças a decisões do STF. Mas idosos e enfermos anônimos aguardam meses por perícias, enquanto defensores públicos sobrecarregados lutam contra a burocracia.
Nesse quadro, a domiciliar virou válvula de escape para a superlotação. Contudo, não corrige a causa do problema: encarceramento massivo por crimes sem violência, prisões provisórias duradouras e lentidão processual que multiplica celas cheias sem sentença definitiva.
O país precisa escolher que mensagem transmitir. Se a lei vale para todos, critérios devem ser universais e transparentes: protocolos médicos claros, fila única, prioridade a vulneráveis, monitoramento suficiente, revisão periódica. Só assim a exceção vira justiça.
Bolsonaro, qualquer que seja o endereço de sua custódia, será símbolo dessa encruzilhada. Ou reafirmaremos que a domiciliar é medida impessoal e justificada, ou seguiremos ensinando que a mesma lei opera diferente conforme o CEP e o sobrenome. É sempre útil repensar esse ponto.
A democracia mede-se aí: na porta que se abre, no cadeado que resiste e no olhar de quem segue do lado de fora, esperando que justiça não continue sinônimo de privilégio.
Santo millennial, de jeans e tênis, chega aos altares católicos
Jovem de 15 anos, Carlo Acutis é canonizado na Basílica de São Pedro; ele mostra que a santidade é possível na era digital
07 de setembro de 2025


Domingo (7), a Praça de São Pedro ficou repleta de jovens com smartphones, olhos marejados e corações pulsando com fé. O Papa Leão XIV proclamou Carlo Acutis santo – o primeiro millennial a ascender aos altares católicos. Sua canonização, na Basílica de São Pedro, é um sopro de esperança para uma geração conectada por likes e desilusões.
Carlo morreu aos 15 anos, em 2006, vítima de leucemia fulminante. Seu legado, porém, ecoa como um clique eterno na internet. Ele prova que a santidade pode florescer em meio a códigos binários e telas iluminadas. A cerimônia de hoje não foi apenas um rito; foi um convite para que jovens redescubram a fé em um mundo digital.
Nascido em 3 de maio de 1991, em Londres, de pais italianos abastados, Carlo cresceu em Milão. Poderia ter sido apenas um adolescente privilegiado, vidrado em videogames e futebol. Mas, aos três anos, sua alma já parecia magnetizada pelo divino. Ele pedia para entrar em igrejas durante passeios e colecionava flores para oferendas à Virgem Maria.
Aos sete anos, Carlo começou a frequentar missa diária, um hábito que converteu sua mãe, Antonia Salzano, até então distante da fé. “Carlo era um menino normal, mas com uma fé extraordinária”, recorda ela, emocionada. “Ele me ensinou a rezar, me levou de volta à igreja. Seu amor por Jesus era como um vírus benigno que infectava todos”.
Carlo amava a vida. Jogava futebol, programava computadores e criava sites. Sua genialidade digital, porém, servia à evangelização. Aos 11 anos, desenvolveu um portal catalogando 166 milagres eucarísticos, exibido em mais de 10 mil paróquias. “A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu”, dizia ele, frase que ecoa como um mantra para jovens católicos.
Ele ajudava os sem-teto de Milão, doava sua mesada para caridade e limitava jogos a uma hora diária, evitando ser “escravo da tecnologia”. Em 12 de outubro de 2006, Carlo morreu serenamente, oferecendo seus sofrimentos pelo Papa Bento XVI e pela Igreja. “Estou feliz em morrer, porque vivi sem desperdiçar um minuto em coisas que não agradam a Deus”, murmurou.
O caminho para a santidade na Igreja Católica é meticuloso, quase forense. Começa com a declaração de “Servo de Deus”, com a diocese investigando a vida do candidato. Em 2013, Milão iniciou o inquérito sobre Carlo, coletando testemunhos. Em 2018, o Papa Francisco o declarou “Venerável”, reconhecendo suas virtudes heroicas: fé, esperança, caridade, prudência, justiça, fortaleza e temperança.
A beatificação exige um milagre comprovado; a canonização, um segundo. Médicos, teólogos e cardeais examinam cada caso, descartando explicações científicas. “É como um tribunal celestial”, explica o cardeal Marcello Semeraro, do Dicastério para as Causas dos Santos. “Buscamos provas irrefutáveis de que Deus agiu por intercessão do candidato. O processo de Carlo foi rápido, refletindo sua relevância moderna”.
O primeiro milagre, para a beatificação de 2020, envolveu Matheus Vianna, uma criança brasileira de quatro anos. Ele sofria de uma malformação pancreática congênita, incapaz de comer sólidos. Em 2013, em Campo Grande, seu avô tocou uma relíquia de Carlo na criança, pedindo cura. Dias depois, Matheus pediu carne e comeu normalmente. Exames mostraram o pâncreas perfeito, sem cirurgia.
“Foi como se Deus tivesse reescrito o código genético”, disse um médico perplexo. O Papa Francisco aprovou o milagre em 2020, e Assis explodiu em júbilo. O segundo milagre, para a canonização, é ainda mais comovente. Em julho de 2022, Valeria Valverde, uma costarriquenha de 21 anos, caiu de bicicleta em Florença, sofrendo traumatismo craniano grave.
Os médicos removeram parte de seu crânio para aliviar a pressão. Em coma, seu prognóstico era sombrio. Sua mãe, Liliana, rezou no túmulo de Carlo em Assis. No dia seguinte, Valeria acordou, moveu-se e falou: “Quero sair da cama”. Semanas depois, exames revelaram regeneração cerebral inexplicável. “Carlo intercedeu, transformando desespero em dança”, contou Liliana, chorando.
O Papa aprovou o milagre em maio de 2024. A canonização, adiada pela morte de Francisco em abril de 2025, ocorrerá hoje. Carlo nos convida a refletir: a tecnologia, a internet e as redes sociais são espelhos – refletem aquilo para o qual estão direcionadas. Podem amplificar ódio ou vaidade, mas, para Carlo, tornaram-se janelas para o sagrado.
“Todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias”, alertava Carlo. Em uma era de algoritmos que isolam, ele usou a web para unir almas, provando que o digital não é inimigo da fé. Como disse o Papa Francisco: “Carlo nos mostra que a santidade é possível no mundo de hoje, com seus computadores e conexões.”
Há uma ligação poética entre Carlo e São Francisco de Assis. Ambos repousam em Assis, cidade da paz. Francisco cantava à criação; Carlo, à Eucaristia digitalizada. Antonia Salzano relata um sonho: São Francisco previu a beatificação e canonização de Carlo. “Como Francisco renunciou à riqueza, Carlo, também de família muito abastada, renunciou ao materialismo e egoísmo pela caridade virtual”, diz o bispo de Assis, Domenico Sorrentino.
Confesso, como jornalista, que minha formação em colégios e universidade católicos me moldou como progressista, inspirado por Francisco de Assis. Visitei sua tumba nos anos 1980, orando em sua simplicidade. Depois aprendi com o Mestre de ‘Akká, que fé real é “professar com a língua, acreditar com o coração e demonstrar com os atos”. A santidade é pureza interior e ação nobre, não um título. Ele nos convida: “Sê veloz no caminho da santidade… se o pensamento aspira a assuntos celestiais, torna-se santo”. Carlo personificou essas aspirações. Ele viveu sua fé com ações, usando a tecnologia para unir e elevar.
Como dizem os jovens, “o santo mandou bem”.
A hora da empatia: como a Dinamarca ensina bondade nas escolas
Há mais de três décadas, escolas dinamarquesas cultivam empatia como conteúdo curricular — e mostram que sociedades felizes se constroem desde a infância.
05 de setembro de 2025


Desde 1993, todas as escolas da Dinamarca reservam uma hora semanal para algo que não está nos currículos tradicionais de matemática, história ou ciências. Chama-se Klassens tid — literalmente, “o tempo da turma”. Trata-se de um espaço sem provas, sem notas, sem quadros-negros riscados de equações. Ali, o conteúdo é outro: a vida em comum, as dores partilhadas, os conflitos que precisam ser resolvidos sem violência. É a disciplina da empatia, tornada lei há mais de trinta anos e ainda vista como uma das inovações pedagógicas mais discretas e revolucionárias do mundo.
A cena é simples: crianças entre 6 e 16 anos se reúnem em círculo, mediadas por um professor que não ensina fórmulas, mas faz perguntas. O que te preocupa? Como foi sua semana? Alguém se sentiu deixado de lado? O objetivo não é uniformizar sentimentos, mas reconhecer a singularidade de cada um. No vocabulário dinamarquês existe uma palavra que captura o espírito dessa hora: hygge, a atmosfera de acolhimento e segurança que permite a todos se expressarem sem medo.
Uma lei para cultivar humanidade
A origem dessa prática remonta ao século XIX, quando as primeiras experiências de reuniões de turma surgiram no país. Mas foi em 1993 que o Klassens tid foi oficializado na lei de educação. O gesto político não foi apenas simbólico. Significou inscrever no coração do sistema escolar a ideia de que a convivência democrática, o cuidado mútuo e a capacidade de escuta não são virtudes opcionais — são competências que precisam ser ensinadas com a mesma seriedade com que se ensina álgebra ou gramática.
Num mundo escolar muitas vezes intoxicado pela lógica da competição — prêmios para os melhores, rankings, troféus —, a Dinamarca fez o caminho inverso. Ali, a criança não disputa com o colega, disputa consigo mesma. O resultado não é apenas menos bullying e mais cooperação, mas a formação de gerações que compreenderam, desde cedo, que empatia é uma habilidade tão prática quanto aprender a nadar ou a multiplicar números.
Professores como mediadores da vida
O papel do professor é fundamental. Cabe a ele criar o ambiente de confiança, acolher o que emerge da turma, estimular o diálogo sem impor conclusões. Um aluno pode confessar que se sente isolado, outro pode pedir desculpas, uma menina pode relatar dificuldades em casa. Todos aprendem, juntos, a arte de ouvir. Não se trata de psicoterapia coletiva, mas de treino social: aprender a reconhecer no outro uma presença legítima, uma voz que merece atenção.
Pesquisadores que acompanharam turmas ao longo de décadas relatam efeitos claros: turmas mais coesas, crianças menos propensas a conflitos violentos, jovens mais aptos a lidar com frustrações. Os números não contam toda a história, mas a Dinamarca continua figurando nos primeiros lugares do World Happiness Report, e não é difícil imaginar que a formação escolar baseada na empatia contribua para esse quadro.
O hygge como pedagogia
O conceito de hygge talvez seja o segredo mais refinado do modelo dinamarquês. Não é só a roda de conversa. É a fatia de bolo que circula, o chá quente servido no inverno, a iluminação suave que convida ao diálogo. É o cuidado com a atmosfera, porque sentimentos não se compartilham em ambientes hostis. A pedagogia do hygge ensina que não basta falar de empatia; é preciso criar as condições para que ela floresça.
Enquanto outros países discutem obsessivamente testes padronizados, rankings internacionais e pressões de desempenho, a Dinamarca envia ao mundo um recado mais simples: sociedades felizes não nascem apenas de boas notas, mas da capacidade de gerar vínculos.
Bondade como disciplina
Há quem desdenhe, dizendo que empatia não se mede em gráficos, que bondade não cabe em relatórios. Mas os dinamarqueses parecem não se importar. Continuam ensinando bondade como se fosse geografia. E as evidências mostram que funciona. Menos casos de assédio escolar, mais integração, maior bem-estar social.
Talvez o maior mérito do Klassens tid esteja em mostrar que a educação não é apenas a transmissão de saberes, mas também a construção de convivência. É um lembrete precioso num tempo em que sociedades se dividem com violência e redes sociais transformam divergências em linchamentos.
Lição para o mundo
Não seria exagero dizer que a Dinamarca elevou a empatia à condição de política pública. E, ao fazê-lo, ensinou ao mundo que a felicidade de uma nação não se escreve apenas nas estatísticas econômicas, mas também na qualidade das relações entre seus cidadãos.
Enquanto países buscam fórmulas para conter o bullying, reduzir a violência e combater a solidão crescente entre jovens, a Dinamarca aposta naquilo que parece óbvio e, no entanto, é tão raro: uma hora por semana para aprender a ouvir, falar, compreender.
A lição ecoa para além das salas de aula. A bondade também se ensina. E, quando cultivada desde cedo, pode mudar não apenas trajetórias individuais, mas sociedades inteiras.
Do Pretório Romano ao STF: O que é a Verdade?
No plenário do STF ou no pretório romano, a cena repete-se: advogados tramam entortar o que está retilíneo, governadores de séculos passados lavam as mãos, mas a verdade, nua e incômoda, insiste em queimar máscaras e reclamar justiça
04 de setembro de 2025


O Supremo Tribunal Federal viveu, nesta quarta-feira (3 de setembro de 2025), um dia que deveria ter sido marcado pela densidade do debate jurídico. Cinco ministros da Corte, o procurador-geral da República e milhões de brasileiros pela televisão acompanharam as sustentações de quatro réus da trama golpista.
Jair Bolsonaro, representado por Celso Vilardi, reduziu sua defesa a um mantra já gasto: “não há uma única prova contra o meu cliente”. E, como argumento central, alegou cerceamento de defesa por suposta falta de tempo para examinar os autos. Ironia amarga: ainda que Vilardi & Associados dispusesse de uma década para se debruçar sobre os relatórios da Polícia Federal e do Ministério Público, a fragilidade do discurso permaneceria a mesma.
O general Augusto Heleno teve em Matheus Milanez a voz que proclamou seu distanciamento absoluto de qualquer conspiração. Inclusive declarou que seu cliente estava, vamos dizer, desprestigiado com ou então presidente. O advogado pintou a cena como se o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional fosse um distraído figurante de seu tempo, alheio às maquinações que corriam à sua volta.
Já o general Paulo Sérgio Nogueira foi defendido por Andrew Fernandes, que o apresentou como um pedagogo da legalidade, quase um anjo tutelar, alguém que teria tentado dissuadir Bolsonaro de aventuras golpistas. Isso mesmo: o advogado deixou subentendido que seu cliente tentou o tempo todo remover o presidente Bolsonaro de dar um golpe no país. Como se não tivesse ouvido bem, a ministra Cármen Lúcia pediu que ele repetisse isso. E ele o fez. “Está mais do que provado que o general Paulo Sérgio é inocente”, declarou, repetindo a frase como se a insistência pudesse substituir a análise dos autos.
Que defesa, hein?
Walter Braga Netto, por sua vez, teve a defesa conduzida por José Luis Mendes de Oliveira Lima. Um cavalheiro do século XIX, faltaram o monóculo, a cartola e a casaca E o que se viu foi um enredo pobre, reduzindo toda a acusação à figura de Mauro Cid, classificado como autor de uma “delação premiada mentirosa”. Ignorou documentos, áudios, prints, vídeos, relatórios. Ignorou o que não cabia no atalho. Parecia preocupado em chegar ao século XXI.
Em comum, todos pediram absolvição plena. Nenhum advogado selecionou pontos frágeis da denúncia. Nenhum construiu uma linha técnica minimamente consistente. Preferiram gastar minutos preciosos reclamando do tempo para leitura de documentos, do volume das provas e da forma do processo. Transformaram a tribuna em espaço de lamúrias burocráticas.
A impressão final foi devastadora: bancas renomadas, com dezenas de profissionais, desperdiçando a oportunidade para discutir não a mensagem da acusação, mas o envelope — sua cor, sua caligrafia, seu selo. O denominador comum foi a fuga da essência. As defesas não enfrentaram a verdade dos autos, preferiram a retórica do desvio. Nesse contraste, a liturgia da Corte manteve-se inteira; quem falhou foi a advocacia.
O espetáculo da negação
É nesse ponto que a ponte se abre naturalmente. O espetáculo da negação — os réus que recusam fatos, os advogados que recitam desculpas formais — ecoa uma cena que atravessa vinte séculos. A recusa em lidar com a verdade nua, a tentativa de esvaziar o mérito, a fuga para justificativas paralelas: tudo isso já estava encenado na sala do pretório romano, quando um governador cético perguntou a um prisioneiro sereno: “O que é a verdade?”
Na penumbra do tribunal de Pilatos, o drama foi outro, mas a lógica é a mesma. “Tu és rei?”, perguntou o governador. Jesus respondeu com simplicidade inquebrantável: “Eu nasci para isso e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.”
Pilatos, moldado pela retórica imperial e pelo ceticismo helênico, não esperou resposta. Não se deteve no peso das palavras. Lavou as mãos, saiu para a multidão e deixou o silêncio como sentença. Seu gesto de indiferença ecoa até hoje: a autoridade que prefere não decidir, o poder que evita o confronto com a verdade, o juiz que abandona a substância.
O silêncio de Jesus não é evasão; é a resposta mais radical. A verdade não se enquadra em silogismos aristotélicos nem se protege em labirintos retóricos. Ela se revela na vida, na coerência, no sofrimento que não se curva. Desde então, a humanidade segue órfã de uma definição simples — e talvez seja esse o ponto: a verdade não se define, vive-se.
Pergunta que atravessa a história
Ao longo dos séculos, a pergunta de Pilatos atravessou a História. Na Idade Média, tribunais eclesiásticos queimaram hereges que ousaram desafiar dogmas. Na Renascença, Copérnico e Galileu enfrentaram processos por exporem realidades cósmicas que desmentiam certezas terrenas. No século XX, regimes totalitários moldaram narrativas oficiais, transformando mentiras em doutrinas, enquanto a verdade sobrevivia em confissões clandestinas e diários escondidos.
Nietzsche, em O Anticristo, enxergou na pergunta de Pilatos um lampejo de lucidez romana, uma recusa a aceitar verdades absolutas. Para ele, a força estava no poder terreno, não na metafísica. Dostoiévski, em Os Irmãos Karamazov, recriou a cena no capítulo “O Grande Inquisidor”: o silêncio de Jesus diante da acusação de hipocrisia institucional. Para o escritor russo, o silêncio era convite à liberdade humana, espelho da alma dividida entre a busca sincera e a tentação do cinismo.
Hoje, no Brasil, a tecnologia garante memória ao real. Câmeras de alta definição captam cada gesto. Algoritmos reconstroem padrões de áudio e vídeo. Bancos de dados preservam mensagens que resistem à exclusão. Relatórios forenses e metadados desmontam narrativas fabricadas.
Não há mais como soterrar a verdade: ela emerge nos vídeos das manifestações, nos áudios de conspirações, nas minutas apreendidas, nos prints de conversas, nos testemunhos colhidos pela Polícia Federal. A avalanche de provas se impõe como fornalha. E, diante dela, a estratégia das defesas de ontem — discutir prazos, formatos, volumes — soa como encenação infantil, como malabarismo para não tocar no essencial.
O truque é antigo, mas não resiste ao peso do tempo. A pergunta de Pilatos reaparece em toda sala de audiência: o que é a verdade?
Talvez seja aquilo que resiste quando o espetáculo termina. Talvez seja o que não precisa elevar a voz para existir. Talvez seja o que sobra quando o poder se desfaz.
E nós, como sociedade, seguimos nessa busca. No silêncio de Jesus, há uma lição que resiste: a verdade não se oferece de bandeja, é conquistada com vigilância. Ela se manifesta nos gestos honestos de cidadãos que denunciam, nos juízes que julgam com coragem, nas lutas que atravessam gerações.
O silêncio de Cristo, ontem como hoje, nos convida a vivê-la com coragem inabalável — sobretudo quando a democracia está em jogo.
A Banalidade do Mal: além dos tribunais, quem julga Eichmann e Bolsonaro é a História
Eichmann e Bolsonaro, separados por décadas, enfrentam tribunais e a História, que julga seus atos banais de maldade contra humanidade e democracia
02 de setembro de 2025


Desde o fim de semana, venho refletindo sobre o que escrever para esta coluna de terça-feira, 2 de setembro de 2025. Uma percepção insistente emergiu: há paralelos inquietantes entre o julgamento de Adolf Eichmann, em 1961, e o processo contra Jair Bolsonaro, que hoje atinge seu momento decisivo no Supremo Tribunal Federal. Apesar do abismo temporal, ambos os casos expõem como o mal pode se manifestar em figuras aparentemente comuns.
Esses processos desafiam a justiça e a História a confrontar a banalidade do mal. O julgamento de Eichmann, imortalizado por Hannah Arendt em Eichmann em Jerusalém: Um Relato sobre a Banalidade do Mal, revelou a frieza de um burocrata que viabilizou o Holocausto. Já o processo contra Bolsonaro, acusado de planejar um golpe de Estado após as eleições de 2022, escancara as fragilidades da democracia brasileira.
Arendt, cobrindo o julgamento para a The New Yorker, sugeriu que atos atrozes não requerem vilões monstruosos, mas indivíduos obedientes, desprovidos de reflexão ética. Eichmann, tenente-coronel da SS, coordenou a logística do extermínio de milhões de judeus. Seu julgamento foi mais que uma punição; tornou-se um marco global contra os horrores do nazismo.
Bolsonaro, político de extrema-direita, é acusado de conspirar para subverter a democracia, em meio a uma polarização intensa. O julgamento atual não abrange sua conduta durante a pandemia de Covid-19, que vitimou mais de 720 mil brasileiros e foi investigada pela CPI da Covid, finalizada em outubro de 2021. Ainda assim, paralelos com a teoria de Arendt são inevitáveis, especialmente no negacionismo e na indiferença e completa falta de empatia que marcaram seu governo.
Retrospecto do caso Eichmann: a burocracia do extermínio
Adolf Eichmann foi capturado pelo Mossad em maio de 1960, na Argentina, onde vivia sob identidade falsa. Seu julgamento começou em 11 de abril de 1961, no Tribunal Distrital de Jerusalém, sob a presidência de Moshe Landau, com os juízes Benjamin Halevi e Yitzhak Raveh. Acusado de crimes contra o povo judeu, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, ele enfrentou 15 imputações baseadas na Lei de Punição dos Nazistas e Seus Colaboradores de 1950.
Como peça central da Solução Final, Eichmann organizou a deportação de cerca de 1,5 milhão de judeus, gerenciando trens e recursos com precisão burocrática. O processo durou oito meses, com mais de 1.500 documentos e depoimentos de mais de 100 testemunhas, incluindo sobreviventes do Holocausto. Eichmann defendeu-se alegando obediência a ordens, sem ódio pessoal – uma postura que Arendt viu como a essência da banalidade do mal: um homem movido por ambição, não por fanatismo, incapaz de refletir sobre suas ações.
Em 11 de dezembro de 1961, foi declarado culpado. Após apelação rejeitada, foi executado por enforcamento em 31 de maio de 1962. Transmitido globalmente, o julgamento buscou não apenas punir, mas educar sobre os perigos do totalitarismo. A comunidade internacional aguardava um veredito que fizesse justiça às vítimas do Holocausto. Israel via o processo como afirmação de sua memória coletiva, embora alguns temessem um tom vingativo. Arendt criticou o foco nos crimes contra judeus, em detrimento da humanidade, mas destacou como o mal floresce na ausência de pensamento crítico.
Retrospecto do caso Bolsonaro: a trama golpista de 2022
O inquérito contra Jair Bolsonaro começou após os tumultos pós-eleitorais de 2022, quando perdeu a reeleição para Luiz Inácio Lula da Silva. Investigações da Polícia Federal, supervisionadas pelo STF, apontaram uma conspiração para reverter o resultado democrático. O ápice foi a invasão de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores de Bolsonaro atacaram o Congresso, o Planalto e o STF, em atos que lembraram o assalto ao Capitólio nos EUA.
Evidências incluem mensagens criptografadas, reuniões secretas e tentativas de envolver as Forças Armadas. O julgamento inicia-se hoje, 2 de setembro de 2025, em sessão virtual da Primeira Turma do STF, com ministros como Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin. O veredito é esperado para 12 de setembro, com penas que podem chegar a 43 anos de prisão.
Bolsonaro é julgado com oito réus do “núcleo crucial”: Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin; Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, ex-GSI; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens; Paulo Sérgio Nogueira, ex-Defesa; e Walter Braga Netto, ex-Casa Civil e Defesa. Eles enfrentam acusações de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
O cenário global acompanha com preocupação, em meio ao avanço do autoritarismo. Organizações como Anistia Internacional e ONU esperam que o julgamento fortaleça a democracia latino-americana.
No Brasil, a polarização é evidente: apoiadores de Bolsonaro denunciam perseguição política, enquanto opositores demandam justiça por ameaças à democracia. A defesa nega envolvimento golpista, alegando falta de provas concretas. Tudo isso em voto em fantásticas fábricas de notícias falsas e busca de emparelhamento das investigações.
Provas contra Bolsonaro: um exame das evidências
Seis evidências principais, extraídas dos autos do STF, apontam para a liderança de Bolsonaro na conspiração:
Minuta do golpe revisada: Mauro Cid, em delação, afirmou que Bolsonaro revisou e simplificou uma minuta para declarar estado de defesa, anulando as eleições, em reuniões no Palácio da Alvorada. Mauro Cid gravou dezenas de horas em seu processo de “delação premiada”. A grande maioria dos fatos por ele confessados e que tiveram a participação ativa do ex-presidente Bolsonaro foram confirmadas com provas robustas.
Reunião com embaixadores: Em julho de 2022, Bolsonaro convocou diplomatas ao Alvorada, disseminando alegações infundadas contra as urnas eletrônicas para desacreditar o sistema eleitoral.
Reuniões com Forças Armadas: Em 7 de dezembro de 2022, Bolsonaro apresentou a minuta golpista ao Alto Comando do Exército, conforme testemunho de Marco Antonio Freire Gomes, que destacou sua ilegalidade.
Transmissão contra urnas: Em julho de 2021, Bolsonaro usou uma live no Planalto para atacar o sistema de votação, sem provas, minando a confiança no processo democrático.
Manipulação de relatório militar: Mensagens mostram que Bolsonaro adiou a divulgação de um relatório das Forças Armadas sobre urnas para alimentar desconfiança pública.
Plano ‘Punhal Verde Amarelo’: Documentos indicam que Bolsonaro sabia de planos militares, incluindo monitoramento de autoridades e tramas contra Lula, Moraes e Alckmin, em dezembro de 2022.
Outras evidências incluem o uso indevido da Polícia Rodoviária Federal para obstruir eleitores e mensagens confirmando a organização criminosa, reforçando a liderança de Bolsonaro.
Distinções nas acusações: do genocídio à subversão democrática
Eichmann respondeu por crimes de extermínio em massa, integrando a máquina nazista que matou milhões. Sua responsabilidade direta no Holocausto era inquestionável. Bolsonaro é acusado de tentar subverter a democracia, sem envolvimento com genocídio no contexto do golpe. Suas ações pandêmicas, investigadas pela CPI da Covid, finalizada em 2021, estão em outros inquéritos, não no julgamento atual.
Pontos de conexão: aplicando a banalidade do mal
Em 1961, o julgamento de Eichmann foi um marco contra o totalitarismo, com Israel como guardião da memória do Holocausto. Hoje, o processo de Bolsonaro é um teste para a democracia, com receios de que a impunidade inspire autoritarismos. Organizações como Human Rights Watch e ONU veem no julgamento uma chance de reforçar o Estado de Direito.
A teoria da banalidade do mal conecta ambos os casos. Eichmann, um burocrata sem remorso, agiu por obediência cega. Bolsonaro exibiu indiferença semelhante durante a pandemia, que matou mais de 720 mil brasileiros. Seu negacionismo – promovendo cloroquina contra evidências científicas – e declarações como “e daí?” diante de mortes revelam desprezo pelas vítimas.
A crise de oxigênio em Manaus, em janeiro de 2021, com mortes por asfixia, reflete a negligência de seu governo. Ele vetou lockdowns, incentivou o trabalho durante quarentenas e promoveu motociatas em picos pandêmicos, como em junho de 2021, reunindo multidões sem máscaras. Esses atos transformaram a presidência em um veículo de indiferença, ecoando a falta de reflexão de Eichmann.
O julgamento atual, porém, foca no golpe. Arendt alerta que o mal banal surge da ausência de responsabilidade ética. Bolsonaro, como Eichmann, alega não ter feito nada, mas as evidências apontam uma conspiração contra a democracia.
Que lições podemos aprender com esses julgamentos?
Esses julgamentos vão além da justiça; são advertências contra a complacência.
Eichmann revelou que o mal pode surgir em sistemas desumanizantes. Bolsonaro, com sua retórica divisiva e ações que ameaçaram a democracia e a saúde pública, mostra o mal em gabinetes modernos.
No Brasil, ainda marcado pela pandemia e pela polarização, o veredito de 12 de setembro de 2025 pode afirmar que a lei prevalece. Arendt nos ensina que o mal banal floresce na indiferença.
À sociedade cabe, com memória e vigilância, enfrentá-lo, enquanto a História emite seu julgamento final.
Os gestos pequenos, discretos, de humanidade preservada
Não é o mármore nem o concreto que sustentam a vida em comum, mas a delicadeza de gestos invisíveis que eternizam a beleza. É o embelezamento invisível
01 de setembro de 2025


Há quem acredite que o mundo só se transforma com cifras bilionárias, empréstimos internacionais e obras monumentais. Sonha-se com praças reluzentes, avenidas duplicadas, pontes iluminadas. Tudo isso embeleza a superfície. Mas o que dá sentido à vida?
O paradoxo é direto: o embelezamento mais duradouro não custa nada. Não depende de campanhas eleitorais nem de planos de governo. Ele nasce no gesto de quem oferece atenção, no sorriso concedido ao estranho, na disposição de dividir o que tem. Esses atos não aparecem em estatísticas econômicas, mas são o verdadeiro alicerce da convivência.
A beleza que importa não está no concreto armado, mas na maneira como olhamos uns aos outros sem julgamento. Está no afeto que se dá sem cálculo e na empatia que converte distâncias em proximidade. Uma cidade pode ostentar arranha-céus cintilantes e, ainda assim, permanecer vazia de humanidade se não cultivar a gentileza.
No Brasil, como em tantos outros países onde a violência marca o cotidiano, falar em bondade soa utópico. Mas é precisamente o contrário: sem ela, nenhuma sociedade resiste. A história ensina que não são decretos ou forças militares que sustentam a civilização, mas a escolha silenciosa de milhares de pessoas em não multiplicar rancores.
O mundo inteiro poderia ser embelezado por essa obra discreta: a prática cotidiana da compaixão. Um único gesto solidário pode desencadear correntes de confiança que ultrapassam fronteiras. Do mesmo modo, a indiferença, quando aceita como normal, corrói as bases da vida comum.
O sucesso de uma cidade não deveria ser medido apenas pelo brilho de suas torres ou pela largura de suas avenidas. O que define sua grandeza é a qualidade de seus encontros humanos. De pouco servem parques renovados se ali floresce a intolerância; de nada valem ruas arborizadas se nelas se cultiva o ódio.
Bondade, amor e empatia são as tintas invisíveis que desenham o futuro. Elas impedem que confundamos progresso com ostentação, crescimento com exclusão, beleza com propaganda. A ausência desses valores não se encobre com slogans, tampouco com marketing urbano.
Não se trata de ingenuidade, mas de lucidez. O que sustenta a vida em comum é a cortesia, não a brutalidade. É a partilha, não a acumulação. O que fez a humanidade atravessar impérios e ditaduras não foram monumentos, mas gestos silenciosos de humanidade preservada.
O desafio do nosso tempo é reconhecer que a verdadeira beleza não se compra nem se inaugura. Ela não está na pedra polida, mas na dignidade que reconhecemos uns nos outros.
E a pergunta permanece, irrecusável: estamos prontos para esse trabalho simples, invisível, mas decisivo? A beleza que nasce da bondade é a única que o tempo não apaga.
https://www.brasil247.com/blog/os-gestos-pequenos-discretos-de-humanidade-preservada
Defender o humano contra a padronização é, hoje, a forma mais urgente de justiça
Entre cadernos mal rabiscados e o exílio forçado, Brodsky mostrou que a genialidade floresce justamente onde a escola e o sistema falham em reconhecer o talento
30 de agosto de 2025


Em 1948, na pacata Polyany, Rússia, um menino de dez anos recebeu um veredito escolar devastador: "Teimoso. Preguiçoso. Mal-educado. Perturbador na aula. Faz mal os trabalhos de casa ou não faz nada. Seus cadernos são confusos e cheios de rabiscos. Ele poderia ser um excelente aluno…, mas não tenta." Esse menino era Joseph Brodsky. Para seus professores, um caso perdido; para o mundo, décadas depois, um dos maiores poetas do século XX.
A escola soviética nunca lhe despertou entusiasmo. Pelo contrário: aborrecido, Brodsky acumulava fracassos, trocava de instituição como quem troca de estação de bonde e, já no oitavo ano, rompeu o pacto com as carteiras escolares. Jurou que não voltaria. E não voltou. Sem diploma, sem horizonte claro, parecia condenado a ser mais um no exército de anônimos da União Soviética.
Mas havia algo mais forte que qualquer boletim: as ruas de Leningrado. "As fachadas dos edifícios ensinaram-me mais sobre egípcios, gregos e romanos do que qualquer sala de aula poderia", lembraria ele anos depois. A cidade, com suas cicatrizes e sua beleza, foi a verdadeira universidade do jovem poeta. Enquanto fazia trabalhos esparsos — de assistente em hospitais a operário em fábricas — cultivava em silêncio sua maior vocação: a poesia. "A poesia não é uma forma de entretenimento, mas um modo de vida. Ela não é uma profissão, mas um destino", escreveria em um de seus ensaios.
O regime soviético não tardou a perceber que havia perigo em sua obstinação. Brodsky foi perseguido, julgado por "parasitismo social" e finalmente exilado. Mas nem a censura, nem os tribunais, nem o desterro foram capazes de quebrar a bússola que o guiava: a palavra. Em versos escritos no auge da perseguição, ressoava a força de sua resistência: "Não ergas a voz, meu coração, / pois mesmo no exílio a alma tem pátria."
Em 1987, a história completou seu arco de ironia: o mesmo Joseph Brodsky que fora desdenhado como preguiçoso e rabiscador recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Não se tratava apenas de um reconhecimento individual, mas de uma lição universal. A genialidade não cabe nos relatórios escolares. O talento, muitas vezes, floresce em terrenos improváveis, desafiando a lógica das instituições. "A grande literatura não é produto de programas ou sistemas, mas da solidão humana que se recusa a calar", declarou em seu discurso em Estocolmo.
Brodsky provou que certos espíritos não nasceram para seguir as regras, mas para reescrevê-las. Sua trajetória expõe o abismo entre o que a escola mede e o que a vida revela. Para além da biografia de um poeta, é a lembrança de que há alunos que não se ajustam aos padrões porque carregam dentro de si uma gramática própria, uma música interior que só mais tarde o mundo aprenderá a escutar.
Assim, aquele menino de cadernos desordenados transformou-se em arquiteto de versos imortais. Sua vida confirma uma verdade incômoda: o brilho humano muitas vezes não se deixa aprisionar em notas, relatórios ou diplomas. Ele nasce teimoso, cresce rebelde — e só triunfa porque ousa desobedecer.
A história de Brodsky ecoa em outros destinos improváveis. Thomas Alva Edison, por exemplo, foi expulso da escola após apenas três meses de aula. Seu professor o classificou como "incapaz de aprender". Edison, que sofria de dificuldades auditivas, parecia condenado à insignificância. Foi sua mãe quem o educou em casa, estimulando sua curiosidade. O resultado? Tornou-se um dos maiores inventores da modernidade, responsável por mais de mil patentes e pela criação da lâmpada elétrica. Aquilo que era visto como limitação revelou-se motor de genialidade.
Vincent van Gogh seguiu uma trajetória semelhante de exclusão. Considerado inadaptado, instável, incapaz de manter empregos, viveu mergulhado em fracassos pessoais e financeiros. Morreu sem vender mais do que uma pintura. Seus vizinhos o viam como um excêntrico perigoso; seus contemporâneos, como um fracassado. Apenas após sua morte o mundo percebeu que aquelas telas vibrantes, pintadas em solidão febril, redefiniriam os rumos da arte ocidental. Van Gogh, rejeitado em vida, converteu-se em sinônimo de genialidade artística.
Eis o fio invisível que conecta Brodsky, Edison e Van Gogh: todos foram descartados pelos critérios vigentes. Professores, críticos ou vizinhos não souberam reconhecer a força criativa que escapava às métricas do seu tempo. A história, porém, se encarregou de corrigir o erro. O que a sociedade classificou como falha, preguiça ou desajuste, o futuro rebatizou como invenção, poesia e cor.
Hoje, em um mundo que ainda tenta encaixar talentos em métricas padronizadas — seja por meio de algoritmos, rankings universitários ou índices de produtividade — a história de Brodsky soa como advertência. Nem todos os gênios cabem nas grades de avaliação. Muitos permanecem invisíveis até que o acaso ou a coragem lhes ofereça espaço.
E em um tempo em que a inteligência artificial mede desempenho, filtra currículos, avalia redações e até sugere futuros profissionais, torna-se urgente recordar que o humano não se resume a dados. Brodsky nos ensina que o imprevisível, o "erro" e o desvio podem ser a essência do talento. Se aceitarmos apenas os padrões impostos por máquinas ou sistemas burocráticos, corremos o risco de perder aqueles que, como ele, nascem para reescrever o destino.
Cabe a nós, leitores e cidadãos, não permitir que o olhar estreito de algoritmos e instituições repita os erros da história. O futuro não pode ser um museu de talentos sufocados; deve ser um espaço onde o inesperado floresça, onde a teimosia criativa encontre solo fértil. Defender o humano contra a padronização é, hoje, a forma mais urgente de justiça.
Cem anos de Globo, cem anos de alienação coletiva
O centenário de O Globo escancara sua herança: transformar memória em propaganda, confundir público com plateia e perpetuar alienação como destino coletivo.
29 de agosto de 2025


Em O Ser e o Nada, Jean-Paul Sartre nos lembra que o vazio não é mera ausência, mas presença corrosiva, capaz de se disfarçar em sentido. O nada, escreve o filósofo, é a negação da autenticidade, a recusa de assumir a liberdade e o compromisso diante da realidade.
Essa leitura existencial parece traduzir com precisão o que a Globo, ao celebrar os cem anos de O Globo, oferece ao país: uma festa de slogans que anuncia futuro, mas apenas reedita o passado.
A mensagem publicitária, veiculada com pompa e vozes conhecidas — Regina, Tadeu, Chico, Jô, Paulo —, gira em torno de uma palavra-chave: “futuro”. Contudo, o que chega ao espectador é apenas uma colagem de frases desconexas, que falam do porvir como quem revisita um álbum de fotografias antigas.
O futuro, nesse discurso, é preto e branco, é colorido, é lido, é ouvido. Mas jamais é pensado. Muito menos vivido.
A Globo transformou o futuro em souvenir do passado.
Há, nesse enredo publicitário, um contrassenso escandaloso: falar de futuro exibindo o passado. O recurso, em vez de iluminar a imaginação coletiva, desnuda a incapacidade da emissora de se conectar ao presente do país.
O texto, com sua cadência de marketing, não oferece um gesto concreto sobre o que esperar nem sobre como enfrentar as urgências nacionais — desigualdade, violência, degradação ambiental, polarização política.
O futuro que a Globo projeta não passa de um amontoado de memórias que ela própria ajudou a fabricar e, agora, tenta revender para ver se cola.
Essa é a essência da alienação que a Globo cultiva. Ao falar de futuro sem ancoragem na realidade, promove o engodo de que imaginar é suficiente, de que slogans substituem ideias.
A mensagem confirma o papel que a empresa desempenhou ao longo de um século: manter o brasileiro entretido com espelhos, longe de sua brasilidade, de sua identidade cultural, de sua condição social.
Enquanto a vida real pulsa em favelas, sertões e periferias, o “futuro” da Globo é um roteiro higienizado, embalado em sotaques convenientes e criatividade domesticada com seus improvisos ensaiados.
Alienação é o produto mais duradouro que a Globo exporta ao Brasil. O mais perturbador não é o marketing se esvaziar em frases sem substância — isso já é esperado. O mais grave é a naturalização da desconexão com o Brasil profundo.
Ao falar em “um futuro cheio de sotaques”, a Globo tenta suavizar a diversidade, reduzindo-a a acessório estético, e não a uma força transformadora.
Quando anuncia que o futuro “começou com você”, não fala do povo brasileiro real, mas do espectador passivo, moldado ao gosto da publicidade, treinado a consumir imagens e esquecer causas. Ainda confunde grosseiramente opinião pública com opinião publicada. Deu no que deu.
A comemoração centenária, que poderia suscitar reflexão sobre o papel de um jornal na democracia brasileira, termina como um aplauso de 100 anos ao vazio.
O slogan ressuscitado na atual campanha informa que “A Globo, acima de tudo, ao seu lado” isso mostra o lugar de falar da empresa plim-plim: a confissão de que o grupo sempre colocará seus interesses acima dos interesses do país que diz representar.
O futuro, afinal, não é preto e branco, nem colorido; não é lembrança de programas passados nem galeria de ídolos televisivos. O futuro, para o Brasil, é o que ainda precisa ser construído — e isso a Globo, com seu engodo centenário, insiste em ocultar.
Hannah Arendt advertia que a mentira sistemática destrói a própria experiência da realidade, enquanto Guy Debord descreveu a sociedade moderna como espetáculo que transforma tudo em imagem. Entre ambos, o diagnóstico se completa: a Globo encena o futuro como farsa visual, despojando-o de substância. Sartre já havia mostrado que o nada se traveste de plenitude — aqui, a plenitude televisiva.
O resultado é o mesmo: alienação como destino e manipulação como linguagem.
O centenário da Globo não celebra a imprensa: celebra o poder de manipular a memória coletiva; trata-se de um projeto de poder reafirmando sua lógica.
O centenário não homenageia a memória do jornalismo brasileiro, mas canoniza a própria Globo como centro de uma narrativa que exclui a nação real. Aliás são peritos em auto louvação…
Só que ao trocar o futuro pela lembrança de si mesma, a Globo perpetua o maior dos engodos: vender a alienação como se fosse destino coletivo.
Frei Betto, 80 anos: o frade que nunca se rendeu à margem errada da História
Do cárcere à literatura, do altar às ruas, Frei Betto construiu um legado de inconformismo ético e esperança teimosa
28 de agosto de 2025


Há homens que vivem como se suas vidas fossem editoriais diários: testemunhos que atravessam décadas, incômodos que não se deixam calar, gestos que marcam para além do instante. Frei Betto, dominicano, escritor, militante e pensador, chega aos 80 anos com a mesma coragem de quem sempre soube em que margem do rio da História queria estar: a margem dos pobres, dos esquecidos, dos vencidos de sempre. Sua vida não se resume à santidade de hábito branco ou à liturgia das palavras: é uma vida escrita em resistência, em inquietude e em fé viva.
Conheci Frei Betto em 1994, quando lancei meu livro O Despertar dos Anjos. Eu era um escritor calouro, cercado de dúvidas e inseguranças. E ele, já então, era um nome consagrado, conhecido em todo o Brasil como voz da teologia da libertação, escritor premiado, militante incansável. Mas o que mais me marcou não foi o prestígio: foi a generosidade com que me recebeu, a atenção dedicada a alguém que ainda engatinhava no mundo literário. Um gesto simples, mas inesquecível. Nunca esqueci aquela noite, e nela percebi uma das marcas mais fortes da personalidade de Frei Betto: a capacidade de reconhecer a humanidade no outro, sem hierarquias, sem arrogâncias.
Essa memória pessoal me devolve, inevitavelmente, a outro amigo, que conheci em 1991: o bispo catalão Pedro Casaldáliga. Entre ambos, vejo um parentesco espiritual profundo. Dois homens que fizeram da fé um lugar de entrega total, sem concessões. Dois que recusaram a neutralidade confortável e preferiram a exigência incômoda de um Deus vivo que exige justiça. Ambos pagaram preços altos por sua coerência. Ambos me ensinaram que a fé pode ser uma espada sem lâmina, feita apenas de palavra e exemplo.
A coragem de desagradar
Frei Betto não é o tipo que veio ao mundo para agradar a todos. Ao contrário, parece que transformou a arte de desagradar na sua melhor forma de agradar. Essa minha percepção é confusa apenas à primeira vista, mas bemsimples na essência: ao recusar as conveniências, conquistou o respeito. Ao não buscar consensos fáceis, deixou claro onde estava seu compromisso. Sua fidelidade nunca foi a governos, partidos ou instituições: foi sempre à justiça.
Nos anos de chumbo, foi preso duas vezes. No cárcere, descobriu que o silêncio podia ser preenchido com palavras e esperança. De lá saiu com uma convicção lapidar: “A fé que não se traduz em justiça é apenas alienação.” Décadas depois, já conselheiro de governos populares, ousava dizer: “Não sou governista, sou cristão. E o Evangelho não cabe em nenhum palácio.”
Essa postura o levou a polêmicas inevitáveis. Criticou o silêncio cúmplice de setores da Igreja diante da ditadura, denunciou a distância entre governos e povo e atacou a mercantilização da fé. “Quem se distancia do povo perde a alma da política,” disse certa vez, num recado que atravessou corredores do Planalto. Noutra ocasião, resumiu sua indignação diante da transformação da religião em espetáculo midiático: “A indústria da fé é um mercado de ilusões que transforma Deus em balcão de negócios.”
Nos anos 1970 e 1980, Frei Betto foi um dos pilares da teologia da libertação. Entre fábricas e favelas, comunidades eclesiais de base e movimentos sociais, ajudou a traduzir o Evangelho na linguagem da justiça social. Batismo de Sangue, sua obra mais emblemática, é testemunho pungente dessa vivência: ali estão o medo, a coragem e a fé de jovens dominicanos perseguidos pelo regime militar.
Ele próprio resumiria assim essa escolha: “A opção pelos pobres não é retórica, é geografia. É escolher de que lado do mundo você quer viver.”
Com mais de 60 livros publicados, Frei Betto construiu um legado literário que transita entre ensaios, memórias e literatura infantojuvenil. Mas o que sustenta essa obra é a mesma coerência que moldou sua vida: “Escrevo para libertar palavras da prisão do silêncio.” E, em outra sentença, deixou claro de onde brota sua resiliência: “A esperança é a teimosia dos que não desistem, mesmo quando o mundo desmorona.” Ninguém marca seu tempo se não for lutando por justiça por amor ou por liberdade.
Aos 80 anos, Frei Betto continua mais do que nunca imprescindível. Sua teimosia em ser coerente parece ser a chave. Vida longa, vida longa!
Crônica do cárcere: milionário sem tempo, condenado a gastar o que resta de vida no luxo agora inútil do arrependimento
Entre mansões, relógios e bravatas, a sentença: quatro décadas de grades para quem trocou cidadania por milícias, democracia por delírio e poder por crime
27 de agosto de 2025


Haverá condenações que começarão muito antes da cela. Quando o martelo do juiz cair, não atingirá apenas a liberdade: espatifará também a coreografia de quem terá passado os últimos seis anos convertendo minutos em milhões, selfies em sociedades, voos em vínculos.
A dor adicional não estará no ferro da grade, mas na súbita inutilidade do luxo: Centurion Card, emitido pela American Express em repouso forçado; jet skis entediados; jatinhos de empresários amigos imóveis sobre a própria sombra. Será a economia afetiva da opulência entrando em recessão.
Quatro décadas de pena serão um oceano de horas, e nele hão de boiar, como garrafas sem mensagem, os 51 imóveis que talvez já não possam ser visitados sem escolta — e sem relógio de ouro branco cravejado de diamantes, bem no clima das mil e uma noites orientais.
Coberturas com piscinas infinitas que, de tão infinitas, perderão até a noção de borda; casas de filhos no Lago Sul que aguardarão o dono como quem aguarda chuva imóvel; apartamentos no Texas, na Barra da Tijuca e em Angra que aprenderão, enfim, o idioma universal das portas fechadas.
E logo se descobrirá que ninguém conseguirá preparar um milionário tardio para a burocracia da privação.
A fortuna adquirida a jato — e a jato celebrada — mostrará hábitos próprios. Acordava cedo para gravar vídeos falsos; almoçava em três fusos; pagava a conta antes de o garçom oferecer a sobremesa.
Quando a liberdade sair de cena, o dinheiro perderá coordenação motora. Como usar dezenas de milhões se cada despesa precisará de carimbo, se cada transferência terá de visitar um pátio, se cada investimento fará fila em corredor? Sofrimento será também a perda do improviso. Aquele “vamos agora?” se transformará em “nem pensar, o sistema prisional não permite”.
As amizades com milionários de má índole — no Brasil, com donos de redes de varejo de gosto altamente duvidoso, e fora, em resorts de xeiques e suítes de cortesia — parecerão redes de pesca: lançadas ao acaso, puxarão jantares, convites, convicções do agro pop — mas ninguém poderá mais participar.
Com a sentença, a fortuna mal contada se converterá em púcaro búlgaro: ninguém saberá direito para que serve, mas continuará sobre a mesa, pedindo assunto.
Os amigos telefonarão em viva-voz, enviarão mimos que não poderão entrar, oferecerão advogados que já estarão do outro lado da mesa. Se antes a agenda não cabia no mundo, agora será o mundo que não caberá na agenda do presidiário.
O pior tormento, dirão advogados calejados, não será a cela em si. Será o silêncio que ela produzirá sobre as coisas que costumavam falar. A aflição maior será o inventário do silêncio: assistir ao sucesso de quem se planejou assassinar. Quadros já não pedirão luz, tapetes não pisarão história, o elevador social se transformará em metáfora sem passageiro. O que antes ocupava salas — sabores, ruídos, bajuladores de quinta categoria — caberá em número de cela.
E quem organizava rituais com pastores servindo a palavra dos fariseus deixará tudo de lado para beber, de um gole e sem pressa, o fel da mente psicopata que, na juventude, sonhou em explodir a estação de água da antiga capital.
Com quatro décadas no horizonte, até a gramática entrará em regime fechado: pronomes aprenderão a obedecer, verbos farão fila, adjetivos cumprirão turno. A baba do cão raivoso deixará de ser despejada no WhatsApp dos tios, fardados ou não.
Sinto-me como que escalado para narrar a penitência: sugiro uma cela com vista para dentro, onde o condenado se deparará com seus objetos tentando fugir.
A caneta Montblanc (que se travestia de Bic apenas para a gravação dos vídeos falsos) pedirá habeas corpus; o relógio do segundo conjunto de origem duvidosa fará jejum; a poltrona Charles Eames aprenderá a se desdobrar para caber no armário da memória.
Medir-se-á a solidão pelo absurdo. Sofrerá o homem porque já não poderá caber nos próprios desatinos de uma vida dedicada a fazer o mal. Que a eternidade mais um dia ainda não seja suficiente para purgar as dores que semeou, as mortes que motivou, o futuro que de todos roubou.
Quatro décadas de pena contra cinco dezenas de imóveis: a Justiça, enfim, apresentará saldo. De que valerão adegas sem taças, heliportos sem hélices, cofres sem combinações? O luxo, reduzido à caricatura, não servirá nem para medir o tempo — já que até o relógio suíço passará a marcar apenas o ritmo do sol através das grades.
O condenado descobrirá que o conforto era, no fundo, o lamaçal da impunidade violentando as frestas do tempo. A prisão não encerrará apenas o estilo; interromperá a própria vida.
Haverá quem argumente que se tratará de justiça natural: quem transgrediu, que aguente a tempestade, o mau tempo, o barranco, o tranco. É verdade. Mas o jornalismo cidadão e plural observará também a podridão moral de quem, com roupa de corrida mal-ajambrada, comia farofa escorrendo da boca para o chão sujo e agora aprenderá a pedir licença para usar o telefone.
As relações internacionais do réu — entre salões e suítes — descobrirão o limite da extradição afetiva: carinho não atravessa detector de metais. Fica tudo retido, porque pertencia à vida anterior do delinquente apenado.
Nos últimos cinco anos, o protagonista terá vivido como quem empilha amanheceres. Agora precisará aprender a dobrá-los. Haverá cursos para quase tudo, menos para a diminuição do espaço. Por isso, a pena acrescentará um capítulo invisível: o da autogestão do excesso.
Administrar milhões com tornozeleira será coisa de equilibrista em sala de espera. Quase sempre dará errado; quando der certo, ninguém assistirá.
No fim, sobrará uma crônica de contrastes: o homem que chamava o Exército do país de seu, condecorava milicianos de estimação, vangloriava-se de ter nas mãos 20% do STF, pois bem, será o mesmo que, aos soluços, observará uma grade vindo em sua direção, como uma pipa distante que se achega mais.
O que não faltará será tempo para consumir, lentamente, aquilo que dezenas de milhões não compram: a reconciliação entre a pessoa que é e a que poderia ter sido.
Tempo para arrependimentos tardios — e, como tais, absolutamente inúteis, ineficazes.
Ancelotti faz gol de placa contra o passado ao não chamar Neymar
A exclusão de Neymar da convocação para a seleção brasileira simboliza mais que uma escolha técnica: é o adeus a um legado tóxico
Haverá condenações que começarão muito antes da cela. Quando o martelo do juiz cair, não atingirá apenas a liberdade: espatifará também a coreografia de quem terá passado os últimos seis anos convertendo minutos em milhões, selfies em sociedades, voos em vínculos.
A dor adicional não estará no ferro da grade, mas na súbita inutilidade do luxo: Centurion Card, emitido pela American Express em repouso forçado; jet skis entediados; jatinhos de empresários amigos imóveis sobre a própria sombra. Será a economia afetiva da opulência entrando em recessão.
Quatro décadas de pena serão um oceano de horas, e nele hão de boiar, como garrafas sem mensagem, os 51 imóveis que talvez já não possam ser visitados sem escolta — e sem relógio de ouro branco cravejado de diamantes, bem no clima das mil e uma noites orientais.
Coberturas com piscinas infinitas que, de tão infinitas, perderão até a noção de borda; casas de filhos no Lago Sul que aguardarão o dono como quem aguarda chuva imóvel; apartamentos no Texas, na Barra da Tijuca e em Angra que aprenderão, enfim, o idioma universal das portas fechadas.
E logo se descobrirá que ninguém conseguirá preparar um milionário tardio para a burocracia da privação.
A fortuna adquirida a jato — e a jato celebrada — mostrará hábitos próprios. Acordava cedo para gravar vídeos falsos; almoçava em três fusos; pagava a conta antes de o garçom oferecer a sobremesa.
Quando a liberdade sair de cena, o dinheiro perderá coordenação motora. Como usar dezenas de milhões se cada despesa precisará de carimbo, se cada transferência terá de visitar um pátio, se cada investimento fará fila em corredor? Sofrimento será também a perda do improviso. Aquele “vamos agora?” se transformará em “nem pensar, o sistema prisional não permite”.
As amizades com milionários de má índole — no Brasil, com donos de redes de varejo de gosto altamente duvidoso, e fora, em resorts de xeiques e suítes de cortesia — parecerão redes de pesca: lançadas ao acaso, puxarão jantares, convites, convicções do agro pop — mas ninguém poderá mais participar.
Com a sentença, a fortuna mal contada se converterá em púcaro búlgaro: ninguém saberá direito para que serve, mas continuará sobre a mesa, pedindo assunto.
Os amigos telefonarão em viva-voz, enviarão mimos que não poderão entrar, oferecerão advogados que já estarão do outro lado da mesa. Se antes a agenda não cabia no mundo, agora será o mundo que não caberá na agenda do presidiário.
O pior tormento, dirão advogados calejados, não será a cela em si. Será o silêncio que ela produzirá sobre as coisas que costumavam falar. A aflição maior será o inventário do silêncio: assistir ao sucesso de quem se planejou assassinar. Quadros já não pedirão luz, tapetes não pisarão história, o elevador social se transformará em metáfora sem passageiro. O que antes ocupava salas — sabores, ruídos, bajuladores de quinta categoria — caberá em número de cela.
E quem organizava rituais com pastores servindo a palavra dos fariseus deixará tudo de lado para beber, de um gole e sem pressa, o fel da mente psicopata que, na juventude, sonhou em explodir a estação de água da antiga capital.
Com quatro décadas no horizonte, até a gramática entrará em regime fechado: pronomes aprenderão a obedecer, verbos farão fila, adjetivos cumprirão turno. A baba do cão raivoso deixará de ser despejada no WhatsApp dos tios, fardados ou não.
Sinto-me como que escalado para narrar a penitência: sugiro uma cela com vista para dentro, onde o condenado se deparará com seus objetos tentando fugir.
A caneta Montblanc (que se travestia de Bic apenas para a gravação dos vídeos falsos) pedirá habeas corpus; o relógio do segundo conjunto de origem duvidosa fará jejum; a poltrona Charles Eames aprenderá a se desdobrar para caber no armário da memória.
Medir-se-á a solidão pelo absurdo. Sofrerá o homem porque já não poderá caber nos próprios desatinos de uma vida dedicada a fazer o mal. Que a eternidade mais um dia ainda não seja suficiente para purgar as dores que semeou, as mortes que motivou, o futuro que de todos roubou.
Quatro décadas de pena contra cinco dezenas de imóveis: a Justiça, enfim, apresentará saldo. De que valerão adegas sem taças, heliportos sem hélices, cofres sem combinações? O luxo, reduzido à caricatura, não servirá nem para medir o tempo — já que até o relógio suíço passará a marcar apenas o ritmo do sol através das grades.
O condenado descobrirá que o conforto era, no fundo, o lamaçal da impunidade violentando as frestas do tempo. A prisão não encerrará apenas o estilo; interromperá a própria vida.
Haverá quem argumente que se tratará de justiça natural: quem transgrediu, que aguente a tempestade, o mau tempo, o barranco, o tranco. É verdade. Mas o jornalismo cidadão e plural observará também a podridão moral de quem, com roupa de corrida mal-ajambrada, comia farofa escorrendo da boca para o chão sujo e agora aprenderá a pedir licença para usar o telefone.
As relações internacionais do réu — entre salões e suítes — descobrirão o limite da extradição afetiva: carinho não atravessa detector de metais. Fica tudo retido, porque pertencia à vida anterior do delinquente apenado.
Nos últimos cinco anos, o protagonista terá vivido como quem empilha amanheceres. Agora precisará aprender a dobrá-los. Haverá cursos para quase tudo, menos para a diminuição do espaço. Por isso, a pena acrescentará um capítulo invisível: o da autogestão do excesso.
Administrar milhões com tornozeleira será coisa de equilibrista em sala de espera. Quase sempre dará errado; quando der certo, ninguém assistirá.
No fim, sobrará uma crônica de contrastes: o homem que chamava o Exército do país de seu, condecorava milicianos de estimação, vangloriava-se de ter nas mãos 20% do STF, pois bem, será o mesmo que, aos soluços, observará uma grade vindo em sua direção, como uma pipa distante que se achega mais.
O que não faltará será tempo para consumir, lentamente, aquilo que dezenas de milhões não compram: a reconciliação entre a pessoa que é e a que poderia ter sido.
Tempo para arrependimentos tardios — e, como tais, absolutamente inúteis, ineficazes.
26 de agosto de 2025


The Sound of Silence reflete a amizade de Art Garfunkel e Sandy Greenberg
Uma amizade que venceu a escuridão ilumina o mundo de 1 a 5 de setembro de 2025, na Cúpula Mundial da Cegueira, o maior encontro global pela inclusão, em São Paulo.
Em meio a manchetes de guerras, crises econômicas e tensões globais, uma história de lealdade e transformação oferece um alívio necessário. A canção The Sound of Silence, de Simon & Garfunkel, carrega uma narrativa de amizade que transcende o tempo, conectando-se à Cúpula Mundial da Cegueira, que reunirá milhares em São Paulo, de 1º a 5 de setembro de 2025, para discutir inclusão e superação.
No Brasil, 1,8 milhão de pessoas vivem com cegueira, e 28,6 milhões enfrentam perda de visão. Nesse cenário, a cúpula destaca a luta por acessibilidade. Mas é a história por trás da canção de 1965 que dá alma ao evento, revelando um laço humano que desafia a escuridão.
Na Universidade de Columbia, em 1960, Art Garfunkel, com sua voz etérea, avistou Sanford “Sandy” Greenberg, um calouro de Buffalo, durante a orientação. Um “oi” despretensioso uniu-os. Apaixonados por poesia, música folk e debates sobre Dostoiévski, tornaram-se inseparáveis, dividindo um quarto apertado no dormitório Hartley.
Sentados sob a luz fraca de uma luminária, selaram um pacto: “Se você precisar de mim, estarei lá, não importa o quê.” Greenberg, de família humilde, sonhava com um futuro grandioso. Garfunkel, já esboçando canções, via nele um espírito indomável. A promessa seria testada cedo.
No terceiro ano, Greenberg assistia a um jogo de beisebol quando sua visão embaçou. Médicos prometeram recuperação, mas o glaucoma destruiu seus nervos ópticos. A escuridão o engoliu. Depressivo, ele trancou a faculdade, isolando-se em Buffalo, onde sua família, sem recursos, pouco podia fazer.
Garfunkel não aceitou o silêncio do amigo. Viajava regularmente de Nova York a Buffalo, carregando livros e esperança. Lia em voz alta, de Platão a Hemingway, com uma paciência que Greenberg descreveria como “quase sagrada”. Convenceu-o a voltar à Columbia, prometendo ser seus olhos.
De volta ao campus, Art ajustou sua vida. Caminhava com Sandy, descrevendo o brilho das folhas outonais ou o caos das ruas de Manhattan. Preenchia formulários, tratava arranhões de tropeços e se autodenominava “Escuridão”, um apelido que misturava humor e empatia, como se dissesse: “Estamos juntos nessa.”
Um dia, na Grand Central Station, Art armou um plano ousado. Anunciou uma “tarefa urgente” e fingiu deixar Greenberg na multidão. Sandy, apavorado, enfrentou sons e colisões até chegar à universidade. Lá, esbarrou em Art, que o seguira em segredo. “Você pode fazer isso”, disse Garfunkel, reacendendo a confiança de Greenberg.
A amizade floresceu além da tragédia. Em 1963, Greenberg casou-se com Sue, sua namorada de infância, com Garfunkel como padrinho, brindando com lágrimas e risadas. Quando Art, agora parceiro de Paul Simon, precisou de US$ 400 para gravar um álbum, Sandy, com apenas US$ 404, doou tudo sem hesitar.
O álbum Wednesday Morning, 3 AM foi um fiasco inicial, mas The Sound of Silence emergiu como hino global. Escrita por Simon, a canção carregava a alma de Garfunkel, com “Olá, escuridão, meu velho amigo” refletindo sua empatia por Greenberg. Em 2012, a Biblioteca do Congresso reconheceu seu impacto cultural.
Greenberg transformou a cegueira em missão. Inventou um dispositivo que acelerava a leitura em áudio para cegos, fundou empresas e aconselhou presidentes como Johnson, Ford e Carter. Recusando bengalas, declarou: “Não sou ‘o cara cego’. Sou Sandy Greenberg.” Seu Prêmio Greenberg, de US$ 3 milhões, impulsiona a busca pela cura da cegueira.
Para Garfunkel, Sandy é “o padrão ouro de decência”. “Ele me fez um homem melhor”, confessou Art, que ainda guarda fotos do casamento de Sandy como tesouro.
Essa história tem tudo a ver com a Cúpula Mundial da Cegueira, no Anhembi Convention Center, em São Paulo.O evento reúne 190 países, com Congresso Técnico-Científico, Feira de Tecnologia Assistiva e jantar no Hotel Unique.
No Brasil, onde a inclusão é desafio, deve se dar destaque a iniciativas como coletivos que guiam deficientes visuais em aventuras urbanas, promovendo autonomia.
Greenberg inspira os debates sobre resiliência e acessibilidade. A cúpula reforça: a visão limitada não limita vidas. The Sound of Silence ressoa como um hino de empatia, unindo a amizade de dois jovens à luta global.
Em São Paulo, o evento celebra a força coletiva. Da escuridão de Greenberg à luz de um movimento, a canção e a cúpula provam: a solidariedade transforma silêncios em esperança.
22 de agosto de 2025


Jornalismo não é tronco de enchente girando em torno de si mesmo
Jornalistas de excelência combatem desinformação com apuração ética, resgatando a verdade contra narrativas estagnadas como troncos em enchente
O jornalismo que precisamos não pode ser como tronco em enchente de rio, girando em torno de si mesmo, entregando pouco valor-notícia ou profundidade aos leitores. Jornalistas de excelência, com apuração rigorosa, contexto histórico e compromisso com direitos humanos, democracia, diversidade, inclusão, meio ambiente e educação, resgatam sua essência transformadora.
Em um cenário saturado por conteúdos instantâneos, muitos gerados por algoritmos, o jornalista de excelência emerge como restaurador da confiança. Com domínio temático, fontes sérias e perspectiva histórica, ele costura narrativas que desmontam desinformação e revelam verdades complexas com clareza e propósito.
A expansão de IAs generativas intensifica um velho dilema. Elas amplificam o alcance de informações, mas produzem textos muitas vezes rasos, sem contexto ou verificação, alimentando narrativas distorcidas que confundem o público e fragilizam a democracia.
O jornalismo de excelência
Nesse vácuo, o jornalista de excelência brilha, oferecendo o que máquinas não entregam: capacidade de interpretar silêncios, conectar fatos dispersos e expor agendas ocultas com sensibilidade ética.
Na França, Edwy Plenel, do Mediapart, exemplifica isso ao investigar abusos de poder, defendendo direitos humanos e inclusão em obras como Pour les musulmans, que desafiam preconceitos.
No Reino Unido, Owen Jones, do The Guardian, disseca desigualdades sociais, advogando por direitos LGBTQ+, sustentabilidade ambiental e educação universal, como a abolição de taxas universitárias.
Na Espanha, Helena Maleno, do eldiario.es, denuncia violações migratórias, empoderando comunidades subsaarianas, especialmente mulheres e crianças, com relatórios e oficinas que promovem inclusão.
Nos EUA, Nikole Hannah-Jones, com o 1619 Project no The New York Times, reescreve a história americana, centrando a escravidão para avançar diversidade racial, inclusão e educação equitativa, via iniciativas como a 1619 Freedom School.
Esses jornalistas não só informam; eles educam, inspiram e impulsionam mudanças sociais.
Profundidade ética
Máquinas não replicam essa profundidade ética. Um estudo da Pew Research de 2024 mostra que 68% dos leitores confiam mais em textos de autores experientes do que em conteúdos automatizados. Além disso, 73% valorizam análises que exigem intuição, empatia e memória histórica.
A era digital impõe obstáculos: a corrida por cliques e redações enxutas marginalizam investigações profundas. Mesmo assim, jornalistas de excelência persistem, priorizando qualidade sobre volume, em um tempo onde narrativas enganosas prosperam por interesses políticos ou econômicos.
Seus esforços, como os de Plenel expondo corrupções ou Hannah-Jones desafiando hegemonias históricas, reforçam um jornalismo que defende direitos e sustentabilidade, estimulando debates globais sobre ecologia e ensino inclusivo. Em polarizações crescentes, eles conectam histórias individuais a lutas coletivas por justiça.
Enfrentam ameaças e processos, mas seguem firmes, reafirmando o jornalismo humano como pilar de democracias pluralistas. Resgatam práticas quase perdidas: apuração meticulosa, narrativas imersivas e responsabilidade moral, diluídas por décadas de pressões comerciais.
Um jornalismo que privilegia profundidade e integridade, floresce em plataformas progressistas que acolhem vozes diversas e distinguem análises rasas de reflexões penetrantes. Não o vejo renascer em jornais impressos fossilizados, estagnados há meio século, que trocam credibilidade por anúncios de empresas avessas a escrutínios éticos.
Vitalidade dos antigos
Veículos como The New York Times e The Guardian, apesar de antigos, mantêm vitalidade ao abraçar narrativas inovadoras, arejadas e envolventes, que reposicionam o jornalismo como motor de transformação social. Eles investem em educação midiática e ferramentas de verificação assistida para conter distorções.
Apoiar esses profissionais exige esforço coletivo. Leitores devem apoiar mídias de qualidade com assinaturas e engajamento. Governos e empresas precisam garantir liberdade de imprensa e proteção, especialmente em países onde jornalistas enfrentam riscos — o Brasil, por exemplo, caiu para 108º no Índice de Liberdade de Imprensa de 2025, segundo Repórteres Sem Fronteiras.
O jornalista de excelência não é lenda, mas necessidade. Em um mundo de verdades disputadas, sua habilidade de apurar, contextualizar e humanizar histórias é insubstituível. A IA pode apoiar, mas o olhar humano — analítico, ético e sensível — dá alma ao jornalismo. Como disse Seymour Hersh, “o jornalismo é sobre pessoas, não máquinas”.
21 de agosto de 2025


Chega de impunidade no ambiente on-line
PL 2628/2022 protege crianças online, mas falta detecção proativa. Aprovação urgente com alinhamento a padrões internacionais é vital
Nas últimas semanas, o Brasil tem sido abalado por um vídeo do influenciador e humorista Felca. Com milhões de visualizações, o conteúdo denuncia a adultização e exploração sexual de crianças e adolescentes nas redes sociais, expondo casos como os de Hytalo Santos e canais como “Bel para Meninas”. Essas revelações, cheias de poses sugestivas e interações inadequadas com adultos, geraram ameaças ao próprio Felca. Ele agora anda com segurança reforçada. A repercussão levou a investigações do Ministério Público da Paraíba e inspirou projetos locais, como a “Lei Felca” em Cuiabá, contra conteúdos que sexualizem menores.
Em meio a essa onda de indignação política, jurídica e social, surge como resposta o Projeto de Lei 2628/2022. Aprovado no Senado em novembro de 2024, o texto aguarda votação na Câmara dos Deputados, propondo regras firmes para proteger vulneráveis no ambiente digital. De autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), o projeto abrange aplicativos, jogos e mídias sociais. Vamos dar uma panorâmica ao conteúdo deste projeto:
1. O projeto tem a intenção de obrigar fornecedores a adotar mecanismos ativos contra conteúdos impróprios, impedindo acesso de menores a produtos inadequados.
2. Além disso, as plataformas devem prevenir bullying, exploração sexual e padrões de uso que incentivem vícios ou transtornos mentais. Vieira destaca que as medidas buscam equilibrar segurança com o desenvolvimento progressivo dos jovens, inspiradas em práticas internacionais.
3. No cerne do combate ao abuso, o projeto exige sistemas para relatar conteúdos de exploração a autoridades nacionais e internacionais, sem aguardar ordem judicial. Empresas removerão materiais violadores imediatamente após denúncias, excluindo as anônimas.
4. Para plataformas com mais de 1 milhão de usuários menores, relatórios semestrais sobre denúncias são mandatórios. Devem reter dados como conteúdos compartilhados e informações de usuários responsáveis, fortalecendo a accountability – responsabilidade – das empresas.
5. Quanto à publicidade, o texto veta anúncios que estimulem ofensa, discriminação ou sentimentos de inferioridade. Eles devem ser sinalizados explicitamente e não podem incentivar ilegalidades, violência ou degradação ambiental, alinhados ao Código de Defesa do Consumidor.
6. O texto veda também o direcionamento via perfilamento comportamental, análise de dados pessoais para targeting publicitário personalizado. Isso protege contra manipulações sutis que exploram vulnerabilidades infantis.
7. Na proteção de dados, controladores de serviços tecnológicos verificarão consentimento dos responsáveis para coleta. Proíbe-se condicionar acesso a jogos ou apps a dados excessivos, ou criar perfis comportamentais que facilitam abusos.
8. Infratores enfrentarão advertência, suspensão ou proibição de serviços. Multas chegam a 10% do faturamento da empresa ou de R$ 10 até R$ 1 mil por usuário, com valor máximo de R$ 50 milhões por infração, com recursos destinados ao Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente, para ações digitais.
O projeto tramita em caráter conclusivo nas comissões de Comunicação; Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; e Constituição e Justiça e de Cidadania. Sua aprovação depende de harmonia entre Câmara e Senado.
Diversas entidades apoiam a iniciativa, vendo nela um passo contra crimes online. A Coalizão Direitos na Rede emitiu nota favorável, sugerindo ajustes para equilibrar proteção e direitos digitais. Organizações como Childhood Brasil, fundada pela rainha Sofia da Suécia, dedicada à prevenção de violência sexual infantil, alinham-se ao projeto por meio de parcerias para educação segura. ONGs como SaferNet e Instituto Alana defendem regulamentações semelhantes em fóruns públicos.
Autoridades também se manifestam a favor. O relator no Senado, Flávio Arns (PSB-PR), o chamou de prioridade absoluta. E o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), prometem acelerar a votação. O momento é este e não devemos deixar que um outro grande escândalo tome seu lugar desse deixando esse projeto dormitar na gaveta do esquecimento parlamentar.
O Ministério da Justiça, em audiências, alertou para milhares de notificações diárias de conteúdos inadequados, reforçando a urgência. No entanto, divisões políticas, como obstruções da barulhenta bancada da extrema direita no Congresso, atrasam a aprovação do projeto.
Apesar de parecer robusto, ainda tem um bom espaço para melhorias nesse projeto:
Apesar dos avanços, o projeto pode ganhar força com medidas adicionais, inspiradas em legislações estrangeiras. Uma é a verificação de idade robusta, como no Online Safety Act do Reino Unido, usando biometria auditada por terceiros para bloquear acessos indevidos e grooming – manipulação online para explorar sexualmente menores.
Outra sugestão: implementação de tecnologias de detecção proativa com inteligência artificial e hashing, comparação de impressões digitais de imagens, baseada na proposta da União Europeia contra abuso infantil, identificando ameaças em tempo real.
Entendo ser muito efetivo criar um órgão regulador independente, similar ao eSafety Commissioner da Austrália, para monitorar conformidade, impor multas e coordenar com agências globais, elevando a cooperação transfronteiriça.
O Brasil não pode se fechar em uma bolha, acreditando que essa situação alcança apenas as crianças e os adolescentes brasileiros. Não, é uma situação que diz respeito ao mundo como um todo, daí ser necessária maior interação entre os diversos parlamentos para se aproveitar as boas iniciativas que já estão em pleno funcionamento em diversos países como vimos acima.
Desde novembro de 2022, como estudioso do impacto da inteligência artificial na sociedade, alerto para o uso indiscriminado das redes por crianças e adolescentes. Agora, com a IA facilitando disfarces criminosos, eles se tornam presas fáceis de aliciadores perigosos.
Cada dia sem legislação sólida expõe dezenas ou centenas de jovens, entre os 216 milhões de brasileiros, potenciais vítimas de criminosos que roubam corações e mentes de quem ainda pode ser iludido em sua boa fé, em sua inocência original.
Diante disso, notam-se algumas lacunas:
O Projeto de Lei 2628/2022 não aborda educação no ensino fundamental e médio sobre perigos online. Programas escolares poderiam conscientizar sobre personas virtuais falsas, usadas por estupradores ou redes de pedofilia e tráfico humano.
A responsabilidade não é apenas das autoridades, nem se deve esperar realisticamente que leis resolvam tudo, pois se fossem minimamente eficazes viveríamos em um paraíso, em um mundo ideal. E estamos muito longe disso. Toda essa rede de proteção começa com supervisão vigilante de pais, educadores atentos e sociedade, prontos para denunciar indícios de crimes online contra crianças, adolescentes, ignorantes que são do poder destrutivo das redes.
Não se deve também descartar a necessidade imperiosa de que sejam criadas delegacias especializadas em crimes virtuais, como as de defesa da mulher, para investigações ágeis e suporte às vítimas, convertendo indignação em ação coletiva inabalável. Estamos todos cansados de boas intenções, de projetos de lei abrangentes e bem fundamentados. Ações e não palavras sejam nosso distintivo. Esta é uma daquelas causas às quais vale dedicar uma parte significativa da vida.
https://www.brasil247.com/blog/chega-de-impunidade-no-ambiente-on-line
14 de agosto de 2025


Hotel Califórnia reflete nossa luta interna: a tensão entre o anseio por significado e a sedução do prazer imediato
Na dança hipnótica do ego, no mundo em que vivemos, ‘Hotel California’, dos lendários Eagles, seduz com promessas, mas nos aprisiona com nossos próprios desejos
Em 1976, quando “Hotel California” se tornou hino da minha geração, eu tinha 17 anos. Fui capturado pelo ritmo hipnótico e pelo solo de guitarra extraordinário, algo que, exagerando para dar ênfase, parecia único na história da música. O fraseado melódico, eternamente jovem, nunca envelhece.
A canção dos Eagles, lançada naquele ano, é mais que uma balada; é um espelho sombrio da nossa era. Nos dias que correm, em meio a crises climáticas, polarizações digitais, extremismos delirantes, tarifas torto e a direito e uma economia que consome almas como algoritmos consomem dados, ela ressoa como uma profecia inquietante.
Na estrada deserta, somos atraídos por promessas de luz. “On a dark desert highway, cool wind in my hair…” (“Numa rodovia deserta e escura, vento fresco nos cabelos…”) começa a jornada do protagonista, um viajante exausto que avista o Hotel California – um oásis de luxo aparente. Don Henley, letrista principal, revelou que a música expõe o lado escuro do sonho americano: excesso, sedução, ilusão. Em 1976, os Estados Unidos saíam da ressaca do Vietnã, Watergate e da contracultura que virara mercadoria.
Os Eagles, forasteiros em Los Angeles, capturaram esse desencanto. A demo instrumental de Don Felder, transformada em roteiro twilight-zone por Henley e Glenn Frey, tornou-se uma metáfora atemporal.
Hoje em dia, o hotel simboliza o mundo. Vivemos na “sociedade líquida” de Zygmunt Bauman, onde relações são descartáveis como plásticos nos oceanos.
O hedonismo nos convida: “Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends…” (“Sua mente é distorcida por Tiffany, ela tem o frenesi do Mercedes…”). A mulher sedutora representa a vaidade consumista, orbitada por “pretty, pretty boys” (“meninos bonitos, bonitos”) – acessórios humanos num universo de ostentação. Quantos, perdidos em feeds do Instagram e TikTok, dançam para esquecer? “Some dance to remember, some dance to forget.” (“Alguns dançam para lembrar, outros para esquecer.”) É a fuga de uma realidade onde o virtual supera o real, deixando-nos carentes de conexões genuínas.
O capitalismo cultural transforma arte em produto trivial. “Hotel California” critica isso: o hotel “se alimenta de pessoas”, prometendo prazer, mas entregando aprisionamento. Atualmente, músicas viram jingles para shampoos, relógios ou apps da Apple Store. A fama, antes expressão criativa, agora é caçada em 15 segundos de viralidade.
Milhões buscam holofotes fugazes, afastando-se de seu melhor eu. Sem valores éticos, morais e espirituais, sentimo-nos perdidos, como hóspedes que “haven’t had that spirit here since 1969” (“não temos esse espírito aqui desde 1969”). A referência aponta o fim da inocência hippie, engolida por paranoia e materialismo.
O refrão seduz: “Welcome to the Hotel California / Such a lovely place / Such a lovely face.” (“Bem-vindo ao Hotel California / Que lugar adorável / Que rosto encantador.”) É o convite do sistema, disfarçado de liberdade. Mas, “We are all just prisoners here, of our own device.” (“Somos todos prisioneiros aqui, de nossa própria criação.”) Somos reféns do ego – a “beast” (“fera”) que não morre, esfaqueada por “steely knives” (“lâminas de aço”), metáfora para tecnologia, consumo e vaidade.
Nestes tempos modernos, isso se reflete no jornalismo como espetáculo: manchetes sensacionalistas, fake news e debates polarizados priorizam cliques sobre verdade. O excesso do virtual nos isola; redes sociais prometem conexão, mas entregam solidão algorítmica.
Os Eagles viveram essa metáfora. O sucesso de “Hotel California” – Grammy de Gravação do Ano, 40 milhões de álbuns vendidos – foi benção e maldição. A banda ruiu em 1980, após tensões em um show em Long Beach, onde Felder e Frey trocaram ameaças. Cada um seguiu solo: Henley e Frey brilharam, mas Felder, coautor da demo, sentiu-se excluído.
Eles juraram se reunir só “quando o inferno congelasse”. Em 1994, com Hell Freezes Over, voltaram, mas o rancor persistiu. Felder foi demitido em 2001, num telefonema gélido, seguido de processos. Os Eagles, presos no próprio hotel, provaram: “You can check out any time you like, but you can never leave.” (“Você pode fazer o check-out quando quiser, mas nunca poderá partir.”) Emocionalmente capturados, ecoam nossa sociedade: ricos em bens, pobres buscando um sentido para viver.
Hoje, renunciamos a sonhos de um mundo unido. A ONU enfraquecida, guerras por recursos, navios e submarinos nucleares atravessando oceanos e desigualdades abissais mostram o colapso do ideal cooperativo dos anos 60. O individualismo reina, com “mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice” (“espelhos no teto, champanhe rosa no gelo”) mascarando vazios espirituais.
A ambiguidade da letra é genial: mission bells evocam missões coloniais – templos ou prisões? O hotel pode ser fama, vícios ou capitalismo. Para Henley, é aberto à interpretação.
Nos dias atuais, é a internet: entramos por diversão, saímos mudados, com dados capturados.
Lana Del Rey e Bruce Springsteen veem na canção o temor de ser consumido pelo que se cria. Mas a profundidade de “Hotel California” vai além, tocando em algo íntimo e universal. A música funciona como um espelho da psique, onde o viajante não é apenas um personagem, mas cada um de nós, atraído por desejos que prometem plenitude, mas entregam vazio.
O hotel califórnia que também pode ser chamado de hotel Mundo reflete nossa luta interna: a tensão entre o anseio por significado e a sedução do prazer imediato.
Psicologicamente, o hotel pode ser visto como o inconsciente, um espaço onde reprimimos verdades incômodas. A mulher na porta, com seu charme enigmático, é como uma projeção dos nossos desejos mais profundos, mas também dos nossos medos. Ela nos guia por corredores que parecem familiares, mas nos prendem em ciclos de repetição – como as rotinas digitais que nos consomem sem que percebamos.
A “fera” que resiste às lâminas de aço é mais que o ego; é a parte de nós que se agarra a ilusões, mesmo sabendo que são frágeis. Tentamos combatê-la com tecnologia, consumo ou validação externa, mas ela persiste, porque o verdadeiro confronto exige olhar para dentro. Em um mundo onde a distração é moeda, evitar esse embate é tentador, mas nos deixa presos.
O solo final, uma conversa entre as guitarras de Felder e Walsh, é quase um diálogo entre o que mostramos ao mundo e o que escondemos. É a catarse que a letra não resolve, deixando-nos com perguntas em vez de respostas. Por que continuamos voltando ao hotel, mesmo sabendo que é uma armadilha? Porque, no fundo, tememos o vazio de sair.
A genialidade de “Hotel California” reside em não oferecer saídas fáceis, mas sim em nos confrontar com nossa própria cumplicidade na prisão que erguemos.
Nesta primeira semana de agosto de 2025, quando o virtual molda identidades e o real se desfaz em likes, a canção se transforma em um convite irresistível à introspecção. Que tal revisitar “Hotel California” com ouvidos abertos, como quem desvenda um mapa para a própria alma? É hora de resgatar valores éticos, rejeitar o hedonismo estéril e buscar o eu verdadeiro, não o reflexo deformado nos espelhos do hotel.
Devemos resgatar valores éticos, rejeitar o hedonismo vazio e buscar o eu autêntico, não o reflexo distorcido nos espelhos do hotel. Muitos de nós até já esqueceram, mas nós todos temos um verdadeiro eu que assemelha-se a um espelho, dependendo de para onde está direcionado, reflete o sol ou reflete a terra. Não há meio termo.
Se não atentarmos para isso, seguiremos dançando nos corredores, incapazes de partir. Essa canção não é peça embolorada de museu; é um chamado urgente para reconquistar sonhos de paz e cooperação.
É uma chave para destrancar as portas do hotel – mas cabe a nós girá-la, antes que o labirinto nos devore por completo. Espero que meu lado psicanalista não tenha se sobreposto ao meu ofício de jornalista.
É com você, leitor.
11 de agosto de 2025


A sensação de que o mundo “perdeu o centro de gravidade” não é apenas metáfora
Uma ordem mundial fragmentada emerge diante de nós; compreender seus nove vetores de destruição é passo decisivo para resistir e reconstruir caminhos
Dando aulas por anos na disciplina de Sociologia da Comunicação e escrevendo livros sobre direitos humanos, globalização, reflexões sobre a paz mundial e economia, percebi que compreender o nosso tempo exige mais do que observar estatísticas ou ler tratados: é preciso escutar o que se diz nas frestas, perceber o que se cala nos corredores do poder.
É dessa combinação entre rigor analítico e atenção às camadas invisíveis que nascem estas reflexões — reflexões que olham para o presente não como um terreno seguro, mas como um campo inclinado, onde forças poderosas empurram o mundo para uma instabilidade mais profunda.
Nestes primeiros vinte e cinco anos do século XXI, a ONU atravessa um momento em que oportunidades e riscos se sobrepõem. A colaboração internacional nunca foi tão tecnicamente possível, mas a coordenação política que lhe daria eficácia está longe de se consolidar. A cada reunião frustrada, a cada resolução vetada, cresce o risco de que, ao invés de aproximar as nações, estejamos normalizando a fragmentação. Como já advertiu a Comunidade Internacional Bahá’í, a única saída real é que os líderes do mundo se reúnam para deliberar, com sinceridade e fervor, sobre o remédio necessário para um planeta enfermo e aflito. Nos últimos anos, no entanto, a realidade parece se afastar desse ideal.
O primeiro sintoma dessa crise é a guerra que deixou de ser exceção para se tornar parte da paisagem. Em 2024, o número de deslocados forçados chegou a 123,2 milhões, segundo o ACNUR — um recorde histórico que revela que, do leste europeu ao Oriente Médio, a violência não só persiste como se expande. Conflitos prolongados não apenas destroem cidades; eles corroem, como ferrugem, a confiança mínima entre Estados e povos.
Essa corrosão abre espaço para um segundo fenômeno: a ascensão de regimes autoritários e lideranças de matriz excessivamente ideológica.
O V-Dem aponta que 72% da população mundial já vive sob autocracias, enquanto a Freedom House registra o 19º ano consecutivo de queda global na liberdade. Sob tais governos, o dissenso é visto como ameaça, e não como combustível de uma democracia saudável. É nesse clima que floresce o extremismo político, que se retroalimenta da frustração popular: pesquisa da Edelman mostra que 40% dos entrevistados no mundo consideram legítimo empregar ações hostis para provocar mudanças — número que sobe para 53% entre os jovens.
A isso se soma o negacionismo científico, que rejeita evidências mesmo diante de provas esmagadoras. A Organização Meteorológica Mundial confirmou que 2024 foi o ano mais quente da história, com temperatura média global 1,55°C acima dos níveis pré-industriais. E ainda assim, líderes e formadores de opinião relativizam a crise climática, atrasando políticas que já deveriam estar em curso. É uma escolha consciente: transformar fatos em meras opiniões para proteger interesses imediatos.
Enquanto isso, o multilateralismo se enfraquece.
O Conselho de Segurança da ONU sofreu oito vetos em 2024, bloqueando respostas a crises graves. As instituições internacionais, concebidas para mediar disputas e promover soluções, estão sendo usadas como palcos para discursos, não como mesas de negociação. Esse bloqueio se articula com a desglobalização punitiva: a OMC prevê crescimento de apenas 0,9% no comércio global em 2025, em meio a guerras tarifárias que fragmentam cadeias produtivas e elevam custos. A economia, que deveria ser instrumento de integração, vira arma de retaliação.
A nova fronteira dessa disputa é o espaço digital, onde se instala o autoritarismo tecnológico.
A União Europeia aprovou o AI Act, exigindo rotulagem de conteúdos sintéticos e regras para inteligência artificial, enquanto a FCC, nos EUA, proibiu robocalls com vozes geradas por IA sem consentimento. Mas esses avanços convivem com a manipulação algorítmica, que distorce o debate público e concentra poder em poucas empresas e governos.Ao mesmo tempo, cresce a financeirização da crise. O Programa Mundial de Alimentos alerta que, sem reposição orçamentária, 58 milhões de pessoas enfrentarão fome extrema em 2025. Paradoxalmente, desde 2020, os cinco indivíduos mais ricos do planeta dobraram suas fortunas, segundo a Oxfam.
A desigualdade não é mais um subproduto da economia; tornou-se seu motor perverso.
Em paralelo, assistimos à reconfiguração de fronteiras por fatos consumados. A anexação ilegal de territórios e a expansão acelerada de assentamentos na Cisjordânia minam as bases de qualquer solução negociada. Cada metro quadrado ocupado sem acordo é uma pá de cal sobre a ideia de que o direito internacional possa prevalecer sobre a força.
Esses nove movimentos — guerra crônica, autoritarismo, extremismo, negacionismo, paralisia do multilateralismo, desglobalização, controle digital, financeirização da crise e redesenho territorial — não agem isoladamente. Eles se conectam e se reforçam.
Vou desenhar, embora não seja um bom desenhista. Vamos lá:
A guerra alimenta o autoritarismo; o autoritarismo sustenta o negacionismo; o negacionismo bloqueia a ação climática; a crise climática provoca deslocamentos; o deslocamento pressiona sistemas já enfraquecidos; a desigualdade amplifica tensões; a ausência de mediação internacional perpetua tudo isso. É um círculo vicioso que acelera.
Para você que me lê, pode parecer que estamos descrevendo uma distopia distante, mas esses fenômenos já tocam a vida cotidiana: nos preços do supermercado, nas notícias filtradas pelo celular, na polarização das conversas, na fragilidade dos empregos, na dificuldade de se confiar na próxima década.
A sensação de que o mundo “perdeu o centro de gravidade” não é apenas metáfora — é um diagnóstico baseado em dados, cruzados com a experiência de quem acompanha, há décadas, a lenta e perigosa desconstrução das bases da convivência internacional.
Ainda assim, o quadro não é irrevogável.
O mesmo mundo que criou sistemas de cooperação global é capaz de reinventá-los. Isso exige enfrentar o imediatismo, reconstruir a confiança no diálogo e recolocar ciência, ética e solidariedade no centro das decisões. O jornalismo, a diplomacia e a ação cidadã têm papéis complementares nesse esforço.
Se não agirmos agora, com clareza e coragem, não será apenas a ordem internacional que se desfará — será a própria capacidade de imaginar um futuro compartilhado.
10 de agosto de 2025


Série da Globo em seu louvor confirma que quem paga o baile escolhe a música
Cem anos de O Globo: a minissérie da TV Globo adoça as sombras da história, elevando Marinho a santo de papel, silenciando pactos com ditadores e dissipando rivais como Chateaubriand em névoas esquecidas
Nas comemorações dos cem anos do jornal O Globo, a TV Globo desdobra a minissérie documental “O Século do Globo”, guiada pela mão de Pedro Bial.
Quatro episódios em horário nobre, prometendo uma viagem pelo caminho do veículo que plantou as raízes do império. Mas assisti-la é como atravessar um rio de mel, onde a paciência se afoga no excesso de elogios que ecoam como ecos em uma catedral vazia.
Jornalistas e editores, velhos como árvores antigas e jovens como brotos tenros, alternam-se para tecer uma tapeçaria edulcorada, onde cada alma parece aspirar à auréola.
A bajulação a Roberto Marinho evoca aqueles velhos retratos soviéticos, onde o revisionismo histórico pintava com pinceladas grossas, transformando abismos em colinas suaves, e os baixos em picos disfarçados.
A narrativa escolhe um só lado do espelho, ignorando o reflexo sombrio que pede contraponto. Apresenta Marinho como um visionário que, qual fênix, ergueu das cinzas um jornal falido em um império de vozes e imagens que moldou o espírito brasileiro.
No entanto, cala-se sobre as amizades com ditadores militares, fios invisíveis que ligavam o patriarca a Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Benefícios estatais choviam como chuvas generosas, concessões que fertilizavam o grupo, enquanto ministros como Jarbas Passarinho e Armando Falcão dançavam na mesma roda, trocando favores por coberturas que brilhavam como ouro falso.
Menciona de leve que tinha até comunistas seus “de estimação”, numa época em que ser comunista era carregar nas costas um alvo, mas evita mergulhar nas águas profundas de como o conglomerado floresceu sob o regime, com subsídios que brotavam como raízes famintas e monopólios que se estendiam como véus opacos.
É um revisionismo que veste luvas de seda, humanizando controvérsias sem as encarar nos olhos. Críticos se embolam em contorcionismos que justificam o apoio à ditadura, convertendo subserviência em mera astúcia de sobrevivência.
Omissões gritam como ventos noturnos: o alinhamento com interesses capitalistas, a oposição feroz a Getúlio Vargas, o aplauso ao golpe de 1964 que abriu portas para censuras e propagandas que pairavam como fantasmas sobre a nação. A produção suaviza o papel na ditadura, soando como um hino interno, e ignora escândalos tributários que manchavam o império como tinta derramada.
Inevitáveis, os paralelos com “Cidadão Kane” surgem, onde o poder da mídia se entrelaça com manipulações sutis, mas aqui o colaboracionismo com autoritarismos é varrido para cantos escuros, como poeira sob tapetes tecidos de memórias seletivas.
A minissérie falha em sonhar: como seria o Brasil sem a Globo tecendo as narrativas, sem seu fio invisível determinando o desfecho dos anseios coletivos?
Nenhuma palavra sobre o “rei da imprensa”, Assis Chateaubriand, esse espectro nordestino que revolucionou a mídia antes que a Globo despontasse como aurora.
Nascido na Paraíba em 1892, Chatô superou uma gagueira que o prendia como correntes, transformando-se em orador de fogo, visionário implacável. Fundou os Diários Associados, o maior conglomerado da América Latina, com jornais que se multiplicavam como folhas ao vento, rádios que ecoavam vozes distantes e revistas que capturavam o espírito da época.
Sua ambição o levou a criar aeroclubes, fomentando a aviação em terras de estradas esburacadas, onde o céu se tornava estrada.
Em 1950, acendeu a primeira chama da televisão brasileira com a TV Tupi, importando máquinas e treinando almas do nada, democratizando imagens que dançavam nas salas de milhões.
Não parou: ergueu o Museu de Arte de São Paulo (Masp), caçando obras-primas com artimanhas controversas, pressionando empresários a “doar” em troca de favores que cheiravam a chantagem midiática.
Sua irreverência culminou em 1948, quando, em Londres, condecorou Winston Churchill com a Ordem do Jagunço, uma honraria inventada com o tempero do Nordeste. Após comprar um quadro pintado pelo ex-primeiro-ministro, Chatô vestiu-o com gibão de couro e chapéu de cangaceiro, batendo três vezes nas costas com uma peixeira de cabo dourado, proclamando: “Eu vos armo comendador da valorosa Jerarquia do Nordeste do Brasil”.
A cena, mistura de diplomacia excêntrica e teatro das sombras, revelava o estilo de Chatô – um caldeirão de genialidade e autoritarismo que moldou a imprensa como um artesão molda o barro.
Cinco minutos para Chatô seriam como uma gota de justiça em um oceano de silêncios, mas o vazio reforça o monopólio da Globo, apagando rivais que prepararam o solo para sua própria ascensão, como ventos que antecedem a tempestade.
Nem tudo se perde do inventário do tempo: a série reluz com inovações tecnológicas, visuais que cortam como lâminas afiadas, arquivos que desenterram memórias e depoimentos dos herdeiros Marinho, carregados de emoção – genuína ou ensaiada – que flui como o talento inerente ao grupo. Mas tudo muito seletivo, como só podíamos esperar.
Um ponto alto foi a recriação da redação do jornal O Globo na metade do século passado, evocando o frenesi de máquinas de escrever e o aroma de tinta fresca em um tempo de transformações.
Outro brilho vem do reacionário e genial Nelson Rodrigues, um dos poucos pontos altos da série, com sua prosa afiada que cortava como navalha as hipocrisias da sociedade. O resgate da crônica e da famosa peça teatral “O beijo no asfalto” merece registro.
Contudo, o olhar étnico-racial é raso para um século inteiro: como os negros dançavam nas páginas e telas?
Quantos subiram além de Grande Otelo e uns poucos eleitos?
Hoje, 2 de agosto de 2025, o Jornal Nacional com apresentadores negros, radiantes e afiados, é como um bálsamo para os olhos, mas por que tanto tempo para admitir que nossa tapeçaria não é tecida só de fios brancos, de classe média alta, masculinos e ricos?
Em eras de IA e redes sociais, onde a verdade se fragmenta como espelhos quebrados, essa série reflete como as mídias antigas reescrevem o passado para ancorar o presente.
O jornalismo deve questionar, não erguer altares. O centenário pedia mais autocrítica, menos fogos de artifício, até porque estamos ainda bastante longe do réveillon.
Todo o esforço da Globo foi para deixar claro sem ser evidente que quem paga o baile escolhe a música – e os dançarinos escolhidos a dedo que a acompanham.
03 de agosto de 2025


Musk, a megalomania e a maldição do ‘X’
As mentiras que parecem verdades sobre Elon Musk desabam, expondo relações tóxicas com a política e o preço de sua ambição desmedida1
Na era das narrativas fabricadas, poucos mitos resistem tanto quanto o de Elon Musk como o gênio solitário por trás de impérios tecnológicos. Mas vamos aos fatos, sem o verniz da propaganda midiática: Musk não fundou PayPal, Tesla ou mesmo a SpaceX no sentido pleno. É puro branding, uma mentira meticulosamente construída e judicialmente imposta.
O PayPal surgiu das mentes de Peter Thiel, Max Levchin e outros, na Confinity. Musk entrou via fusão com sua X.com, mas foi demitido antes do lançamento oficial. Anos depois, processou para ser retroativamente rotulado como “fundador”. Uma vitória legal, não criativa.
Na Tesla, Martin Eberhard e Marc Tarpenning incorporaram a empresa em 2003; Musk só apareceu em 2004, liderando o financiamento. Novamente, um processo em 2009 garantiu-lhe o título de cofundador, apesar de não ter inventado os carros elétricos nem suas tecnologias centrais.
A SpaceX é o caso mais próximo: Musk a fundou em 2002, mas dependeu de engenheiros como Tom Mueller — o verdadeiro arquiteto dos sistemas de propulsão —, contratado como funcionário número um. Musk trouxe capital e visão; o resto é expertise alheia.
Ele não é cientista de foguetes, mas um capitalista astuto que alavanca litígios e mídia para reescrever a história.
Agora, adicione a tóxica aliança política com Donald Trump, e o castelo desaba.
Desde que Musk flertou com o trumpismo — e o subsequente rompimento, em junho de 2025 —, suas fortunas despencaram. As ações da Tesla caíram 24% no ano até julho, com um tombo de 8% após resultados fracos no segundo trimestre, evaporando bilhões em valor de mercado. Vendas globais enfraquecem na Europa e na China, onde sua postura política é veneno.
O patrimônio de Musk, que atingiu picos de US$ 406 bilhões, derreteu com perdas de até US$ 20 bilhões em um único dia, caindo para cerca de US$ 351 bilhões. Investidores clamam por nova governança; assembleias são adiadas, executivos fogem, processos judiciais se avolumam.
O mercado esperneia: alinhar-se à instabilidade autoritária troca confiança por caos. Musk calculou mal; interpretou errado a paciência global com bilionários brincando de política. Sua “cidadania” como inovador? Comprada com dinheiro e manipulação. Renomeemos Trump de “Sleprock”, o Sr. Má Sorte: quem se aproxima perde fortunas e leva facada nas costas. No ano que vem, Trump negará conhecer Musk.
Pesquise os processos e cronogramas — fatos superam ficção. Musk não é herói; é mito inflado, agora deflacionando sob o peso da realidade.
Vivemos em uma quadra da história em que muitas mentiras se apresentam como verdades absolutas, e o cinismo chega ao ponto de decretarmos uma era de “pós-verdade”, em que fatos são maleáveis e narrativas prevalecem sobre evidências. Esses são sinais evidentes da convulsão mental que sacode a geopolítica e a economia mundial, fomentando instabilidades que derrubam impérios construídos sobre areia movediça, como vemos em alianças políticas voláteis e bolhas econômicas que explodem ao menor escrutínio.
A extensão desse fenômeno ecoa no acaso — ou seria destino? — do outrora bilionário Eike Batista, cujas empresas sempre ostentavam o “X” como marca de multiplicação: EBX, OGX, MMX, OSX e outras, erguidas entre 2004 e 2012 com aberturas de capital bilionárias. Sua ascensão o tornou o homem mais rico do Brasil, com fortuna acima de US$ 30 bilhões, mas o colapso veio em 2013, quando a baixa produtividade da OGX levou a falências em cascata, recuperação judicial e perdas gigantescas.
Seria mera coincidência que o “X” marque essas duas situações de alto risco econômico, unindo Batista e Elon Musk em narrativas de ambição desmedida — um já com a queda espetacular e o outro a caminho disso?
https://www.brasil247.com/blog/musk-a-megalomania-e-a-maldicao-do-x
29 de julho de 2025


"Jornalixo" calunia, desinforma, atrapalha resgates e manipula eleições
O velho sensacionalismo e a cultura da desinformação sabotam a verdade, minam democracias e transformam tragédias em espetáculo digital
Em um mundo dominado por cliques e curtidas, o jornalismo autêntico cede espaço ao “jornalixo” – uma prática que desrespeita a ética e a técnica, transformando informação em espetáculo descartável. Acelerado pela era digital, esse fenômeno converte redações em máquinas de sensacionalismo, desinformação e manipulação, priorizando engajamento nas redes sociais em detrimento da verdade.
Plataformas como X e WhatsApp amplificam mentiras que distorcem fatos, alimentam divisões e ameaçam democracias, tornando a checagem de fatos um luxo e a verdade, opcional.
No Brasil, a cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul em maio de 2024 exemplifica o problema: emissoras exibiram o sofrimento ao vivo, transformando tragédias em shows dramáticos, enquanto boatos sobre saques e manipulação de barragens, impulsionados por vídeos antigos, atrapalharam resgates e doações.
Internacionalmente, manchetes alarmistas sobre a gripe aviária H5N1 em leite pasteurizado nos EUA, em abril de 2024, ignoraram evidências científicas de segurança, gerando pânico por cliques.
A falta de apuração alimenta fake news, agravada por IA e deepfakes. Em 2022, o mito do Ghost of Kyiv na Ucrânia viralizou como fato, enquanto a explosão de um míssil na Polônia, no mesmo ano, foi precipitadamente atribuída à Rússia, inflamando tensões globais.
No Brasil, boatos de fraude nas eleições de 2022, desmentidos por TSE e OEA, minaram a confiança no sistema eleitoral, culminando nas tentativas de golpe de janeiro de 2023.
Vídeos do jogo “Arma 3” circularam como “provas” de combates reais no conflito Israel-Hamas em 2023, enganando milhões.
Conteúdos tendenciosos distorcem fatos para agendas políticas ou comerciais. Em 2022, a Jovem Pan apoiou narrativas bolsonaristas, enquanto a Fox News, em 2023, minimizou evidências contra Trump.
Um robocall com voz de IA imitando Joe Biden, em janeiro de 2024, tentou suprimir votos nas primárias de New Hampshire, evidenciando a manipulação eleitoral.
A invasão de privacidade também marca o “jornalixo”. Em Brumadinho (2019) e nas enchentes do RS, imagens sensíveis foram exploradas sem consentimento. Tabloides britânicos, em 2020, violaram dados no caso Madeleine McCann por cliques.
A linguagem agressiva, como a de apresentadores que rotulam suspeitos ou atacam minorias, degrada o debate público.
O “jornalixo”, herdeiro do jornalismo marrom, prospera em escândalos e fofocas, com sites explorando a vida de celebridades e o TMZ amplificando rumores.
Esse ciclo, potencializado por redes sociais e IA, desinforma, atrapalha resgates e manipula eleições.
Exige regulação urgente – multas, transparência algorítmica e educação midiática – para restaurar a ética e proteger a verdade em um cenário de desinformação digital.
28 de julho de 2025


De 8 de janeiro a 2025: do caos interno às sanções externas contra os três poderes
Ataque visceral interno vira ofensiva externa contra Planalto, STF e Congresso
Em 8 de janeiro de 2023, o Brasil presenciou um ato de barbárie que abalou a democracia como um soco no estômago. Extremistas de direita, incitados por retórica golpista, invadiram e devastaram as sedes dos Três Poderes: Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF.
Foi um ataque interno visceral, por brasileiros contra o cerne institucional da nação. Vidraças quebradas, móveis destruídos, obras de arte violadas – emblemas de uma pátria saqueada por filhos insatisfeitos. Marcou o clímax de polarização fermentada há anos, com Jair Bolsonaro acusado de incitação central.
Vestidos em verde-amarelo distorcido, os invasores não só vandalizaram edifícios; tentaram demolir a República, contestando urnas e democracia. Uma ofensiva doméstica, com odor de pólvora e caos, que demandou forças de segurança, prisões e inquéritos.
Agora, em 25 de julho de 2025, o drama persiste, mas insidioso e global. De Miami, um deputado autoexilado – foragido da justiça brasileira – lança ameaça: presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta, enfrentarão sanções americanas, proibidos de entrar nos EUA, como os oito dos onze ministros do STF, rotulados pela Casa Branca como riscos à democracia na semana passada.
26 de julho de 2025


Silvério dos Reis continua assombrando a sociedade brasileira
Silvério dos Reis e traidores modernos vendem a pátria por impunidade, enquanto Tiradentes inspira um patriotismo ético, unindo humanidade por justiça, soberania e futuro compartilhado
Imagine um parlamentar brasileiro, em uma sala discreta de Washington, dialogando com um alto oficial americano: “Imponham sanções econômicas ao meu país, revoguem vistos de nossos juízes, apliquem tarifas de 50% nas exportações. Em troca, garantam impunidade para mim e minha família perante o STF”. Sem pestanejar, ignora os danos a 216 milhões de brasileiros, como perdas bilionárias na agricultura e mineração.
Esse ato, que fere a soberania nacional, encontra eco no Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940), que define, na Parte Especial, Título I, Capítulo I (Dos Crimes Contra a Segurança Nacional), condutas como traição à pátria. O Artigo 355, por exemplo, criminaliza “levantar-se em armas ou praticar atos de hostilidade contra o Brasil, com o objetivo de submetê-lo ao domínio ou soberania de outro país”.
Dante Alighieri, na “Divina Comédia”, reservou o círculo mais profundo do Inferno aos traidores, simbolizando o abismo moral de quem vende a própria terra por ganho pessoal. Maquiavel, em “O Príncipe”, via a astúcia e a traição como ferramentas para conquistar o poder, mas advertia sobre suas consequências devastadoras para a estabilidade estatal. Essa negociação fictícia, inspirada em fatos reais, expõe a traição à pátria como uma falha de caráter profunda, que negocia soberania por salvação pessoal, configurando-se como um delito grave previsto na Constituição Federal do Brasil e no Código Penal Brasileiro.
Grandes pensadores condenaram esse delito como uma ferida que corrói o tecido social. Cícero alertava que uma nação resiste a tolos e inimigos externos, mas sucumbe à perfídia interna, que dissolve a confiança e os laços de lealdade. A traição não é apenas um ato; é a negação da ética coletiva, um veneno que fragiliza a nação, especialmente quando atenta contra a segurança nacional.
Joaquim Silvério dos Reis encarna essa infâmia histórica. Mergulhemos um pouco mais na história: no século XVIII, durante a Inconfidência Mineira, o coronel endividado delatou conspiradores, como Tiradentes, à Coroa portuguesa, frustrando sonhos de independência por favores fiscais. Sua escolha, movida por egoísmo, não foi erro, mas crime de lesa-pátria, sacrificando a soberania nascente sem medir o impacto no povo — uma conduta que, hoje, poderia ser enquadrada no tipo penal já mencionado.
Nessas últimas semanas, traidores modernos, sob o véu de ideologias extremistas, articulam abertamente com potências estrangeiras, vangloriando-se em lives nas redes sociais. Eles barganham instituições judiciárias e econômicas, expondo o país a sanções devastadoras por impunidade pessoal, em ações que podem ser interpretadas como crimes contra a segurança nacional. Silvério exemplifica o oportunista calculista: sua delação em 1789 selou o enforcamento de Tiradentes, ignorando o bem comum. Relatórios da Transparência Internacional apontam que medo e vaidade movem traidores, priorizando autopreservação e fragilizando nações.
No mundo globalizado, ideologias radicais mascaram essas ações. Traidores aliam-se a rivais estrangeiros, fomentando divisões e sabotando a confiança no estado democrático, em práticas que desafiam a soberania do país.
Mas o que separa o patriotismo que eleva daquele outro que corrompe? O patriotismo sectário, inflamado por ódio e superioridade, transforma amor à pátria em arma contra o “outro”, erguendo barreiras e alimentando conflitos. Já o patriotismo saudável é inclusivo, voluntário, nutrido por valores éticos que promovem justiça social e respeito mútuo, rejeitando xenofobia e ufanismo cego.
Freud diria que o traidor sucumbe ao ego, sacrificando o superego ético. Falhas educacionais, como aponta a Unesco, nutrem esse individualismo radical, amplificado pelas Big Techs, que burlam legislações em nome da lei da selva. Viktor Yanukovych, ex-presidente ucraniano, fugiu para a Rússia em 2014, alegando pró-eslavismo. Negociou com Moscou para escapar de acusações de corrupção, pavimentando intervenções militares e expondo seu povo a conflitos infindáveis.
No Brasil atual, um parlamentar de oposição, movido por extremismo de direita, articula sanções americanas contra o judiciário, pressionando por revogação de vistos de juízes do STF e tarifas de 50% em exportações, sob o pretexto de combater “autoritarismo”. Busca proteção contra processos por desinformação, beneficiando familiares, enquanto fomenta instabilidade que ameaça bilhões em perdas econômicas. Ele alega patriotismo, mas age com delinquência, vendendo soberania por salvação pessoal, como Silvério, ignorando danos coletivos irreparáveis.
Traição é a antítese da paixão que edifica nações. Heróis como Tiradentes inspiram integridade contra delações. Jornalistas e ativistas desmascaram traidores, preservando narrativas autênticas. Se o planeta fosse uma única pátria, o patriotismo saudável seria a corrente que une a humanidade, promovendo sustentabilidade, direitos universais e paz coletiva. Longe de supremacias, esse patriotismo, que chamo de são, inspiraria responsabilidade global, conectando povos num compromisso ético com um futuro harmonioso e sustentável.
Voltemos rapidamente a este momento da história: o Brasil rejeita novos Silvérios. Precisa de Tiradentes para unir pela soberania. Rejeitemos barganhas que vendem o futuro nacional por impunidade. Esse é, a meu ver, a maneira racional de pararmos de cavar o abismo que pode se alargar diante dos nossos pés.
23 de julho de 2025


Revolução silenciosa dos invisíveis que fazem a diferença
Em um mundo corroído pela indiferença, 'Abdu'l-Bahá, Mohamed Mashali e Peter Tabichi emergiram como raízes profundas de humanidade - três homens que transformaram a doação em ato de insurreição silenciosa contra a aridez de nosso tempo
Num mundo onde o tempo corre e o egoísmo muitas vezes dita o compasso, há quem escolha caminhar contra a corrente, carregando a chama da generosidade. No Egito, sob um sol que parece queimar até os sonhos, o Dr. Mohamed Mashali (1944-2020), aos 80 anos, atravessava ruas poeirentas rumo à sua modesta clínica.
Sem carro, sem celular, apenas com um coração imenso, ele atendia filas de rostos sofridos. Cada consulta custava menos de um dólar, e muitas vezes ele abria mão até disso, pagando remédios do próprio bolso. Conhecido como o “médico dos pobres”, Mashali viveu por mais de 50 anos com quase nada, recusando fama e fortuna, mas jamais um paciente. Sua vida mudou para sempre quando um menino diabético, desesperado por não querer ser um fardo para a família faminta, ateou fogo em si mesmo.
A dor daquele garoto, que morreu em seus braços, tornou-se um juramento: dedicar-se aos que nada tinham. Até seus últimos dias, em 2020, mesmo com a saúde frágil, ele cumpriu essa promessa, deixando um legado que hoje brilha em murais na Síria e no Marrocos.
Em um canto remoto do Quênia, onde a pobreza engole esperanças e a eletricidade é um luxo, Peter Tabichi (1982-vivo), um monge franciscano de 36 anos, escolheu ser luz. Em uma escola com 58 alunos por sala, um único computador e internet precária, ele transformou o ensino de matemática e física com criatividade e compaixão.
Seus estudantes, muitos órfãos que caminham sete quilômetros para estudar, venceram competições nacionais de ciências e chegaram a uma feira de engenharia nos Estados Unidos. Peter doa quase todo o seu salário aos pobres, promove a paz entre tribos outrora divididas e empodera alunos cegos.
Quando recebeu o Global Teacher Prize, com seu milhão de dólares, ele já sabia: o dinheiro voltaria para sua vila, para erguer futuros. “Este prêmio é para a juventude da África”, disse, com um sorriso sereno, vestindo seu simples hábito franciscano.
Em 'Akká, no coração de um exílio imposto pelo Império Otomano, ‘Abbas Effendi, conhecido como ‘Abdu’l-Bahá (1844-1921), transformou prisões em fontes de esperança. Sob a vigilância de guardas e o peso de décadas de confinamento, ele, aos 77 anos, carregava um coração que não conhecia limites.
Sem riquezas, sem liberdade plena, apenas com uma fé inabalável no serviço, ele acolhia peregrinos, pobres e doentes, compartilhando o pouco pão que tinha. Conhecido como o “Mestre de 'Akká’”, ele viveu para os outros, recusando honrarias, mas jamais um necessitado. Sua vida mudou ainda jovem, quando, aos 8 anos, testemunhou a prisão de sua família por suas crenças bahá’ís, jurando dedicar-se aos esquecidos.
Em Bagdá, ele cuidava de órfãos, oferecendo-lhes comida e abrigo; em Haifa, distribuía mantimentos aos famintos nas ruas, muitas vezes tirando do próprio prato. Durante a Primeira Guerra Mundial, quando a fome devastava a Palestina, ele organizou a distribuição de grãos armazenados, salvando milhares de vidas, independentemente de credo, raça ou origem. Ele visitava leprosos rejeitados, levando-lhes conforto e dignidade, e consolava prisioneiros com palavras que reacendiam a esperança.
‘Abdu’l-Bahá promovia a unidade entre religiões, reunindo muçulmanos, cristãos e judeus em diálogos de paz, desafiando séculos de divisão. Em suas viagens ao Ocidente, entre 1911 e 1913, ele falava a multidões sobre igualdade racial e justiça social, abraçando os marginalizados, como os afro-americanos nos Estados Unidos, em tempos de segregação. Mesmo exausto, ele caminhava pelas vilas, atendendo a cada alma que o procurava, do mendigo ao erudito, com o mesmo amor.
Quando líderes o convidavam para banquetes, ele preferia os humildes, compartilhando seu tempo e consolo. “A verdadeira felicidade está em servir”, dizia, com um sorriso sereno, vestindo sua túnica simples. Até seus últimos dias, em 1921, com a saúde fragilizada, ele continuou servindo, deixando um legado que ecoa em comunidades bahá’ís e além, inspirando milhões a viver para o outro.
Mashali, Tabichi e ‘Abdu’l-Bahá, separados por continentes e eras, são unidos por uma verdade eterna: generosidade é resistência. Eles viram a dor – a do menino que se foi, a dos alunos esquecidos, a dos exilados famintos – e escolheram transformá-la em pontes para a esperança.
A generosidade não precisa de grandes gestos; é o pão dividido, o tempo doado, a mão estendida.
É o médico que paga pelo remédio, o professor que ensina a sonhar, o servo que alimenta os famintos. Suas histórias nos desafiam: o que oferecemos ao mundo? Num tempo de divisões, eles nos mostram que a verdadeira riqueza não se acumula, mas se compartilha. Possam seus legados – pintados em murais, gravados em corações ou ecoados em atos – nos inspirem como bússolas para o bem viver, a dar sem esperar, a viver para o outro. Porque, no fim, é isso que nos faz humanos.
21 de julho de 2025


População vem sendo educada sobre democracia, soberania e Estado de Direito
A trama golpista transforma crises em lições, popularizando conceitos jurídicos e fortalecendo a cidadania na defesa do Estado Democrático de Direito no Brasil
A ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado no Brasil, deflagrada em 2022 e culminada em 8 de janeiro de 2023, transformou-se em uma aula de educação democrática da cidadania. Conceitos jurídicos e de ciência política, antes restritos a tribunais e academias, agora ecoam em conversas nas ruas, redes sociais e programas de TV.
A cobertura midiática da trama golpista tornou o cidadão comum um debatedor de temas como Estado Democrático de Direito, golpe de Estado versus sua tentativa, e institutos como prisão cautelar e anistia, fortalecendo a consciência sobre os pilares da democracia.
O Estado Democrático de Direito, alicerce da Constituição de 1988, é hoje entendido como o sistema que assegura liberdades individuais, separação dos poderes e eleições livres. Reportagens sobre a invasão dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, explicam como Judiciário, Legislativo e Executivo devem operar em harmonia. Nas redes, cidadãos discutem como os acampamentos bolsonaristas de novembro de 2022 violaram esse equilíbrio, aprendendo que a democracia exige instituições robustas.
A soberania de um Estado, país ou nação é a autoridade suprema para governar-se, decidir suas leis e exercer poder sem interferência externa, garantindo autonomia política, territorial e jurídica. Como ameaçada pela trama golpista, tem ecoado por todo o país, principalmente após o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros destinados aos Estados Unidos, em decisão de Donald Trump.
A distinção entre golpe de Estado (artigo 359-L do Código Penal) e tentativa de golpe (artigo 14, inciso II, do Código Penal) ganhou clareza. O golpe, que implica ruptura institucional consumada, como a tomada de poder, não ocorreu. Já a tentativa, punida com igual severidade, envolve atos preparatórios, como o plano de 24 de dezembro de 2022 para explodir um caminhão-tanque no Aeroporto JK. Formadores de opinião do mundo jurídico, como Augusto de Arruda Botelho, explicam que intenção e atos concretos, mesmo não consumados, configuram crime grave.
Prisão cautelar e prisão preventiva tornaram-se termos familiares. A prisão cautelar, usada para proteger a investigação, como a de George Washington Sousa em dezembro de 2022, é temporária e visa evitar interferência no processo. A prisão preventiva, aplicada a investigados do 8 de janeiro, é decretada quando há risco de fuga ou reiteração criminosa, como no caso de militares acusados, como o general Braga Netto.
A PGR justificou essas medidas para garantir a ordem pública, educando o público sobre seu caráter de excepcionalidade.
O instituto da anistia, debatido em propostas para os invasores do 8 de janeiro, também entrou no vocabulário popular. Anistia é o perdão legal de crimes, extinguindo punições.
No Brasil, a Lei de Anistia de 1979, durante a transição da ditadura militar (1964-1985), beneficiou opositores e agentes do regime, mas é criticada por não responsabilizar torturadores. Discussões atuais questionam se anistiar manifestantes desarmados minimiza a gravidade da trama golpista, ensinando que anistia exige equilíbrio entre reconciliação e justiça.
Diplomação e posse dos eleitos, alvos da conspiração, são agora melhor compreendidos. A diplomação, realizada pelo TSE em dezembro de 2022 para Lula e Alckmin, oficializa o resultado eleitoral, conferindo legitimidade jurídica. A posse, em 1º de janeiro de 2023, marca o início do mandato. A conspiração buscava impedir ambos, destacando sua importância para a continuidade democrática.
Imunidade parlamentar versus impunidade também é debatida. A imunidade protege deputados e senadores por opiniões e votos, mas não por crimes comuns, como os de parlamentares investigados no STF por apoio ao golpe. O foro privilegiado no STF, que julga políticos, como os 38 acusados, incluindo figuras do governo anterior, esclarece que autoridades não estão acima da lei.
O funcionamento do STF e suas duas turmas – cada uma com cinco ministros, exceto o presidente – é outro tema popularizado. As turmas julgam casos como os da trama golpista, enquanto o plenário decide questões constitucionais. A relatoria de Alexandre de Moraes, alvo do plano de assassinato, reforça o papel do STF na defesa da democracia.
Outros conceitos transbordam para o cotidiano. O TSE, antes apenas “contador de votos”, é reconhecido por validar eleições e combater desinformação, como as fraudes alegadas em 2022.
A ABIN, acusada de operar uma estrutura paralela no governo Bolsonaro, é tema de programas que detalham seus desvios. A PRF, por bloquear estradas em novembro de 2022, ilustra abusos de autoridade.
O Direito Militar esclarece como oficiais, como os generais Augusto Heleno e Walter Braga Netto e o tenente-coronel Mauro Cid, dentre outros tantos, são julgados por quebra de hierarquia.
A delação premiada, como a de Mauro Cid, que revelou detalhes da trama, é debatida em rodas de conversa. O público entende que acordos trocam informações por redução de pena, mas exigem consistência, como nas contradições de Cid.
Prazos processuais e o papel da PGR, sob Paulo Gonet, e da AGU, sob Jorge Messias, que reteve passaportes de investigados, mostram o equilíbrio entre acusação e defesa.
Essa educação democrática da cidadania, amplificada por jornalistas como Leonardo Attuch e Renato Rovai e juristas como Pedro Serrano e Marco Aurélio de Carvalho, é um efeito colateral positivo. Termos como “subversão do Direito Eleitoral” deixaram de ser jargões.
Hoje, cidadãos discutem como a desinformação ameaça a democracia, fortalecendo a vigilância pública. Dedicarei algumas palavras para expor cronologicamente os eventos principais que suscitaram a democratização midiática do "juridiquês" atrelado à trama golpista:
30 de outubro de 2022: Lula é eleito presidente. Alegações infundadas de fraude, incentivadas por Bolsonaro, desencadeiam protestos.
Novembro de 2022: Acampamentos bolsonaristas em quartéis pedem intervenção militar, sinalizando escalada golpista.
12 de dezembro de 2022: Manifestantes tentam invadir a Polícia Federal em Brasília após prisão de um indígena por incitação à violência.
24 de dezembro de 2022: George Washington Sousa é preso por planejar explodir um caminhão-tanque no Aeroporto JK; Investigações revelam um plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, com participação de militares.
8 de janeiro de 2023: Milhares invadem o Congresso, Planalto e STF, depredando símbolos da democracia; O STF instaura processos contra 38 pessoas, incluindo os generais Heleno e Braga Netto, acusados de integrar núcleos golpistas; No Congresso, PECs reformam o artigo 142 para evitar interpretações golpistas. Propostas de anistia aos invasores geram debates sobre impunidade.
Julho de 2025: A PGR pede até 43 anos de prisão para Bolsonaro. A AGU, com medidas como retenção de passaportes, protege a investigação.
A trama golpista forja a sociedade numa bigorna de tensões, moldando-a para decifrar os alicerces da democracia. Um sociólogo observou: processos midiáticos são lâminas que dissecam o autoritarismo, convertendo turbulências em clareza perene. Concordo inteiramente.
22 de julho de 2025


Espiritualidade embalada para viagem e vendida em doze vezes
A espiritualidade virou produto de luxo nas prateleiras do capitalismo digital — mas o que se perde quando o sagrado é reduzido a algoritmo, cristal e assinatura mensal?
Uma mulher, esgotada pelo caos da metrópole, desembarca em um resort de luxo em Bali. Por US$ 5 mil, ela comprou um “retiro espiritual” de sete dias, prometendo “paz interior” embalada em smoothies veganos, yoga ao amanhecer e meditações guiadas por um influencer com milhões de seguidores. O pacote inclui uma “limpeza energética” e uma pulseira de cristais que, segundo o site, “alinha a aura”.
No final, ela recebe um certificado de “despertar” e uma assinatura de um app de meditação. De volta à rotina, sente um vazio estranho, como se tivesse comprado um produto com prazo de validade. Bem-vindos ao mercado das almas, onde a espiritualidade é empacotada, precificada e vendida como um item de prateleira.
A espiritualidade, antes um caminho de introspecção e conexão com o transcendente, foi sequestrada pela lógica do capitalismo digital. Vivemos a era da mercantilização da alma, onde a busca por sentido vira mercadoria. O mercado global de bem-estar, que inclui aplicativos de meditação, retiros de luxo e produtos “espirituais”, movimenta bilhões.
Relatórios recentes apontam que o setor de apps como Headspace e Calm já ultrapassa US$ 2 bilhões, com crescimento anual de 20%. No Instagram, gurus de autoajuda com sorrisos perfeitos vendem cursos de “transformação pessoal” por R$ 999,90 em 12 vezes. Retiros em cenários exóticos cobram fortunas por experiências que misturam práticas ancestrais com o conforto de um spa. Até o mindfulness, prática milenar, foi reduzido a notificações de celular: “Respire agora!”.
Essa indústria lucra com uma fome profunda: o anseio por propósito em um mundo fragmentado. A modernidade, com sua correria tecnológica e solidão urbana, criou um vazio que o consumo promete preencher.
As pessoas buscam conexão, transcendência, sentido. Mas, em vez de respostas autênticas, recebem produtos: meditações de cinco minutos para “otimizar a produtividade”, colares de pedras que “irradiam energia” ou cursos que garantem “abundância” em três passos. A espiritualidade, que deveria ser um caminho de desapego, virou um item no carrinho de compras virtual. O sagrado agora é hashtag; a alma, um ativo negociável.
Contrastemos isso com uma visão de espiritualidade que defendo: um processo gratuito, universal, centrado na unidade da humanidade. Como já dizia um sábio pensador, “não permitais que desejos mundanos obscureçam vossa visão, nem que vãs imaginações vos desviem da verdade”.
A busca pelo sentido exige desapego material e compromisso com algo maior que o ego. Não é um produto à venda, mas um caminho de humildade, reflexão e serviço ao próximo. A verdadeira paz não vem de pulseiras de cristais ou retiros caros, mas de atos de amor, justiça e solidariedade que constroem um mundo mais harmonioso. A terra é um só lar, e todos nós, seus moradores, estamos interligados.
O mercado das almas prospera porque explora a vulnerabilidade humana, vendendo alívio instantâneo para anseios profundos. Mas a espiritualidade autêntica não é um download rápido, nem cabe em uma embalagem.
É um cultivo paciente, um compromisso com a verdade que transcende o consumo. Como escapar das vitrines reluzentes desse mercado? A resposta está em buscar além do balcão. Está em reconhecer que a alma não é mercadoria, mas um reflexo de algo maior, que não se vende, não se compra, apenas se cultiva com dedicação.
Nesses tempos atravessados o melhor que podemos fazer é abandonar o carrinho de compras e trilhar o caminho da verdadeira espiritualidade – um caminho sem preço, mas que pede tudo de nós: coração, ação e compromisso com a unidade do mundo.
20 de julho de 2025


Os perigos de uma mente sob pressão: saúde mental e decisões de alto impacto
Decisões impulsivas de Trump geram tensões globais e levantam preocupações sobre sua saúde mental e impacto político.
A liderança de uma nação carrega o peso de decisões que reverberam globalmente. Quando a saúde mental de um líder é questionada, o mundo observa com apreensão. A mente humana, epicentro do julgamento e da razão, é um instrumento delicado. Uma mente bem treinada e saudável é essencial para escolhas equilibradas, especialmente em líderes cujas decisões moldam políticas, economias e relações internacionais.
Alterações cognitivas, como confusão mental ou dificuldades de concentração, podem comprometer o livre-arbítrio, levando a escolhas impulsivas ou desconexas, que desestabilizam o tecido político e social. Um líder com clareza mental avalia cenários com lógica, pondera consequências e resiste a impulsos. Já a confusão mental pode obscurecer o discernimento, reduzindo a capacidade de exercer o livre-arbítrio de forma plena, com impactos que transcendem fronteiras.
A saúde mental de líderes globais é um tema sensível, pois decisões erráticas podem desencadear crises.
A seguir, analiso na dupla condição de jornalista e psicanalista, eventos de 2025 em ordem cronológica, destacando como a saúde mental e física pode influenciar decisões controversas do presidente Donald Trump, com ênfase na intromissão no Brasil, pretensões sobre a Groenlândia, cortes a universidades, deportações e a saída da OMS.
21 de janeiro de 2025: Tarifas e emergência na fronteira
No dia da posse, Trump declarou uma emergência nacional na fronteira com o México, citando tráfico de drogas e imigração ilegal, e anunciou tarifas de 25% sobre importações do México e Canadá, efetivadas em 1º de fevereiro. “Vamos proteger nossa economia e fronteiras com tarifas justas!”, proclamou, conforme a BBC.
A decisão sugere impulsividade sob pressão política, segundo o The Guardian. Claudia Sheinbaum reagiu: “Essas tarifas são injustas e desestabilizam a região”, segundo a Reuters. Justin Trudeau alertou: “A cooperação econômica está em risco”, conforme o The Globe and Mail.
Desde 21 de janeiro, cerca de 140.000 pessoas foram deportadas, conforme a The New York Times, embora estimativas independentes apontem 70.000, com operações em cidades-santuário, segundo a Migration Policy Institute. A escala das deportações pode refletir estresse decisório, segundo a BBC.
21 de janeiro de 2025: Saída da Organização Mundial da Saúde
Trump assinou uma ordem executiva iniciando a retirada dos EUA da OMS, alegando má condução da pandemia de COVID-19 e influência da China. “A OMS nos enganou, e ninguém explorará os EUA!”, declarou, conforme a Reuters.
Lawrence Gostin, da Georgetown University, afirmou: “Este é o dia mais sombrio para a saúde global”, segundo a The Guardian. A OMS destacou que a colaboração com os EUA salvou “inúmeras vidas”, conforme a CNN.
A decisão, tomada no primeiro dia, sugere sobrecarga mental, segundo o Financial Times. A saída exige um ano de aviso, e ações legais estão em curso, conforme a The Guardian.
25 de janeiro de 2025: Retomada do Canal do Panamá
Trump propôs retomar o controle do Canal do Panamá, desafiando tratados de 1977. “O Canal é nosso, construído com sangue americano!”, declarou no Truth Social, segundo o Washington Post.
A proposta, tão inusitada, pode indicar dificuldade em gerenciar pressões diplomáticas, conforme a BBC.
José Raúl Mulino respondeu: “O Canal é um símbolo inegociável de nossa soberania”, segundo a EFE. A OEA condenou a proposta, e protestos no Panamá denunciaram “imperialismo”, conforme a Reuters.
28 de janeiro de 2025: Interesse na Groenlândia
Trump anunciou a intenção de negociar a compra da Groenlândia, citando interesses estratégicos. “A Groenlândia é essencial para a segurança e domínio econômico no Ártico!”, afirmou, segundo a Reuters.
Mette Frederiksen rejeitou: “A Groenlândia não está à venda. É uma afronta à nossa soberania”, conforme a BBC.
A proposta, que ecoa 2019, pode refletir busca por impacto midiático sob pressão, segundo a Al Jazeera.
5 de fevereiro de 2025: Ameaça à OTAN
Trump ameaçou cortar o financiamento à OTAN, alegando que aliados “não pagam o suficiente”. “Que a Europa se defenda sozinha!”, declarou, segundo o Washington Post.
Jens Stoltenberg alertou: “A unidade da OTAN é essencial”, segundo a Reuters. Emmanuel Macron afirmou: “A estabilidade transatlântica depende de liderança racional”, conforme o Le Monde.
10 de fevereiro de 2025: Renomeação do Golfo do México
Trump propôs renomear o Golfo do México como “Golfo da América”. “Vamos honrar nossa nação!”, afirmou no Truth Social, segundo a BBC.
Juan Ramón de la Fuente declarou: “O Golfo é parte de nossa história compartilhada”, conforme a Reuters. (Mesmo assim, poucos dias depois o Google se apressou em atualizar em seu aplicativo de mapas o nome para Golfo da América!)
A proposta pode indicar busca por validação sob estresse, segundo a Al Jazeera.
26 de fevereiro de 2025: Confronto com Zelenskyy
Trump confrontou Volodymyr Zelenskyy, criticando a guerra na Ucrânia. “Resolvam isso rápido ou não terão nosso dinheiro!”, exclamou, e continuou no bate-boca televisionado do salão oval afirmando “O senhor não tem as cartas. Se continuar com essa guerra vai perder o país inteiro!” segundo o The New York Times.
Volodmir Zelenskyy respondeu: “A Ucrânia luta pelasua sobrevivência”, conforme a Reuters.
O tom sugere dificuldade em gerenciar tensões, conforme o The Guardian.
28 de fevereiro de 2025: Projeto turístico em Gaza
Trump propôs transformar Gaza em um destino turístico. “Gaza será o novo Dubai!”, disse, segundo a Al Jazeera.
Tor Wennesland, da ONU, afirmou: “É inaceitável propor turismo em meio à catástrofe”, segundo a Reuters.
A proposta sugere desconexão sob pressão, conforme a BBC.
10 de março de 2025: Tarifas à China
Trump elevou tarifas sobre produtos chineses para 145%, reduzidas para 30% em 12 de maio. “Estamos vencendo a China!”, postou, segundo o The New York Times.
Lin Jian alertou: “Essas tarifas prejudicam a todos”, conforme a Reuters.
A volatilidade pode refletir impulsividade, segundo o Financial Times.
2 de abril de 2025: Anexação do Canadá
Trump sugeriu anexar o Canadá como “51º estado”. “O Canadá será mais forte conosco!”, disse à Fox News, segundo a Reuters.
JustinTrudeau respondeu: “O Canadá é soberano, e isso é absurdo. Jamais seremos parte dos Estados Unidos!”, conforme o CBC.
15 de abril de 2025: Proposta sobre a Groenlândia
Trump reiterou, após a proposta de 28 de janeiro de 2025, a intenção de adquirir a Groenlândia, sugerindo “acordos de soberania compartilhada”. “A Groenlândia pode ser o futuro da América no Ártico!”, declarou no Truth Social, segundo o The New York Times.
Lars Løkke Rasmussen afirmou: “A soberania da Groenlândia é inegociável”, conforme a Al Jazeera.
A insistência pode indicar dificuldade em lidar com frustrações, segundo o Financial Times.
22 de maio de 2025: Confronto com Ramaphosa
Trump apresentou um vídeo falso sobre perseguição na África do Sul, usando imagens do Congo. “Expondo a verdade!”, disse, segundo o Washington Post.
Ramaphosa rebateu: “Essa desinformação insulta nossa democracia”, conforme a Al Jazeera.
A manipulação sugere estresse cognitivo, segundo a Reuters.
4 de junho de 2025: Corte de financiamento a universidades
Trump suspendeu o financiamento federal para Harvard e outras universidades, alegando “ideologias antiamericanas”. “Não financiaremos universidades que ensinam ódio à América!”, afirmou, segundo o The New York Times.
Leo Gerdén, ex-aluno, chamou a medida de “ultrajante”, conforme a The New York Times. Harvard prometeu ações judiciais, conforme a Reuters.
A decisão pode refletir impulsividade, segundo a BBC.
1º de julho de 2025: Disputa com Saoirse Ronan
Trump ameaçou revogar a cidadania de Saoirse Ronan por críticas migratórias. “Se não ama a América, que fique na Irlanda!”, postou, segundo o The New York Times.
Ronan respondeu: “Defendo a justiça, e ameaças não me silenciarão”, conforme o The Guardian.
6 de julho de 2025: Tarifas ao BRICS
No encontro do BRICS no Rio, Trump ameaçou tarifas de 10% contra o bloco por uma moeda alternativa. “Ninguém substituirá o dólar!”, afirmou, segundo a Reuters.
Lula respondeu: “O Brasil não aceita ameaças”, conforme a mídia brasileira. Ramaphosa disse: “Defenderemos nossa soberania econômica”, segundo a BBC.
9 de julho de 2025: Tarifas ao Brasil
Trump anunciou tarifas de 50% contra o Brasil, em defesa de Jair Bolsonaro, acusado de tentar um golpe em 2022. “O Brasil promove uma caça às bruxas contra um grande líder! O Judiciário deve parar a ação penal imediatamente!”, escreveu no Truth Social, segundo o The New York Times.
Lula retrucou: “O Brasil é uma democracia soberana e não aceita tutela externa”, conforme a Folha de S.Paulo. Alexandre de Moraes afirmou: “A justiça brasileira é independente”, segundo o Estadão.
A tarifa, contradizendo um superávit americano de US$ 7,4 bilhões, sugere alianças pessoais sob estresse, segundo o Financial Times.
Foram apenas informações desencontradas ou sinais evidentes de confusão mental? Essa é uma dúvida razoável.
14 de julho de 2025: Tarifas à Rússia
Trump ameaçou tarifas de 100% à Rússia por um acordo de paz com a Ucrânia. “A Rússia vai pagar caro!”, disse à CNN, segundo a Reuters. Dmitry Peskov respondeu: “Não negociamos sob chantagem”, segundo a TASS.
15 de julho de 2025: Investigação de semicondutores
Trump ordenou investigar importações de semicondutores, mirando Taiwan. “Vamos trazer os chips de volta!”, afirmou, segundo o The New York Times. Tsai Ing-wen alertou: “A cooperação global é essencial”, conforme a Reuters.
17 de julho de 2025: Saúde de Trump
A Casa Branca informou que Trump, aos 79 anos, foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica após exames no Walter Reed, motivados por inchaço nas pernas. A ultrassonografia descartou trombose, mas a condição causa dor, inchaço e, em casos graves, úlceras.
“Estou mais forte do que nunca!”, declarou Trump, conforme a BBC. Especialistas, citados pelo The Guardian, observaram que a condição exige monitoramento, podendo agravar estresse físico e mental.
A Reuters relatou que a limitação de mobilidade pode intensificar a pressão psicológica, aumentando o risco de impulsividade.
As decisões erráticas de Trump, influenciadas por pressões psicológicas e de saúde, como a insuficiência venosa crônica, ameaçam a estabilidade global. A intromissão no Brasil, as pretensões sobre a Groenlândia, os cortes a universidades e as deportações em massa exemplificam como estresse e condições de saúde podem distorcer prioridades.
A clareza mental é uma salvaguarda contra o caos, e sua ausência pode precipitar crises. A comunidade internacional deve promover cooperação e racionalidade. Mas o que temos é o exato oposto. Com certeza 2025 entra na história como o ano em que ninguém morrerá de tédio. E estamos apenas na metade do ano. Ufa!
19 de julho de 2025


No espelho do mundo a verdade é vítima da manipulação
Na política, a palavra vira teatro. É o caso dos políticos, em geral, e dos jornalistas, em particular.
A palavra, esse fio que tece a história humana, é ponte e abismo. Dos hieróglifos às redes sociais, conecta bilhões – como os 3,07 bilhões de usuários do Facebook e 2 bilhões do Instagram em 2025 – e carrega sonhos, conflitos e verdades. Ainda em fins do século XIX, um exilado persa em 'Akká, então território palestino, definiu bem os jornais como “espelho do mundo”, refletindo com verdade as aspirações e lutas dos povos. Esse fenômeno “surpreendente e potente” carrega a missão sagrada de promover justiça, dando voz aos oprimidos, como aliás, ele fez ao clamar contra as perseguições no Irã em 1891, em carta ao The Times de Londres. Contudo, a palavra também é campo minado, onde significados são torcidos e verdades, maquiadas, especialmente em tempos de desinformação desenfreada.
Na política, a palavra vira teatro. É o caso dos políticos, em geral, e dos jornalistas, em particular. No caso dos políticos, tem sido prática cada vez mais recorrente ouvirmos declarações como:
“Estou absolutamente convencido” – que significa na verdade dizer que “não estou nem um pouco convencido, ainda não tenho juízo de valor sobre o assunto”;
“Sou inocente e nada tenho a ver com essa história, tenho um nome a zelar” – a significar que “até o momento consigo passar a mensagem de que sou inocente e saio ileso do imbróglio de que me acusam”, e também “um nome a zelar apenas e somente diante da opinião pública”;
“Ainda não li os jornais de hoje, não vi o noticiário, depois que tomar conhecimento direi algo” – significa que “sei de tudo desde o momento mesmo em que o assunto começou a repercutir na imprensa, li o clipping antes de sair de casa, mas preciso de tempo para saber como devo reagir publicamente”;
“Pelo nome e pela vida de meus filhos afirmo ter sido iludido em minha boa fé” – significa o mesmo que “agora que a situação vai de mal a pior resta apenas apelar para os melhores sentimentos de amor à família aos filhos como forma de conexão com a opinião pública, afinal, todos tem uma família ou filhos”;
“Logo mais anunciarei Monthi minha renúncia ao cargo de forma irrevogável” – significa o mesmo que “produzirei um fato com potencial midiático instantâneo e ao fim e ao cabo terminarei por não renunciar ao cargo”.
Essa retórica oca transforma a palavra em ferramenta de manipulação, onde a verdade é sacrificada pela conveniência.
Essa distorção ressoa na sociedade, desgastando a confiança nas instituições. Quando políticos usam palavras para encobrir intenções, o público se torna cético, e a democracia, que depende da transparência, enfraquece.
A repetição dessas frases vazias, amplificada por redes sociais e manchetes sensacionalistas, cria um ciclo vicioso onde a verdade se dilui em narrativas convenientes. O cidadão comum, bombardeado por essas falsidades, luta para discernir fato de ficção, e a palavra, que deveria unir, acaba por dividir. Essa manipulação constante alimenta a polarização, transformando o diálogo público num campo de batalha onde a verdade é a primeira vítima, e a coesão social paga o preço.
O jornalismo, que deveria fazer a faxina desse espelho, muitas vezes se perde. Uma elite, dona de jornais, rádios e TVs, fabrica realidades, transformando rumores em fatos e verdades em versões. Escândalos fugazes, como grampos entre senador e juiz, viram manchetes, enquanto milhares de horas de gravações judiciais, expondo corrupção, mal ocupam uma nota.
A imprensa tradicional, autoproclamada imparcial, carrega contradições e interesses escusos, muitas vezes alinhados a grupos econômicos ou políticos. Felizmente, a mídia progressista – Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, Fórum – oferece alívio, trazendo narrativas mais honestas e comprometidas com a verdade social, e factual.
Essa manipulação orquestra narrativas que protegem poderosos, transmutando corruptos em “assessores qualificados”. Escândalos reciclados pressionam o Judiciário ou fingem imparcialidade. Grampos ilegais destroem adversários, mas os autorizados, que revelam o submundo do poder, são ignorados. A ética jornalística, nesse pântano, é hipócrita, guiada pelo “faça o que eu digo, não o que eu faço”. A concentração de mídia nas mãos de poucos agrava o problema, limitando vozes dissonantes e perpetuando narrativas enviesadas.
O jornalismo, outrora mágico, perdeu o encanto. A cartola da imparcialidade está vazia, e a liberdade de imprensa, sagrada, não pode ser escudo para falsidades, nem delinquências.
As palavras, tão poderosas, exigem responsabilidade. Quando distorcidas, criam realidades paralelas que confundem e manipulam.
Cabe a nós, cidadãos, exigir que voltem a ser faróis de verdade, não de ilusão, e que a imprensa retome seu papel de guardiã da justiça e da transparência. Só assim resgataremos o poder da palavra para unir, esclarecer e fortalecer a sociedade.
17 de julho de 2025


Mais pobres são atingidos em cheio pela lógica perversa das tarifas
Nova guerra comercial de Donald Trump impõe tarifas de até 50% a países pobres, aprofundando crises humanitárias e afetando economias frágeis como Madagascar e Camboja
Ninguém mostra o mostra o mínimo de preocupação com eles, mas com o lema de “proteger a indústria americana”, a agenda protecionista de Donald Trump desencadeou, com efeitos já a partir de 1º de agosto de 2025, uma guerra comercial que castiga nações muito pobres como Madagascar, Lesoto e Camboja.
Tarifas de até 50% atingem economias dependentes de exportações, revelando uma coerção geopolítica que penaliza os vulneráveis, enquanto países ricos negociam isenções. Anunciadas em 10 de julho, as tarifas “recíprocas” ignoram as limitações econômicas dos alvos, agravando crises humanitárias e elevando preços nos EUA.
As tarifas expõem a fragilidade de nações dependentes de exportações:
Lesoto: Tarifa de 50% sobre têxteis, que sustentam 10% do PIB (US$ 2 bi). Com 24% dos adultos com HIV, enfrenta crise (Reuters).
Madagascar: Tarifa de 48% ameaça baunilha e têxteis, que empregam 60% da força rural (UNCTAD).
Camboja: Tarifa de 49% sobre vestuário põe em risco 750 mil empregos (Bloomberg).
Vietnã: Tarifa de 20% (ou 40% para transbordo) ameaça exportações de calçados (OCBC).
Bangladesh: Tarifa de 35% sobre vestuário, 84% das exportações, pode custar US$ 7,34 bi.
Países ricos, como o Reino Unido, negociaram tarifas de 8%, com isenção prevista para 2026 (BBC).
A fórmula americana pune nações que importam pouco dos EUA por falta de recursos. Madagascar, com 80% da população vivendo com menos de US$ 2/dia, é exemplo. O fim do African Growth and Opportunity Act (AGOA) agrava a crise, afetando Gana e Quênia. A UNCTAD prevê queda de 6,8% no comércio global, com os mais pobres sofrendo mais. Nos EUA, as tarifas elevam preços em 1,9%, custando US$ 2.600 por família (Peterson Institute). A China aproveita, estreitando laços com Vietnã e Camboja (New York Times).
As tarifas intensificam crises:
Em Madagascar, a tarifa sobre baunilha ameaça agricultores (Reuters).
Em Lesoto, 40% dos empregos têxteis estão em risco, agravando a crise de HIV (NBC News).
No Camboja, demissões no setor de vestuário podem gerar instabilidade (BBC).
Cortes na ajuda da USAID amplificam o impacto em regiões vulneráveis.
O Brasil enfrenta tarifas de 50% sobre café, suco de laranja e aeronaves. Exportando US$ 43,2 bi aos EUA em 2024, contesta o “desequilíbrio comercial”. O dólar atingiu R$ 6,12, e o Ibovespa caiu 4,8% (B3). O Itamaraty anunciou, em 11 de julho, tarifas retaliatórias de 45% e incentivos para exportar à China e UE. Solidário, o Brasil defende uma resposta na OMC, liderando o Sul Global contra o protecionismo.
As tarifas de Trump punem os mais fracos, enquanto nações ricas escapam. O Brasil deve liderar a resistência, articulando um comércio global mais justo. Madagascar e Lesoto enfrentam colapso, mas a solidariedade do Sul Global pode mudar o jogo. Isso mostra que tem algo de cambaleante nos eixos da atual Ordem mundial.
16 de julho de 2025


Economia da atenção converte vidas em espetáculo vão e vazio
Políticos e entretenimento disputam atenção, transformando vidas em espetáculo na era digital
A política tornou-se um palco onde a atenção é o troféu supremo. Desde que Herbert A. Simon cunhou o conceito de economia da atenção nos anos 1970, alertando sobre a escassez do foco humano em um mundo saturado de informações, a disputa por olhares molda o poder. Donald Trump, com sua maestria nas redes sociais, transformou o Twitter (hoje X) em uma arma de campanha. Em 2016, seus tuítes provocativos, como os ataques à imprensa, que chamava de “fake news”, geraram 30 milhões de compartilhamentos de conteúdos pró-Trump, segundo o National Bureau of Economic Research. Ele pautava a agenda midiática, desviando holofotes para si. Barack Obama, por outro lado, usava as redes com elegância. Em 2008, sua campanha no Facebook mobilizou 2 milhões de voluntários, segundo a Pew Research, com mensagens inspiradoras que conectavam emocionalmente. Enquanto Trump chocava, Obama persuadia. Ambos, porém, dominavam a arte de capturar olhares em um mundo digital.
No universo das celebridades, a economia da atenção é um espetáculo incessante. Kim Kardashian, com 400 milhões de seguidores no Instagram em 2025, vende não apenas produtos, mas uma narrativa de vida. Cada post, de SKIMS a dramas familiares, é uma vitrine. MrBeast, ou Jimmy Donaldson, é outro ícone. Um youtuber americano de 27 anos, ele revolucionou o entretenimento digital com vídeos de desafios extravagantes, como doar US$ 1 milhão ou construir 100 casas para famílias carentes. Em 2024, seu canal atingiu 300 milhões de inscritos, segundo o Social Blade, gerando milhões em anúncios. Seus conteúdos, planejados com precisão algorítmica, capturam a atenção global. A realidade aumentada amplifica essa lógica: filtros do Snapchat transformam rostos comuns em capas de revista, e todos buscam ser vistos. Como dizia Andy Warhol, “no futuro, todos terão seus 15 minutos de fama”. Hoje, esses minutos são diários, mas fugazes.
Desde os anos 1970, a economia da atenção evoluiu de um conceito teórico para o coração do capitalismo digital. Antes, a sobrecarga vinha de jornais e TVs; hoje, são 4,9 bilhões de usuários online, segundo a Hootsuite, navegando em um oceano de posts e notificações. A inteligência artificial (IA) rege essa dança. Algoritmos do TikTok, que em 2023 geraram 1,5 bilhão de horas de visualização diária, sabem exatamente o que mantém as pessoas grudadas. Influenciadores, uma profissão inexistente há 20 anos, são os novos mercadores. Anitta, com parcerias como a da Skol em 2024, transforma posts em milhões, segundo a Forbes Brasil. A atenção é um ativo financeiro: cada segundo no Instagram rende centavos às big techs. Mas há um custo. A validação digital, como alerta Alain de Botton, prende em uma “escravidão do reconhecimento”.
A desinformação tornou-se o lado sombrio dessa economia. Nos últimos anos, notícias falsas dominaram a internet, capturando milhões. Trump foi um mestre nisso: um estudo da Cornell University de 2020 revelou que ele foi citado em 37% de 38 milhões de artigos sobre desinformação na pandemia, como quando sugeriu ingerir desinfetante contra a Covid-19. Obama também enfrentou fake news, como a teoria birther de 2011, que questionava seu local de nascimento, amplificada por Trump. Segundo o Washington Post, Trump fez mais de 20 mil declarações falsas até 2020. Ambos, porém, usaram a atenção para moldar narrativas. A justiça, lenta, não acompanha a velocidade dos crimes digitais. Nos EUA, em 2016, a fake news sobre uma pizzaria em Washington como centro de pedofilia levou um homem armado a invadir o local. No Brasil, em 2014, Fabiane Maria de Jesus foi linchada em Guarujá após uma falsa acusação de sequestro no Facebook.
O narcisismo e a vaidade florescem nesse terreno. A psicanálise de Michael Bálint sugere que a busca por likes reflete carências afetivas, um desejo de ser amado. Postar é existir, mas a validação é efêmera. A Royal Society for Public Health aponta que redes sociais aumentam a ansiedade em 70% dos jovens. A esfera pública e privada, como descreve Zygmunt Bauman em sua modernidade líquida, fundiram-se. Antes, a privacidade era um refúgio; hoje, é moeda de troca. Um jantar em família postado nos Stories vira alvo de anunciantes. Jürgen Habermas via a esfera pública como espaço de debate racional; agora, é um palco onde todos são produtos. A cultura pop já tem um termo para isso: personal branding. Bianca Andrade, a Boca Rosa, transformou sua vida em um império de R$ 120 milhões em 2023, segundo a Forbes Brasil.
A monetização de vídeos é o ápice dessa lógica. No YouTube, criadores como Felipe Neto faturam até R$ 500 mil por mês, segundo o Social Blade. O TikTok pagou US$ 1 bilhão a criadores em 2024. Cada vídeo é um investimento: mais views, mais lucro. A IA decide quem brilha, personalizando feeds com precisão cirúrgica. MrBeast, com seus desafios, é o rei: seus vídeos geram milhões em minutos. Mas a competição é feroz, e a atenção, finita.
Os reality shows refletem essa fome por atenção. De Big Brother Brasil a The Masked Singer, a variedade é vasta: MasterChef (culinária), RuPaul’s Drag Race (performance), Casamento às Cegas (relacionamentos). Em 2024, o BBB 24 teve 1,2 bilhão de votos online, segundo a Globo. Participantes como Davi, vencedor do BBB 23, tornam-se marcas, mas enfrentam o escrutínio público. A atenção é um holofote cruel, e a fama, uma promessa frágil.
Refletindo com poesia e crítica, a economia da atenção é um espelho que revela desejos e distorce verdades. Viver em um mundo onde ser visto é existir desafia a alma. A IA, os algoritmos, os likes — tudo seduz, mas também aprisiona. Escolher comunicar para conectar, não para se perder, é o desafio. Que o brilho do mundo não apague o que pulsa dentro.
https://www.brasil247.com/blog/economia-da-atencao-converte-vidas-em-espetaculo-vao-e-vazio
15 de julho de 2025


Economia da Atenção busca capturar olhares em um mundo digital
Universo narcisista: Hoje, eleições não se vencem apenas com propostas, mas com curtidas, cliques e engajamento
Vivemos hoje num palco digital onde a atenção é o prêmio máximo. Desde que o economista Herbert A. Simon alertou, ainda nos anos 1970, sobre a escassez da atenção humana, a chamada economia da atenção tornou-se o motor dos espetáculos, da influência e da manipulação. Com 4,9 bilhões de pessoas conectadas, segundo a Hootsuite, navegamos por um oceano de postagens cuidadosamente editadas e algoritmos opacos que não apenas moldam o que vemos, mas influenciam quem nos tornamos.
Na política, a atenção redefine o poder. As campanhas saíram das ruas e migraram para as telas. Redes sociais passaram a mobilizar multidões, enfraquecendo o jornalismo tradicional e alterando os termos do discurso público. Hoje, eleições não se vencem apenas com propostas, mas com curtidas, cliques e engajamento. Muitas vezes, um post gera mais impacto do que um plano de governo.
Na cultura pop, o espetáculo atinge novos patamares. Kim Kardashian soma 400 milhões de seguidores no Instagram. O youtuber MrBeast, com 300 milhões de inscritos em 2024, transforma desafios e doações milionárias em bilhões de visualizações. Realidade aumentada intensifica esse fascínio: filtros do Snapchat transformam rostos comuns em capas de revista. Andy Warhol previu os “15 minutos de fama”. Vivemos agora os “15 segundos de viralização”.
A inteligência artificial dirige essa coreografia. Em 2023, o algoritmo do TikTok respondia por 1,5 bilhão de horas assistidas por dia. Influenciadores, antes impensáveis, tornaram-se os mercadores do instante. Mas há um preço. O filósofo Alain de Botton alerta para a “escravidão do reconhecimento”: os likes validam, mas aprisionam. Segundo a Royal Society for Public Health, 70% dos jovens relatam aumento da ansiedade ligado às redes sociais.
O lado mais sombrio é a desinformação. Um estudo da Universidade Cornell revelou que 37% das fake news sobre a pandemia estavam ligadas a uma única figura política. No Brasil, em 2014, um boato no Facebook resultou em linchamento. O que foi, para Habermas, o espaço público do debate racional, tornou-se — como disse Bauman — uma modernidade líquida onde os próprios seres humanos viram mercadoria.
No ápice está a monetização. MrBeast fatura milhões por mês. O TikTok distribuiu £800 milhões a criadores em 2024. Programas como The Masked Singer ou Big Brother Brasil, que teve 1,2 bilhão de votos online em 2024, espelham essa sede de exposição. Os vencedores se tornam marcas. O psicanalista Michael Bálint argumenta que essa fome de aprovação nasce de nossos vazios internos. Publicar tornou-se existir, mas a validação evapora rápido.
A economia da atenção reflete nossos desejos — e os distorce. Viver num mundo onde a visibilidade define o valor humano é um desafio à alma. Algoritmos seduzem, mas também confinam. Como escreveu Bahá’u’lláh (1817–1892): “O mundo não passa de um teatro vão; vazio, ilusório — uma imitação da realidade”.
O desafio não é desaparecer. É permanecer: autêntico, presente, real.
Como resgatar a conexão verdadeira em meio a este teatro da ilusão?
15 de julho de 2025


Revolução silenciosa de Noam Chomsky vive em cada mente que ousa pensar
Mesmo sem fala, Noam Chomsky inspira com seu legado de resistência, desafiando o status quo e guiando a luta por um mundo mais justo
Eu nunca o encontrei, mas Noam Chomsky sempre esteve presente. Aos 96 anos, o linguista, filósofo e ativista americano que desafiou o mundo com sua mente afiada agora vive um silêncio forçado. Um acidente vascular cerebral devastador, em junho de 2023, roubou sua fala e, ao que tudo indica, sua capacidade de escrever. Em São Paulo, onde mora com sua esposa, Valeria Wasserman Chomsky, ele deixou o hospital em 2024 para se recuperar em casa. Mesmo preso a uma cadeira de rodas, com o lado direito do corpo comprometido, dizem que seus olhos ainda brilham de indignação ao ver imagens da guerra em Gaza. É como se, mesmo sem voz, Chomsky continuasse gritando.
Filho de imigrantes judeus ucranianos, ele nasceu na Filadélfia em 1928, numa casa onde política e ideias fervilhavam. Aos 10 anos, garoto prodígio, escreveu um artigo sobre a queda de Barcelona na Guerra Civil Espanhola. Quem diria que aquele menino, fã dos Phillies até abandonar o beisebol por livros, se tornaria o “trono das palavras”? Ele escrevia à mão, detestava e-mails até o século XXI e trabalhava 16 horas por dia, com uma disciplina que beirava a monástica. Seu humor cortante era lendário: quando o chamaram de um dos “mais citados” ao lado de Freud, riu e disse que citações só medem egos, não verdades.
Chomsky nunca se curvou. Na Guerra do Vietnã, nos anos 1970, ele era uma tempestade. Seu ensaio de 1967, que acusava intelectuais de conivência com o imperialismo americano, incendiou debates. Preso em protestos, vigiado pelo FBI, ele desmascarava a mídia que vendia a guerra como heroísmo. Anos depois, em 1980, chocou ao defender o direito de um negacionista do Holocausto de falar. Não porque concordasse — ele abominava aquelas ideias —, mas porque acreditava que censurar até o pior dos homens abre as portas para silenciar dissidentes. Polêmico? Sim. Corajoso? Mais ainda.
E então veio o 11 de setembro. Enquanto o mundo se unia à “guerra ao terror”, Chomsky nadava contra a maré. Para ele, as invasões do Afeganistão e do Iraque eram puro imperialismo disfarçado de justiça. Ele alertou que o militarismo só geraria mais ódio, e o tempo lhe deu razão. Suas palavras, inicialmente vaiadas, ecoaram quando as promessas de democracia no Oriente Médio desmoronaram em sangue e caos.
O que fazia Chomsky tão singular? Ele via liberdade como mais do que ausência de correntes. Para ele, era o direito de moldar nosso destino, livres do jugo de corporações que compram democracias. Ele desprezava o que chamamos de “democracia” hoje — uma farsa, dizia, onde elites manipulam a mídia para nos fazer engolir suas agendas. Justiça, para Chomsky, não era caridade, mas a destruição de sistemas que condenam milhões à miséria enquanto poucos nadam em ouro. E paz? Paz exigia desarmar o monstro do militarismo global, especialmente o americano, que ele acusava de semear guerras por lucro.
Seus livros são mapas para entender o mundo. Em 1957, ele publicou um texto que mudou a linguística para sempre. Era técnico, cheio de diagramas, mas provava que a linguagem é algo que nasce com a gente, como respirar. Décadas depois, com Edward S. Herman, ele escreveu um livro que é como um soco no estômago. A mídia, eles diziam, não informa — ela fabrica o que você pensa, servindo aos poderosos. Em 2003, ele alertou que a obsessão dos EUA por dominar o mundo poderia nos levar à beira do abismo. E, em 2024, já silenciado pelo AVC, seu último trabalho desmontava o mito de que a América é a terra da liberdade.
Chomsky me ensinou a duvidar. Ele dizia que a pobreza não é destino, mas um roubo organizado. Que a verdade não cai do céu — você tem de cavar por ela. Ele desmascarava os truques dos poderosos: inventar inimigos externos, como “terroristas” ou “comunistas”, para nos manter assustados e obedientes. Ele me mostrou que direitos não são presentes de governantes, mas conquistas arrancadas na luta. E que a história, quando contada só pelos “grandes homens”, nos faz sentir pequenos, como se mudar o mundo fosse tarefa de gigantes.
Ele também alertava sobre a crueldade de culpar os pobres por sua miséria. É uma artimanha, dizia, para os ricos posarem de salvadores enquanto saqueiam o planeta. Olhando para o Ocidente, ele via um vazio. Uma cultura de ideologias frágeis, que nos desconecta de quem somos. Ele pedia mais: uma busca por algo verdadeiro, por uma fé que não fosse só marketing.
Hoje, em São Paulo, Chomsky é um titã em repouso. Seu corpo pode estar frágil, mas seu legado é indestrutível. Ele nos deixou ferramentas — livros, ideias, coragem — para enfrentar um mundo que parece desmoronar. Enquanto crises de desigualdade, guerras e desinformação nos sufocam, sua voz, mesmo calada, ainda ressoa. Eu o imagino, olhando as notícias, com aquele brilho nos olhos. Ele nos desafia, como sempre fez: pense por si mesmo. Questione. Lute.
Porque, no fim, Chomsky não é só um homem. Ele é uma revolução. E revoluções não morrem.
Chomsky é um lampejo de consciência, sempre em busca da unidade essencial que conecta a humanidade. Ele foi a voz dos sem-voz, dos oprimidos que o mundo ignora. Pacifista convicto, escolheu a palavra quando outros corriam para os campos de batalha. Numa era seduzida pela inteligência artificial, ele privilegiou a inteligência natural — aquela que duvida, cria, resiste. Enquanto ele respira em seu apartamento, ao lado dos seus, a liberdade de pensar e de ser respira entre nós.
04 de julho de 2025
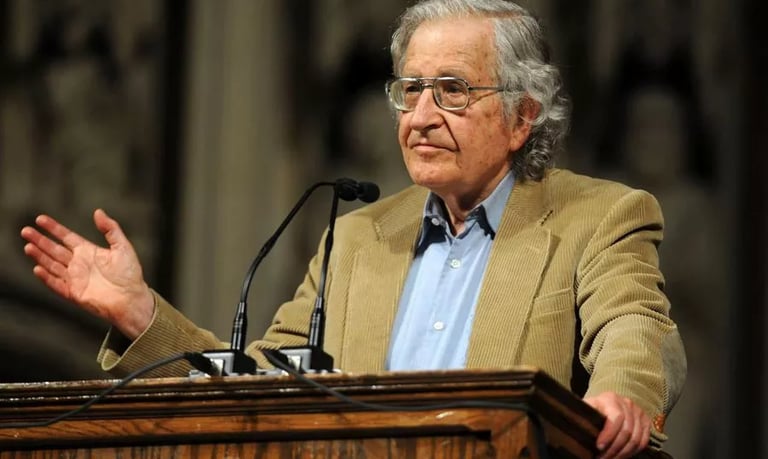
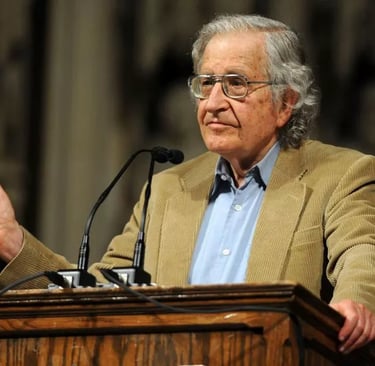
Odete Roitman não se confina apenas à novela
Neste Brasil de 2025 resiste o Brasil de 1988
Como jornalista, sempre me fascinou como a ficção pode expor verdades cruas. Em 1988, Vale Tudo, da TV Globo, nos deu Odete Roitman, vivida por Beatriz Segall, uma vilã que cuspia veneno contra o Brasil. Em 2025, o remake com Debora Bloch reacendeu sua chama. Suas falas, cortantes e politicamente incorretas, são um espelho do elitismo que ouço hoje de políticos e figuras da mídia.
Odete desdenhava o país: “Eu gosto do Brasil. Acho lindo, uma beleza. Mas de longe, no cartão postal. Essa terra aqui não tem jeito. Esse povo daqui não vai pra frente, é preguiçoso. Só se fala em crise e ninguém trabalha?” Em 15 de março de 2025, o senador Magno Malta (PL-ES) ecoou isso no Senado, segundo O Globo: “O brasileiro quer tudo de graça, vive de bolsa, não quer trabalhar. É por isso que o país não cresce.” Ambos culpam o povo, ignorando desigualdades.
Ela ridicularizava costumes: “Você acha que eu vou pegá-los no aeroporto? Eu acho a coisa mais jeca dar plantão em aeroporto. Eles até colocaram vidro para as pessoas não verem quem está chegando, mas mesmo assim as pessoas colocam o nariz no vidro, penduram criancinha pra dar ‘tchau’. Eu vou mandar o chofer.” No dia 10 de abril, a deputada Bia Kicis (PL-DF) postou no Instagram, na Folha de S.Paulo: “Festa de São João no interior é só melação de milho e quadrilha mal ensaiada. Isso é cultura pra quem?” O desprezo é idêntico.
Odete atacava a cultura: “O Brasil é um país de jecas. Ninguém aqui sabe usar talher de peixe.” Em 22 de maio, Rodrigo Constantino, na Jovem Pan, disse, segundo CNN Brasil: “O brasileiro não tem refinamento, come feijoada com a mão e acha isso normal.” A imposição de padrões europeus é a mesma.
A língua portuguesa era alvo: “Chinelo, chinelo? Que palavra horrível! Português é uma língua tão chinfrim.” No dia 18 de junho, o deputado Coronel Tadeu (PL-SP), na Câmara, afirmou, per G1: “O português do Brasil é pobre, cheio de gírias. Não tem a elegância do inglês.” O desdém pela identidade nacional é gritante.
O racismo de Odete chocava: “O Brasil é uma mistura de raças que não deu certo.” No remake, ela disse: “Ela nem é tão preta assim,” sobre Maria de Fátima. Em 5 de fevereiro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na Rede Bandeirantes, declarou: “A miscigenação no Brasil criou uma população sem identidade clara, o que dificulta a governança.” A segregação é clara.
Sua visão autoritária era cruel: “A única solução para a violência é a pena de morte. Para ladrão e assaltante, cortar a mão em praça pública. E se cortasse a mão dessa gente, diminuiria o índice de violência nesse país. Não tenha dúvida.” Em 12 de julho, o deputado Sargento Fahur (PSD-PR) postou no X, no UOL: “Bandido só entende cadeia ou cova. Pena de morte já!” A brutalidade se repete.
Odete ridicularizava o interior: “Você pode imaginar uma menina inteligente e sensível como a Maria de Fátima morando em uma cidadezinha de interior ao lado da mãe? No dia do aniversário ganhando bolinho com velhinhas, olhinho de sogra, cocadinha, docinho de leite, salgadinho enfeitado com florzinha de tomate?” Em 30 de março, Rachel Sheherazade, no SBT News, disse, per Estado de Minas: “O interior do Brasil é atrasado, vive de festas caipiras e tradições que pararam no tempo.”
O Nordeste era vilipendiado: “Falar de Nordeste antes da hora do jantar me faz perder o apetite.” Em 15 de maio, o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) postou no X, no Correio Braziliense: “O Nordeste vive de assistencialismo, é um peso para o Brasil.” O preconceito regional é idêntico.
A educação era desdenhada: “E você pensa que alguém aprende alguma coisa em universidade brasileira?” Em 25 de abril, o senador Jorge Seif(PL-SC), no Senado, disse, per Jornal do Comércio: “Nossas universidades públicas são fábricas de militantes, não de conhecimento.”
Odete ironizava a hospitalidade: “O que é que você tem para me oferecer? Contanto que não seja nenhuma dessas excentricidades brasílicas? Um licor de jenipapo, por exemplo.” Em 10 de junho, Milton Neves, no BandSports, disse: “Essa mania de oferecer cachaça e comida gordurosa é coisa de brasileiro sem classe.”
Festas populares eram alvos: “A recepção vai ser hor-ro-ro-sa! Casamento, então, confundem com festa junina.” Em 20 de julho, a deputada Carla Zambelli (PL-SP) postou no Instagram, per Metrópoles: “Casamento no Brasil é um circo, com forró e gente suada dançando.”
Debora Bloch, em 21 de maio, disse à CNN Brasil: “Odete representa um pensamento que está vivo, cada vez mais.” Como jornalista, vejo sua sombra no Brasil de 2025, onde o elitismo de Odete, eleita a maior vilã das novelas por O Estado de São Paulo, ainda divide a nação.
Neste Brasil de 2025 resiste o Brasil de 1988. O mau caráter ismo da vilã parece onipresente na vida nacional. Odete Roitman — entre uma gravação e outra do folhetim — vai a tribuna do Congresso escancarar, em horário nobre, o sórdido elitismo.
https://www.brasil247.com/blog/odete-roitman-nao-se-confina-apenas-a-novela
30 de junho de 2025


Por que o Congresso despreza os pobres? Seus gritos não atravessam os plenários
Pesquisa mostra que os brasileiros querem um sistema tributário progressivo, mas o Parlamento age na contramão
Começo este artigo com uma pergunta que ecoa como um grito abafado: por que o Congresso Nacional, eleito para representar o povo, parece tão mega desconectado dos anseios dos mais pobres?
Como jornalista, pesquisador e professor universitário, já vi muitas vezes a balança da justiça pender para quem tem mais poder econômico. Tendo trabalhado no Senado Federal por mais de 19 anos, observo que está acontecendo no Congresso brasileiro muito mais do que uma inclinação: é uma ofensiva deliberada contra os interesses de quem ganha até dois salários mínimos, de motoristas de aplicativo, terceirizados, mães solo, trabalhadores informais e desempregados.
É inegável que Suas Excelências, majoritariamente abastadas, protegem seus privilégios. Projetos de lei que desafiam sua visão patrimonialista, ameaçando sua fortuna, são enfrentados como ataques diretos, perpetuando a exclusão dos pobres, cujas vozes ecoam sem resposta no Congresso.
Essa frase ressoa enquanto analiso cinco projetos de lei que, se aprovados, poderiam elevar significativamente a qualidade de vida dos mais pobres, mas que estão parados, arquivados ou avançam a passos de tartaruga na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Esses projetos, aliados a uma radiografia das bancadas parlamentares e dos lobbies que dominam o Congresso, revelam uma verdade incômoda: os pobres não têm porta-vozes. Os interesses dos ricos – agropecuaristas, banqueiros, industriais e aliados das bancadas da Bíblia e da Bala – prevalecem, enquanto a maioria da população segue sufocada por impostos regressivos e políticas que perpetuam a desigualdade.
Cinco projetos de lei que poderiam mudar vidas, mas estão travados
1. PDL sobre a suspensão do aumento do IOF (2025)
Em 25 de junho de 2025, o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Decreto Legislativo (PDL 214/2025), de autoria do deputado Zucco (PL-RS), que suspendeu os efeitos de três decretos presidenciais (12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025) editados pelo governo Lula para aumentar as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
Esses decretos, anunciados a partir de 22 de maio de 2025, visavam arrecadar até R$ 30 bilhões em 2025, taxando operações financeiras, incluindo investimentos no agronegócio e no setor imobiliário, para compensar a isenção de Imposto de Renda (IR) para rendas até R$ 5 mil mensais (PL 1087/2025). A votação relâmpago, anunciada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na noite de 24 de junho, pegou o governo de surpresa e consolidou uma derrota significativa do Executivo.
Tramitação: Na Câmara dos Deputados, o PDL foi aprovado em 25 de junho por 383 votos a 98, em uma sessão semipresencial esvaziada devido às festividades de São João. O substitutivo do relator, deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO), ampliou o escopo do projeto original (PDL 314/2025), sustando os três decretos presidenciais. No mesmo dia, o Senado aprovou o texto por votação simbólica, com votos contrários apenas dos senadores do PT, sob relatoria do senador Izalci Lucas (PL-DF). O projeto foi promulgado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em 25 de junho, tornando sem efeito as alterações no IOF. A celeridade da tramitação reflete a força dos lobbies do agronegócio, do mercado financeiro e de setores industriais, que pressionaram pela manutenção de isenções fiscais.
Impacto: A derrubada dos decretos do IOF restabeleceu as alíquotas anteriores, reguladas pelo Decreto 6.306/2007, e reduziu a arrecadação prevista em R$ 10 bilhões para 2025, segundo o governo, forçando um contingenciamento adicional de R$ 12 bilhões no orçamento. Isso ameaça programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e Pé-de-Meia, além de emendas parlamentares, com um corte estimado de R$ 2,7 bilhões em 2025. A suspensão impede uma redistribuição tributária mais progressiva, mantendo a carga fiscal desproporcional sobre os pobres e a classe média, que pagam altos impostos sobre consumo (ICMS, PIS, Cofins), enquanto setores financeiros e do agronegócio preservam benefícios fiscais. A medida foi criticada por deputados como Tarcísio Motta (Psol-RJ), que destacou que o IOF ajustado incidia apenas sobre operações de crédito de pessoas jurídicas, tornando o sistema tributário mais justo.
2. Isenção de Imposto de Renda até R$ 5.000 mensais (PL 1087/2025)
Apresentado em 18 de março de 2025 pelo Poder Executivo, esse projeto cumpre promessa de Lula e prevê isenção total de Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês a partir de 2026, com descontos parciais entre R$ 5 mil e R$ 7 mil. Beneficiaria 10 milhões de brasileiros, somando-se aos 20 milhões isentos desde 2023. A renúncia fiscal de R$ 25,84 bilhões seria compensada taxando altas rendas (acima de R$ 50 mil mensais) e dividendos, hoje isentos.
Tramitação: Parado na Comissão Especial da Câmara, sem avanços, enfrenta resistência de parlamentares ligados a bancos e empresas, que temem tributar dividendos.
Impacto: Para um motorista de aplicativo (R$ 3.650), a economia seria R$ 1.058 anuais; para uma professora (R$ 4.867), R$ 2.604. Essa renda extra significaria mais comida, saúde ou educação para os filhos.
3. Limitação do ganho real do salário mínimo (PL 4614/2024)
Parte do pacote de ajuste fiscal do governo, apresentado em 27 de novembro de 2024, esse projeto vincula o reajuste do salário mínimo à inflação e a um ganho real de 0,6% a 2,5%, dentro do arcabouço fiscal.
A proposta busca garantir poder de compra para 50 milhões de brasileiros que dependem do mínimo, mas enfrenta críticas por limitar ganhos reais.
Tramitação: Está na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, sem previsão de votação. A lentidão reflete a pressão de setores que temem aumento de custos trabalhistas, como a indústria e o agronegócio.
Impacto: Um salário mínimo mais robusto elevaria a renda de trabalhadores informais, aposentados e beneficiários de programas sociais, reduzindo a pobreza extrema.
4. Controle de incentivos tributários (PLP 210/2024)
Apresentado em 2024, esse projeto de lei complementar impõe travas ao crescimento de renúncias fiscais, que em 2024 ultrapassaram R$ 400 bilhões, beneficiando majoritariamente grandes empresas e setores como o agronegócio. A proposta permite usar superávits de fundos públicos para abater a dívida, aliviando o orçamento para investimentos sociais.
Tramitação: Aprovado na Câmara em dezembro de 2024, está no Senado, mas sem relator designado. A resistência vem de lobbies do agronegócio e da indústria, que defendem a manutenção de isenções.
Impacto: Redirecionar esses recursos para saúde, educação e habitação atenderia diretamente às necessidades dos mais pobres, que não se beneficiam das atuais renúncias fiscais.
5. Tributação mínima de multinacionais (PL 3817/2024)
Apresentado em 2024, esse projeto cria um adicional na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para garantir uma tributação mínima de 15% para multinacionais com faturamento acima de €750 milhões. A medida segue um acordo global contra a erosão tributária e poderia gerar bilhões para políticas públicas.
Tramitação: Aprovado na Câmara, está no Senado, mas sem avanços desde o início de 2025. A oposição de setores industriais e financeiros trava a discussão.
Impacto: A arrecadação extra poderia financiar programas como o Bolsa Família, que beneficia 21 milhões de famílias pobres.
A radiografia das bancadas e os lobbies que mandam no Congresso - O Congresso brasileiro é dominado por bancadas que representam interesses específicos, raramente os dos pobres. A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), com cerca de 300 deputados e 40 senadores, defende isenções fiscais para o agronegócio, que em 2024 consumiu R$ 80 bilhões em renúncias. A bancada evangélica, com cerca de 200 parlamentares, prioriza pautas morais, mas muitas vezes alinha-se aos interesses econômicos da FPA. A bancada da Bala, com cerca de 50 membros, defende a indústria de armas, enquanto a bancada empresarial, ligada à Confederação Nacional da Indústria (CNI) e à Febraban, resiste a qualquer tributação sobre lucros e dividendos.
Esses grupos formam uma rede de influência que marginaliza os sem-voz: os 70% da população que vivem com até dois salários mínimos. Parlamentares como Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, falam em “responsabilidade fiscal”, mas defendem vetos a tributações sobre fundos imobiliários e do agronegócio, beneficiando elites. A liberação de R$ 1,72 bilhão em emendas parlamentares em um único dia, em 24 de junho de 2025, é um exemplo escandaloso de como o Congresso prioriza interesses próprios sobre o bem comum.
A dificuldade de encontrar porta-vozes para os pobres - Quem defende o motorista de aplicativo que trabalha 12 horas por dia? Ou a mãe solo que depende do Bolsa Família? No Congresso, esses brasileiros são invisíveis. A pesquisa do Centro de Estudos da Metrópole (CEM) mostra que 70% dos eleitores apoiam taxar mais os ricos e menos os pobres, mas o Parlamento ignora esse clamor.
Um consórcio internacional, incluindo a FGV, investiga desde 2024 como a elite política reproduz a riqueza, e os dados preliminares são claros: parlamentares protegem suas redes de influência, que incluem fazendeiros, banqueiros e industriais.
Os lobbies do agronegócio, bancos e indústria de armas operam com eficiência. A FPA, por exemplo, articulou a aprovação de isenções para agrotóxicos e insumos agrícolas na reforma tributária, enquanto a Febraban pressiona contra a tributação de dividendos.
A bancada da Bíblia, embora focada em pautas conservadoras, muitas vezes apoia medidas que favorecem os ricos, como a manutenção de supersalários no Judiciário. A bancada da Bala, por sua vez, garantiu a exclusão de armas do Imposto Seletivo, beneficiando a indústria armamentista.
A tributação regressiva e a farsa da “justiça fiscal” - O sistema tributário brasileiro é uma máquina de desigualdade. Enquanto os pobres pagam até 30% de sua renda em impostos sobre consumo (ICMS, PIS, Cofins), os ricos, com rendas de dividendos e lucros, enfrentam alíquotas efetivas de apenas 2,54%. O governo propôs taxar dividendos acima de R$ 50 mil mensais em 10% e elevar o IOF sobre investimentos, mas essas medidas enfrentam resistência feroz. A tentativa de rediscutir supersalários e renúncias fiscais é tratada como tabu, pois afeta diretamente a elite parlamentar e seus aliados.
A narrativa dos parlamentares ‘antipobres’ é astuta: eles dizem que “o Brasil tributa muito”, mas omitem que quem paga são os pobres e a classe média. A proposta de isenção do IR até R$ 5 mil é chamada de “eleitoreira” por opositores como Samuel Pessôa, que defendem ajustes fiscais que preservem os privilégios dos ricos. Enquanto isso, o Congresso aprova emendas bilionárias e mantém isenções para setores que não precisam delas.
Um Congresso que não escuta o povo - O que me choca, como cidadão, é a desconexão entre o Congresso e a população que o sustenta. A pesquisa do CEM mostra que os brasileiros querem um sistema tributário progressivo, mas o Parlamento age na contramão.
A ofensiva contra o IOF, a lentidão na tramitação de projetos como o PL 1087/2025 e a proteção aos supersalários revelam um Legislativo capturado por lobbies. Os pobres, que pagam impostos indiretos em cada pão que compram, não têm quem os represente.
A pergunta final não é apenas por que o Congresso não gosta de pobres, mas por que continuamos permitindo que ele ignore os sem-voz. A resposta está em nossas mãos: exigir que o Congresso represente o povo, não os lobbies, e pressione pela aprovação de projetos que promovam justiça social. Até lá, os ricos seguirão livres de pagar o que os pobres já arcam, e o Brasil permanecerá refém de uma democracia desigual.
27 de junho de 2025


Setores privilegiados recebem bilhões em incentivos enquanto SUS e programas sociais operam à margem da dignidade
Análise de dados oficiais indica que o Brasil prioriza setores poderosos em vez de investir em justiça social e dignidade humana
No Brasil, a desigualdade social permanece uma ferida aberta. As isenções fiscais e benefícios tributários concedidos a grandes empresas drenam bilhões de reais. Esses recursos poderiam fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), o Bolsa Família e outros programas sociais.
Em 2024, as renúncias fiscais atingiram R$ 615 bilhões, segundo a ministra Simone Tebet, equivalente a 5,9% do PIB, estimado em R$ 10,4 trilhões pelo Banco Central. Para 2025, o volume projetado é ainda maior, alcançando R$ 760 bilhões, conforme estimativas do Ministério da Fazenda com base na Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (Dirbi), reportadas por diversos veículos da mídia.
Esse montante supera o dobro dos gastos combinados com Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC). Setores como agronegócio, indústria automotiva, combustíveis e eventos acumulam privilégios, enquanto a população mais vulnerável enfrenta serviços públicos precários.
Nos últimos oito dias, o governo federal anunciou um corte linear de 10% nas renúncias fiscais, visando arrecadar R$ 20 bilhões anuais, segundo o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. A medida, que será formalizada por projeto de lei a ser enviado ao Congresso, abrange todos os setores beneficiados, incluindo agronegócio, Zona Franca de Manaus e o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).
A iniciativa busca atender à Emenda Constitucional 109/2021, que exige a redução dos incentivos para 2% do PIB até 2029.
Os números da renúncia fiscal no Brasil
Em 2023, as renúncias fiscais totalizaram R$ 518,9 bilhões, ou 5,2% do PIB, segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), um aumento de 8,2% em relação a 2022. Até agosto de 2024, 54,9 mil empresas declararam R$ 97,7 bilhões em benefícios fiscais, conforme a Receita Federal.
O agronegócio liderou, com 18,7% do total, incluindo R$ 14,95 bilhões em isenções para adubos e fertilizantes. O setor de combustíveis, com destaque para a Petrobras, que obteve R$ 29 bilhões em 2021, também se beneficiou. A indústria automotiva, com montadoras como Fiat e Volkswagen, e o setor de eventos, via Perse, completam a lista.
Em 2021, 26 empresas concentraram R$ 99 bilhões, quase metade dos R$ 215 bilhões totais, segundo a Controladoria-Geral da União (CGU). Comparado aos gastos sociais, o impacto é gritante. O Bolsa Família, que atende 20,8 milhões de famílias, custou R$ 168 bilhões em 2024, enquanto o BPC consumiu R$ 100 bilhões.
O SUS operou com R$ 160 bilhões, totalizando R$ 428 bilhões combinados com Bolsa Família e BPC – valor inferior aos R$ 615 bilhões renunciados em 2024. O programa Farmácia Popular, com apenas R$ 3,4 bilhões, é quase insignificante. Até agosto de 2024, as isenções de R$ 546 bilhões superaram três vezes o orçamento do Bolsa Família para 2025.
O corte de 10% anunciado para 2025 será aplicado proporcionalmente sobre os R$ 760 bilhões em renúncias fiscais, conforme dados do Ministério da Fazenda. A mídia informou que o ministro Fernando Haddad defende a medida como um passo para esclarecer a “caixa-preta” das renúncias, argumentando que muitos benefícios não geram os retornos esperados, como criação de empregos ou desenvolvimento regional.
O agronegócio, responsável por 18,7% das renúncias, e a indústria automotiva estão entre os setores mais impactados. A implementação, contudo, depende de aprovação no Congresso, onde a resistência de setores poderosos é esperada.
Renúncias fiscais como proporção do PIB: Brasil e o mundo
As renúncias fiscais brasileiras, que atingiram 5,9% do PIB em 2024 e devem crescer em 2025, são elevadas em comparação com outros países.
Nos Estados Unidos, elas somaram US$ 1,8 trilhão em 2023, ou 7% do PIB, segundo o Congressional Budget Office. Setores como tecnologia, energia e manufatura se beneficiam.
Os EUA, porém, destinam 8,6% do PIB à saúde pública, um contraste com o Brasil. Na França, as renúncias foram de € 93 bilhões em 2022, ou 3,5% do PIB, conforme o Ministério da Economia francês, favorecendo cultura e pesquisa.
A carga tributária francesa de 45,4% do PIB sustenta saúde universal e educação gratuita, equilibrando melhor as políticas sociais. No Reino Unido, as renúncias fiscais alcançaram £ 170 bilhões em 2023, ou 5,6% do PIB, segundo o Office for National Statistics.
Finanças e tecnologia são beneficiadas no Reino Unido, mas o sistema de saúde (NHS) recebe 7,8% do PIB, garantindo robustez social.
No México, as renúncias custaram 3,7% do PIB em 2022, segundo a Cepal, favorecendo manufatura e energia, mas com apenas 2,9% do PIB para saúde.
Na Argentina, as renúncias foram 2,8% do PIB, beneficiando agronegócio e indústria, com um IDH superior ao brasileiro. O Brasil supera México e Argentina em renúncias fiscais, mas está abaixo dos EUA.
Comparado à França e ao Reino Unido, o Brasil aloca uma proporção semelhante do PIB, mas com menos retorno social. Dados da Receita Federal e TCU revelam que 44% dos incentivos não são fiscalizados, agravando a ineficiência.
A transparência avançou, com o Portal da Transparência registrando R$ 1,25 trilhão em renúncias entre 2015 e 2024.
Justiça social e econômica: um Brasil em dívida
Justiça social exige igualdade de oportunidades e acesso a serviços básicos. Justiça econômica demanda tributação progressiva e redistribuição eficiente. No Brasil, a regressividade tributária, com 49% da carga vinda do consumo, penaliza os pobres, segundo o Ipea.
As isenções beneficiam setores consolidados, aprofundando desigualdades. O IDH do Brasil, 0,786 em 2023, coloca o país na 84ª posição, segundo o Pnud. Ajustado pela desigualdade, perde 24%, caindo 21 posições.
A renda per capita de US$ 18.011 é 127,3% inferior ao necessário para sustentar uma família, R$ 6.996,36, conforme o Dieese. O 1% mais rico detém 21,1% da renda nacional, um abismo frente à Islândia.
A desigualdade racial persiste: a disparidade salarial entre negros e brancos permaneceu estável entre 2012 e 2021, segundo o Insper. A educação para negros é inferior, e o acesso ao mercado de trabalho, limitado.
As isenções fiscais, que priorizam o agronegócio, agravam esse ciclo de exclusão. O Brasil falha em romper barreiras históricas, enquanto bilhões são desviados de programas que poderiam transformar vidas.
O custo da escolha, e não é uma “escolha de Sofia”
Defensores das isenções, como a Mosaic Fertilizantes, alegam redução de custos de produtos essenciais. A Samsung, na Zona Franca de Manaus, destaca inovação. Mas o TCU aponta que incentivos automotivos, custando R$ 50 bilhões desde 2010, geram empregos a R$ 34 mil cada, com impacto limitado.
O agronegócio, segundo André Roncaglia, contribui pouco para empregos em proporção aos benefícios. O governo enfrenta resistência para implementar o corte de 10%, conforme alertou o economista Juliano Goularti, que critica cortes lineares por potencialmente ampliarem desigualdades regionais.
O deputado Hugo Motta, presidente da Comissão de Finanças da Câmara, defende a revisão para avaliar a eficácia dos incentivos. Haddad busca recuperar R$ 150 bilhões anuais, mas a pressão de setores poderosos é um obstáculo.
A sociedade pode acompanhar os desdobramentos pelo Portal da Transparência e pelo site da Receita Federal.
Cobertor curto protege os mais ricos e deixa os pobres ao relento
As isenções fiscais, que consomem 5,9% do PIB em 2024 e projetam R$ 760 bilhões para 2025, aprofundam desigualdades. Setores consolidados acumulam bilhões, enquanto o SUS opera no limite.
O Bolsa Família não alcança todos, e a educação definha. Comparado à França e ao Reino Unido, o Brasil investe menos em contrapartidas sociais. O corte de 10% é um primeiro passo, mas sua aprovação no Congresso será um teste político.
O IDH estagnado e a renda per capita insuficiente refletem um sistema que privilegia poucos. Ignorar essas falhas estruturais é uma distração perigosa. O Brasil precisa decidir: subsidiar gigantes ou investir em justiça social e econômica? A resposta moldará o futuro de milhões.
25 de junho de 2025


Das cordas do violino aos laços da paz: o caminho de superação de Paganini em meio às guerras
A última corda de Paganini ecoa em 2025 como símbolo de resistência, inspirando ação e esperança em meio a guerras e crises globais
Em 12 de outubro de 1829, o Teatro Nacional de Varsóvia, Polônia, foi palco de um evento que transcendeu a música, tornando-se um símbolo eterno de resiliência. Niccolò Paganini, aos 46 anos, era uma lenda viva, um violinista cuja fama atravessava continentes. Sua técnica inigualável atraía multidões ansiosas por presenciar sua genialidade, marcada por uma habilidade que parecia desafiar as leis da física.
Naquela noite, ele subiu ao palco para executar o Capricho nº 24, uma obra de virtuosismo extremo, exigindo precisão quase sobrenatural. A orquestra, conduzida por um maestro atento, preparava-se para acompanhar suas notas impecáveis. O público, em êxtase, aguardava um espetáculo memorável, digno da reputação do mestre.
No auge da apresentação, um estalo cortou o ar: uma corda de seu violino se rompeu. A orquestra silenciou, o maestro hesitou, e um murmúrio de surpresa percorreu a plateia. Sem demonstrar hesitação, Paganini continuou, extraindo sons impossíveis do instrumento danificado, como se desafiasse o próprio destino.
Antes que o público pudesse processar o feito, outra corda se partiu. A tensão no teatro cresceu, mas Paganini, com duas cordas, ajustou a melodia, mantendo a intensidade da performance. Um terceiro estalo anunciou uma ruptura final: restava apenas uma corda. O que poderia ter sido o fim tornou-se o início de algo extraordinário.
Com uma única corda, Paganini criou uma sequência de notas que levou o público de um silêncio atônito a uma ovação ensurdecedora. Naquela noite, ele não apenas salvou um concerto; redefiniu o que significa transformar caos em arte, consolidando sua lenda como um ícone de superação e genialidade.
A última corda e o caos do mundo contemporâneo
A história de Paganini ressoa com força em 2025, em um mundo marcado por conflitos que testam os limites da resiliência humana. Em 1º de outubro de 2024, Israel lançou ataques aéreos contra o Irã, visando instalações nucleares, sob a alegação de que o programa nuclear iraniano representava uma ameaça existencial. O Irã retaliou em 2 de outubro com mísseis balísticos, matando 12 civis em Tel Aviv e ferindo 300, segundo o Ministério da Saúde de Israel. O Irã reportou 250 mortos, incluindo cientistas e civis, e danos significativos em Teerã e Isfahan, conforme a agência estatal IRNA. A escalada intensificou tensões regionais, com cidades de ambos os lados marcadas por escombros e medo.
Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia, justificando a ação como resposta à aproximação ucraniana com a OTAN, vista como uma ameaça devido aos 2.295 km de fronteira compartilhada, que poderiam abrigar bases militares ocidentais. Até junho de 2025, a ONU estima 10.982 civis mortos e 21.155 feridos na Ucrânia, com cidades como Mariupol e Kharkiv reduzidas a ruínas. Estimativas da BBC e do Ministério da Defesa ucraniano indicam cerca de 89.440 soldados russos mortos. A Ucrânia enfrenta uma crise humanitária com 3,7 milhões de deslocados internos, enquanto a Rússia lida com sanções econômicas severas e isolamento global, agravando a instabilidade interna.
Em 7 de outubro de 2023, o Hamas, grupo terrorista palestino, atacou Israel, matando 1.195 pessoas, incluindo 815 civis, e sequestrando 251, segundo o governo israelense. A resposta militar de Israel, iniciada em 27 de outubro, devastou Gaza, matando 55.104 palestinos e ferindo 127.394 até 11 de junho de 2025, segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA). O OCHA, criado em 1991 pela Resolução 46/182 da Assembleia Geral da ONU, coordena respostas humanitárias globais, mobilizando governos, ONGs e agências para fornecer ajuda emergencial, como alimentos, água e assistência médica, em crises como guerras e desastres naturais. Na Cisjordânia, 938 palestinos e 49 israelenses morreram. Gaza enfrenta a destruição de 70% de suas construções, com 1,9 milhão de deslocados, fome generalizada e colapso do sistema médico, enquanto a Cisjordânia sofre com operações militares e violência. Israel lida com perdas econômicas de US$ 67 bilhões, conforme o Banco de Israel, e traumas sociais profundos.
Esses conflitos, distintos em suas origens, compartilham com a história de Paganini uma lição humanista: quando todas as ferramentas parecem falhar, a capacidade de extrair sentido do caos define a essência da humanidade. A última corda pode ser a esperança, a solidariedade ou a determinação de reconstruir, mesmo em meio à destruição.
Persistência como ato de resistência
A persistência de Paganini ilumina uma verdade filosófica: adversidades são portas para capacidades inexploradas. Inspirado por Friedrich Nietzsche, que no conceito de amor fati propôs abraçar o destino, Paganini transformou cordas perdidas em uma nova linguagem musical. Em Gaza, voluntários organizam cozinhas comunitárias em meio a escombros, oferecendo alimento onde a fome reina. Na Ucrânia, professores lecionam em abrigos subterrâneos, mantendo a educação viva sob bombardeios. No Irã, cientistas persistem em pesquisas, apesar das tensões e sanções.
Na prática, a lição de Paganini é universal. Quando enfrentamos perdas — um emprego, uma relação, a saúde —, ele nos ensina a focar no que resta, recalibrando planos e transformando limitações em oportunidades. Em um mundo instável, onde conflitos e crises desafiam a ordem, persistir é um ato de rebeldia contra o desespero. É a afirmação de que, com uma única corda, ainda podemos criar harmonia, seja na reconstrução de uma comunidade ou na busca por soluções em meio ao caos.
Compromisso em tempos de crise
O compromisso de Paganini com sua arte e seu público é um modelo de dever inabalável. Ele poderia ter abandonado o palco, justificando-se pelo imprevisto, mas escolheu transformar vulnerabilidade em triunfo. Esse senso de responsabilidade ressoa profundamente em um mundo onde o compromisso com o outro é constantemente testado.
Na guerra Israel-Irã, a retórica beligerante abafa vozes que clamam por diálogo e paz. Na Rússia-Ucrânia, a destruição mútua desafia esforços diplomáticos para um cessar-fogo. Em Gaza e na Cisjordânia, a indiferença global agrava uma crise humanitária, com 82% de Gaza sob zonas militarizadas, segundo o OCHA. Paganini nos lembra que o compromisso — com a justiça, a verdade, a humanidade — eleva ações ordinárias a feitos extraordinários, capazes de inspirar mudanças.
Hans Jonas (1903-1993), filósofo alemão conhecido por sua ética da responsabilidade, defendia que nossas ações devem considerar o impacto nas futuras gerações. Em tempos de guerra e crise, nossas escolhas moldam o futuro. Jornalistas que arriscam a vida para relatar a verdade em zonas de conflito, ativistas que lutam por cessar-fogos e cidadãos que doam tempo e recursos para ajudar refugiados são Paganinis modernos. Eles tocam com paixão e propósito, transformando o caos em sementes de esperança.
Lições jornalísticas em um mundo em chamas
Para jornalistas, a história de Paganini é um guia ético e prático. Como ele trabalhou com uma única corda, jornalistas frequentemente operam com recursos escassos — prazos apertados, orçamentos reduzidos, acesso limitado a fontes. Sua criatividade ensina a humanizar números, como os 55.104 mortos em Gaza ou os 10.982 civis mortos na Ucrânia, dando voz aos 1,9 milhão de deslocados em Gaza e aos 3,7 milhões na Ucrânia. Essas histórias transformam estatísticas em rostos, dores e esperanças.
O compromisso de Paganini reflete a essência do jornalismo: informar com precisão, resistir à desinformação e manter a credibilidade. Sua confiança inspira jornalistas a buscar fontes confiáveis, como a ONU, o OCHA e a BBC, e a evitar narrativas polarizadas que alimentam divisões. Em coberturas de guerra, transformar desafios em narrativas impactantes é um ato de responsabilidade social, um chamado para iluminar a verdade e promover a empatia.
Um chamado à ação em tempos sombrios
A história de Paganini é um manifesto pacifista para nosso tempo. Em um mundo onde conflitos como os de Israel-Irã, Rússia-Ucrânia e Gaza-Cisjordânia revelam a fragilidade da ordem global, sua lição é clara: mesmo com todas as cordas rompidas, resta uma — e com ela, podemos criar algo extraordinário. Essa corda é a coragem de um voluntário em Gaza, distribuindo alimentos em meio à destruição; a resistência de um ucraniano, reconstruindo sua comunidade sob ameaça; a busca por diálogo no Irã, apesar das tensões.
Filosoficamente, Paganini nos convida a abraçar a imperfeição como parte da condição humana, convertendo falhas, perdas e medos em oportunidades de crescimento. Praticamente, ele nos desafia a agir: doar recursos para aliviar a fome em Gaza, dialogar para construir pontes de paz, criar soluções que promovam a reconciliação. A crise humanitária em Gaza e na Cisjordânia, onde 90% da população está deslocada e enfrenta fome e falta de assistência médica, segundo o OCHA, exige ação urgente.
Que a história de Paganini nos inspire a enfrentar o caos com coragem, transformar adversidades em conquistas e escrever, com paixão e humanidade, sinfonias de superação. Que cada um de nós, como ele, encontre sua última corda e toque com ousadia, propósito e esperança, construindo um futuro onde a paz prevaleça sobre o conflito.
19 de junho de 2025


Amnésia dos réus no STF é desmascarada pelas verdades irrefutáveis do golpe em avançada gestação
Os eventos de 8 de janeiro de 2023 são um alerta sobre a fragilidade da democracia
Nas últimas 48 horas, o Supremo Tribunal Federal (STF) transformou-se em um campo de batalha contra o vírus da amnésia seletiva. Réus de alta proeminência na vida pública brasileira, interrogados no inquérito que apura a trama golpista para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 1º de janeiro de 2023, parecem ter esquecido desde detalhes triviais até suas próprias ações. Sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o julgamento expõe uma conspiração que corroeu os alicerces da democracia, como um ácido que dissolve lentamente o tecido constitucional.
O inquérito, iniciado após os atos de 8 de janeiro de 2023, é um monumento jurídico. Centenas de provas – documentos, áudios, vídeos, perícias de celulares confiscados, gravações de reuniões nos palácios de Brasília e testemunhos de envolvidos – formam um arcabouço que torna a defesa dos réus cada vez mais frágil. A desfaçatez com que a mentira tenta se sustentar é quase ilimitada, desafiando a veracidade.
Um ex-presidente admitiu ter acusado três ministros do STF de corrupção, alegando cifras entre 30 e 50 milhões de dólares durante as eleições de 2022, sem provas, justificando como um “desabafo” de seu “temperamento”. “Me desculpe, não tive intenção de acusar”, disse ele a Moraes, em tom de retratação. Outro réu negou participação em reuniões filmadas, amplamente divulgadas nas redes sociais, onde aparecia em destaque. Essa amnésia, claramente seletiva, recorda apenas o que atenua os crimes – tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
Como jornalista e professor universitário esclareço que este tema não é recorrente em minha prática. Evito juízos políticos, focando em justiça social, preservação ambiental, transição energética, avanços tecnológicos, literatura criativa e o impacto das redes sociais na desumanização, onde o virtual sufoca o real.
A gravidade deste julgamento, porém, exige atenção. Minha análise baseia-se em documentos oficiais, transmissões da TV Justiça, publicações no YouTube do STF e reportagens confiáveis, garantindo uma abordagem apartidária. Este artigo apresenta os fatos, revelando a incredulidade diante de depoimentos que desafiam a lógica e a verdade.
Interrogatórios revelam contradições
Os interrogatórios, iniciados em 9 de junho de 2025, começaram com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e delator premiado. Ele confirmou a existência de uma minuta que previa estado de sítio e prisão de autoridades, incluindo Moraes. “O presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento. E fez algumas alterações no documento. De certa forma, enxugou o documento, retirando as autoridades das prisões”, disse Cid, mantendo apenas Moraes na lista. Cid relatou ter recebido recursos de Walter Braga Netto para financiar acampamentos e até um plano para assassinar o ministro.
Apesar de se dizer “observador”, Cid reforçou a tese da Procuradoria-Geral da República (PGR) de uma organização criminosa. Um momento de leveza rompeu a tensão: ao citar xingamentos contra Moraes, Cid provocou risadas, com o ministro retrucando que estava “habituado”.
Ainda no primeiro dia, o deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin, negou monitoramento ilegal de autoridades do STF e do TSE. Acusado de disseminar desinformação, ele admitiu um relatório, sem provas, prevendo vitória de um candidato em 2022 no primeiro turno, mas insistiu que era “pessoal”. As evidências da PGR contradizem suas negativas, expondo-o como peça central em narrativas desestabilizadoras.
No dia 10, o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, enfrentou questionamentos sobre sua suposta oferta de tropas para ações golpistas. A PF aponta que, em 2022, ele apoiou a decretação de estado de sítio e uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Garnier negou, afirmando: “Nunca falei essa frase”, sobre tropas à disposição. Sobre o desfile de blindados em 2021, durante a votação da PEC do voto impresso, ele chamou de “coincidência”. “O presidente (Bolsonaro) não abriu a palavra para nós. O presidente expressou para nós o que me pareceu muito mais preocupações e possibilidades”, disse, negando debates sobre medidas antidemocráticas. Sua postura evasiva, com um “sorriso irônico”, contrastou com depoimentos de outros militares.
Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, foi questionado sobre uma minuta golpista encontrada em sua casa. Ele minimizou: “Não é a minuta do golpe, é a minuta do Google, porque está no Google até hoje”. Sobre falas agressivas, como “todos iam se foder”, ele se desculpou: “Peço desculpas pelas palavras, era uma reunião fechada. Acabei me excedendo”. Torres negou provas de fraudes nas urnas, afirmando que relatórios sugeriam apenas “melhorias”. “Se perder a eleição, já era. Não há mais o que fazer”, disse, em diálogo com Braga Netto, tentando contextualizar sua posição.
O general Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, optou por responder apenas à sua defesa, exercendo o direito ao silêncio. Questionado sobre desinformação eleitoral, negou: “Não, eu não tinha nem tempo para fazer isso”. Sobre o plano “Punhal Verde e Amarelo”, que visava assassinatos, ele afirmou: “Nunca soube de trama golpista e de ‘gabinete de crise’”. “Abin nunca foi utilizada para fins escusos”, disse, defendendo a gestão de Ramagem. Sua estratégia evitou confrontos, mas não dissipou as acusações.
O interrogatório do ex-presidente, na tarde de terça-feira, foi tenso. Acusado de liderar a trama, ele enfrentou provas como mensagens, áudios e a delação de Cid. Sua narrativa de inocência desmoronou em contradições e lapsos. Questionado sobre a minuta golpista, hesitou: “Não havia clima e oportunidade para qualquer ação fora da Constituição”. Respostas evasivas forçaram Moraes a reformular perguntas, enquanto ele pedia desculpas por falas gravadas: “Me desculpe, não tive intenção de acusar”. “Eu tenho que provar que sou inocente ou eles têm que provar que sou culpado?”, questionou antes da sessão, sugerindo perseguição.
O general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, negou conhecimento dos atos de 8 de janeiro, classificando-os como “baderna”, não golpe. “Aquilo ali não é golpe em lugar nenhum. Aquilo foi uma baderna”, disse. Sobre reuniões onde se discutiu GLO, ele se surpreendeu com perguntas do advogado: “Vai me perguntar sobre reunião, cara?”. Sua defesa tentou contextualizar, mas as provas sugerem maior envolvimento. “Você não combinou comigo, viu? Mas tudo bem”, disse ao advogado, gerando risadas e constrangimento.
Uma conspiração contra a Constituição
O julgamento inclui Braga Netto, preso e ouvido por videoconferência. A PGR aponta ações coordenadas, como a criação de uma “Comissão de Regularidade Eleitoral” e o plano “Punhal Verde Amarelo”, que previa assassinatos. A gravidade dos crimes é como um tribunal que julga a tentativa de incendiar a Constituição, um fogo que consome as vigas da democracia.
Transmitidos ao vivo, os interrogatórios marcam um momento histórico. Pela primeira vez, um ex-chefe de Estado e aliados são confrontados por tentativa de golpe. O STF, alvo de ataques desde 2021, demonstra transparência e rigor.
O julgamento intensifica a polarização: alguns falam em “caça às bruxas”, outros celebram a responsabilização. Como professor universitário da área de ciências humanas, vejo uma chance de fortalecer as instituições, se conduzido com imparcialidade.
As sessões, até 13 de junho, devem esclarecer o papel dos réus, preparando o julgamento final, no segundo semestre. Condenações podem resultar em até 46 anos de prisão, redefinindo o cenário político.
Os eventos de 8 de janeiro de 2023 são um alerta sobre a fragilidade da democracia. Como jornalista, acredito que a verdade, como defendida por Moraes, deve prevalecer. Como humanista, espero que este capítulo inspire uma sociedade mais justa, onde o respeito às instituições seja inegociável. O desfecho dirá se o Brasil sairá mais forte ou dividido.
Quem viver, verá!
11 de junho de 2025


Sentença judicial confronta humor tóxico e preconceituoso de Leo Lins. Já era tempo
Até quando permitiremos que ela seja disfarçada de piada? No Brasil, onde minorias lutam por sobrevivência, a empatia deve prevalecer. Sempre.
Em 3 de junho de 2025, o humorista Léo Lins foi condenado a oito anos e três meses de prisão em regime fechado pela 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Ele proferiu discursos preconceituosos contra minorias em seu show “Perturbador”, de 2022, no YouTube.
A sentença impõe multa de R$ 1,4 milhão e indenização de R$ 303,6 mil por danos morais coletivos. O caso reacende o debate sobre os limites do humor e da liberdade de expressão. Isso ocorre em um contexto de redes sociais sem regulamentação eficaz.
Lins cometeu crimes, e a decisão reforça que piadas não podem ser pretexto para incentivar o ódio. Esse ódio alimenta a violência física e psicológica contra grupos historicamente vulneráveis, um problema grave no Brasil atual.
Um show de intolerâncias
O caso começou com uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF). O órgão apontou que Lins fez piadas ofensivas contra negros, pessoas LGBTQIA+, indígenas, nordestinos, judeus, evangélicos, idosos, obesos, pessoas com deficiência e soropositivos.
O vídeo alcançou mais de três milhões de visualizações antes de ser retirado em 2023. A juíza Barbara de Lima Iseppi considerou o show um “show de intolerâncias” que estimula violência verbal e intolerância.
A sentença destaca que Lins admitiu o caráter preconceituoso de suas falas, demonstrando dolo e descaso com as vítimas. A liberdade de expressão, diz a juíza, não é permissão para discurso discriminatório.
A situação no Brasil é gravíssima, com dados que revelam desigualdades e violências. Pessoas trans vivem, em média, apenas 35 anos, reflexo da transfobia estrutural que permeia a sociedade.
Todos os dias, há 124 denúncias de pedofilia, a maioria em casa. Esse número, ironizado por Lins, é provavelmente subnotificado, escondendo uma realidade ainda mais sombria.
Uma pessoa negra tem quase três vezes mais chances de ser assassinada do que uma branca. Em 2024, quatro mulheres foram mortas por dia, vítimas de feminicídio.
Esses números não são apenas estatísticas. São vidas destruídas por uma cultura de intolerância que discursos como os de Lins ajudam a perpetuar.
Reações polarizadas e consequências globais
A condenação gerou reações polarizadas. O jornal O Estado de S. Paulo defendeu Lins, dizendo que “não se pode punir quem faz piada”. Essa visão ignora o impacto de discursos que normalizam a discriminação.
Piadas que reforçam estereótipos não são inofensivas. Elas alimentam um ciclo de violência, tanto psicológica quanto física, contra grupos vulneráveis. Fábio Porchat e Antônio Tabet criticaram a sentença, alegando censura à arte cômica. Já Bruna Braga defendeu a punição, destacando que racismo não é humor.
Juristas, como Welington Arruda, reforçam que a Constituição veda discursos de ódio. Isso vale mesmo em contexto artístico, quando promovem exclusão e humilhação.
A sentença enfatiza que a liberdade de expressão não é absoluta. O humor não pode ser “passe-livre” para crimes de ódio, diz a juíza. O agravante da pena considerou a ampla divulgação na internet. O contexto de “descontração” mascara a gravidade das ofensas, segundo a decisão.
A sentença alinha-se à Lei 7.716/89, que criminaliza a discriminação racial, e ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela protege os direitos humanos.
No Brasil, onde a violência contra minorias é endêmica, essa sentença lembra que palavras têm peso. Elas geram consequências reais e duradouras.
Casos semelhantes ocorreram em outros países. Nos EUA, em 2023, Dave Chappelle enfrentou ação civil por piadas transfóbicas em “The Closer” na Netflix.
Grupos LGBTQIA+ conseguiram indenização de US$ 2 milhões. O tribunal de Nova York considerou que as falas incitavam discriminação e violência.
Na França, Dieudonné M’bala M’bala foi condenado em 2022 a dois anos de prisão. Suas piadas antissemitas promoviam ódio racial e negacionismo.
No Reino Unido, Count Dankula foi multado em £800 em 2018. Ele ensinou seu cão a fazer saudações nazistas, considerado “grosseiramente ofensivo”.
Esses casos mostram que, globalmente, o humor não isenta a propagação de preconceitos. A justiça está mais atenta a discursos de ódio.
Um chamado à empatia
Nós, homens hétero, brancos e cisgênero — cuja identidade de gênero corresponde ao sexo atribuído ao nascer —, jamais sentiremos essas dores. Não vivemos o medo constante ou a desumanização por piadas.
Podemos e devemos exercer empatia. Isso falta em Lins e em defensores como o Estadão, que ignoram as dores alheias.Quero deixar claro que não sou contra humoristas, comediantes, artistas de rua, muito pelo contrário. Respeito profundamente os palhaços, malabaristas e performers que exercem sua arte com dignidade. Mas uma metáfora me veio à mente: Léo Lins é um palhaço de rua, atirando balões de piadas que estouram com um gás de extremo mau odor, como bombas de efeito moral, cheias de veneno preconceituoso.
Ele ri, achando que só intoxica os “outros”, mas o fedor gruda nele e em todos nós. Ridicularizar um humano é pisar no tapete que compartilhamos. Uma civilização decente joga fora esses balões, porque ninguém é dessemelhante, e rir do outro é só exibir a própria cara de bobo.
A condenação de Lins é um chamamento para percebermos o quão doente está nossa sociedade. Ela ri ao humilhar quem não segue a manada. Pessoas que lutam para ser quem são tornam-se vítimas. São desumanizadas por quem as torna dessemelhantes, negando sua dignidade.
Em redes sociais ainda sem regulação, ataques a minorias são travestidos de “liberdade de expressão”. A condenação de Lins é um precedente importante. O Judiciário está atento ao impacto de discursos discriminatórios, especialmente os amplificados digitalmente.
A defesa de Lins, porém, anunciou recurso. Eles argumentam que as piadas não incitavam preconceito, apenas divertiam. Essa narrativa não apaga o dano nem a responsabilidade.
A sociedade brasileira deve equilibrar liberdade criativa e responsabilidade. Não se pode oprimir em nome do entretenimento.
Casos como este reforçam a necessidade de combater o extremismo. Devemos proteger a dignidade humana com um humor que una.
A decisão, ainda passível de revisão, é um passo contra a banalização do ódio. É um convite à reflexão sobre a violência verbal.
Até quando permitiremos que ela seja disfarçada de piada? No Brasil, onde minorias lutam por sobrevivência, a empatia deve prevalecer. Sempre.
08 de junho de 2025


Retrato do Brasil no Censo 2022: evangélicos desaceleram, católicos estabilizam e novas espiritualidades florescem
Chega-se a um tempo da História em que se pode questionar se a geração atual acredita no Deus que elas criaram ou se creem no Deus que as criou
Em 2025, o Brasil vive uma transformação religiosa que desafia previsões e expõe a rica complexidade de sua espiritualidade. Veículos de comunicação têm destacado os dados do Censo 2022 do IBGE, que mostram os evangélicos crescendo a um ritmo mais lento do que o esperado, enquanto os católicos demonstram uma resiliência inesperada.
Há séculos que filósofos, pensadores e teólogos, além de estudiosos da religião nas universidades, buscam entender a extensão que a religião tem para influenciar as sociedades. Todos eles em algum tempo concluíram que o Deus é um só e que a humanidade é uma só. Em meados do século XIX percebe-se que a religião também é uma só —, as denominações é que são diversas, assim como seus ritos, dogmas e procedimentos teológicos. Variam… para permanecer a mesma.
Chega-se a um tempo da História em que se pode questionar se a geração atual acredita no Deus que elas criaram ou se creem no Deus que as criou.
O que levará essa metamorfose espiritual? E o que ela significa para o futuro do país? A resposta está nas entrelinhas de um Brasil plural.
Cenário religioso em mutação
O Censo 2022 confirmou uma tendência de décadas: o declínio do catolicismo e a ascensão evangélica.
Hoje, os católicos representam 56,7% da população brasileira, uma queda em relação aos 64,6% de 2010 e um contraste gritante com os quase 90% de 1970.
Os evangélicos cresceram de 22,2% para 26,9%, um aumento de 5,2%.
Em Seropédica, na Baixada Fluminense, os católicos, que eram quase 70% em 1991, hoje são apenas 19,5%. Igrejas evangélicas, como a Assembleia de Deus, multiplicaram seus templos, superando as paróquias católicas em número. Apesar disso, o ritmo de crescimento evangélico desacelerou, e a perda de fiéis católicos foi mais tímida do que em décadas passadas.
Há alguns anos, previa-se que os evangélicos ultrapassariam os católicos até 2032. No entanto, vários demógrafos e pesquisadores do fenômeno religioso acreditam que isso só deve ocorrer por volta de 2050. Entre 2010 e 2022, os católicos perderam 7,9 pontos percentuais (0,66% ao ano), enquanto os evangélicos ganharam 4,7 pontos (0,39% ao ano).
Mantendo essas taxas, a diferença atual de 29,8% entre os grupos seria eliminada em cerca de 28 anos a partir de 2022, ou seja, próximo a 2050.
Vejo essa mudança no ritmo o reflexo de uma dinâmica religiosa mais intrincada do que se imaginava, com fatores sociais e culturais desempenhando papéis cruciais. O futuro da religiosidade brasileira parece mais distante.
Acolhimento e flexibilidade: o apelo evangélico
O Censo 2022 entrevistou 203 milhões de pessoas, mas 8 milhões não responderam — quase 4% da população. Essa lacuna pode ter distorcido os resultados, especialmente para grupos menores.
Além disso, a que se considera que o IBGE não realizou pesquisas sobre religião nos 12 anos anteriores, criando um vazio de informações que dificulta a análise de tendências.
Especialistas apontam que mudanças na metodologia, como a possível classificação de crianças menores de 10 anos como “sem religião”, podem ter inflado esse grupo, afetando os percentuais de católicos e evangélicos.
Por que o crescimento evangélico desacelerou?
Analistas percebem que os católicos estão perdendo menos fiéis, possivelmente devido a iniciativas como o fortalecimento de movimentos carismáticos.
Lendo e relendo esse senso, com recorte da religião em 2022, constato uma flexibilização de valores: os evangélicos adotaram posturas menos rígidas, como a teologia da prosperidade, que vê o sucesso material como uma bênção divina.
Antes, valores morais estritos geravam limitações, mas hoje essa abertura atrai mais seguidores. O senso de comunidade também é um atrativo poderoso para os fiéis. Afinal, não se precisa queimar muitos neurônios para entender que as pessoas procuram um mundo diferente do atual, e que reflita valores atemporais como justiça, solidariedade, compaixão e amor, e por que não?
As pessoas abraçarão uma fé religiosa se sentirem que lá são realmente incluídas, respeitadas em seu potencial e em sua individualidade, em seus talentos e em suas formas de conexão com o Sagrado.
Enquanto escrevo esse artigo lembro de viagem que fiz a nova Deli, na Índia em dezembro de 1986, para participar da inauguração do Templo do Lotus, um belíssimo templo com nove pontas simbolizando as nove religiões mundiais unidas, localizado nos arredores da capital indiana, em Bahapur. No trajeto do hotel ao local do evento um velho Sikh de meia idade, com seu turbante róseo e um brilhante falso da mesma cor me disse: “Lord Khrishna ensinou que não importa por qual nome invoquemos a Deus, ainda assim, Ele nos responderá.”
Pensando bem o que todos desejam é um mundo melhor para viver do que o mundo real em que são obrigadas a viver.
A aposentada Dulce Albuquerque, que se converteu ao protestantismo, expressa sua experiência com fervor: “Na Igreja Católica, você participa da missa e logo se dispersa, sem laços. A igreja evangélica acolhe de verdade, está sempre de portas escancaradas, oferecendo um suporte contínuo. Deus é único, e aqui encontrei minha paz nono momento da minha vida em que mais precisava disso.”
Observadores analisam que o “efeito Francisco” freou o declínio católico. O Papa Francisco, com sua abertura — foi o primeiro papa a usar a palavra “gay” e a pregar uma mensagem de acolhida —, trouxe um novo fôlego à Igreja.
No Nordeste e no Sul, os católicos ainda são dois terços da população.
Os evangélicos têm maior presença no Norte e Centro-Oeste. Um traço único do Brasil é o sincretismo: muitos se declaram católicos no Censo, mas frequentam terreiros de umbanda ou candomblé, especialmente no Nordeste. Essa fluidez distorce os números, já que alguém pode ser contado como católico, mas não seguir a Igreja ativamente.
Crenças emergentes e refúgio espiritual
As religiões afro-brasileiras cresceram para 1%, e a religião espírita registrou uma pequena queda. O grupo “sem religião”, que alcança 9,3%, reflete uma tendência de secularização, mais lenta no Brasil do que na Europa, mas significativa entre jovens urbanos. Religiões menos conhecidas, como a Fé Bahá’í, também começam a ganhar espaço no país.
Em um Brasil marcado por desafios como guerras ideológicas, conflitos sociais e individualismo, essas tradições oferecem um refúgio espiritual genuíno. A Fé Bahá’í, com sua mensagem de unidade e igualdade entre todos os povos, acolhe corações em busca de paz. Outras religiões emergentes priorizam a espiritualidade à política, crescendo discretamente e trazendo renovação.
A Fé Bahá’í, em particular, tem raízes que remontam a 1844, quando emergiu com a visão de que todas as religiões compartilham uma essência comum, promovendo a harmonia entre os povos. Seus princípios de igualdade de gênero, educação universal e justiça social ressoam em um mundo fragmentado, oferecendo um caminho para a reconciliação e a unidade espiritual.
Um palco de transformação espiritual
Essa expansão, ainda que pequena, é um sinal esperançoso: em meio a um cenário onde a religião é por vezes usada como instrumento de poder, essas crenças trazem uma brisa de renovação, acalentando mentes e corações com a promessa de harmonia e conexão verdadeira. A religiosidade brasileira se diversifica, abrindo espaço para novas formas de fé.
Pesquisadores comparam a dinâmica religiosa a um palco de teatro onde os atores principais — católicos e evangélicos — trocam papéis em um roteiro imprevisível. Os católicos, com 56,7%, ainda são mais que o dobro dos evangélicos, que têm 26,9%. É uma proporção de 2 para 1, longe de um empate.
Os evangélicos avançam, mas como equilibristas cautelosos, sem a ousadia de um salto mortal que os leve à liderança. Enquanto isso, o grupo “sem religião”, as religiões afro-brasileiras e crenças emergentes como a Fé Bahá’í entram em cena, diversificando o espetáculo.
A transição religiosa no Brasil é um processo vivo, moldado por fatores culturais e sociais. sem querer ser vidente, imagino que o fenômeno “pastores em busca de votos e não pastores cuidando de ovelhas” já dá sinais evidentes de “fadiga do material”.
Mais cedo que mais tarde, fiéis de tantas denominações perceberão que tem sido não mais que massa de manobra para que seus líderes alcancem prosperidade material, elejam parlamentares e prefeitos país afora e não dêem trela a visão expressa há 2.000 anos na oração do Pai Nosso: “Venha nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu”.
Para compreender melhor essa metamorfose, pesquisas mais frequentes e metodologias precisas são essenciais.
Até lá, o Brasil seguirá sua jornada espiritual, equilibrando tradição, mudança e uma diversidade que é a essência de sua alma.
O futuro da religiosidade brasileira promete ser tão plural quanto seu povo, refletindo a riqueza de suas crenças.
07 de junho de 2025


Hoje, 5 de junho, Lula inscreve o Brasil na história francesa
Lula será celebrado pela Academia Francesa, propondo uma palavra para o dicionário. Sua luta e a cultura brasileira brilham
Neste 5 de junho de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cruzará as portas do prédio histórico da Academia Francesa, às margens do rio Sena, em Paris. A sessão solene, parte de sua visita de Estado, marcará um feito raro: Lula será o segundo brasileiro a receber tal honraria, após o imperador Dom Pedro II, em 1872.
Fundada em 1635 pelo Cardeal Richelieu – e não por Voltaire, como às vezes se imagina –, a Academia Francesa, liderada pelo escritor Amin Maalouf, celebrará Lula como membro honorário. Ele participará de um ritual singular: propor uma palavra para debate, que, se inédita e aceita, será inscrita no Dictionnaire de l’Académie com menção à sua autoria.
A cerimônia, reservada aos 40 “imortais”, será um diálogo entre nações. A linguagem, nesse contexto, emerge como um elo vital para a solidariedade global, unindo povos em um mundo dividido.
Cinco palavras brasileiras para o Dicionário Francês - A tradição da Academia Francesa de convidar um homenageado a propor uma palavra é uma oportunidade única para Lula deixar sua marca na língua francesa. Uma análise do Dictionnaire de l’Académie Française revela a ausência de termos brasileiros que capturam a essência de sua trajetória de resistência e luta.
Cinco palavras, profundamente enraizadas no Brasil, poderiam ser apresentadas: “resiliência”, que reflete sua capacidade de superar pobreza, repressão e prisão política; “comunalidade”, um neologismo para expressar a união de comunidades pelo bem coletivo; e “esperançar”, verbo inspirado em Paulo Freire, que traduz a construção ativa da esperança.
Também se destacam “sindicalidade”, simbolizando o movimento operário que Lula liderou, e “justiça social”, conceito universal que, na formulação brasileira, carrega sua luta contra a desigualdade. Essas palavras, inéditas ou reinterpretadas, são pertinentes por sua capacidade de unir nações em torno de valores humanos, refletindo a vida de um líder que transformou adversidades em caminhos para o futuro.
A tradição da palavra na Academia Francesa - A Academia Francesa, com quase quatro séculos de história, é um pilar da língua e da cultura. Ela inspirou a criação da Academia Brasileira de Letras por Machado de Assis em 1897. Sua missão de preservar o francês e promover a literatura alcançou projeção global.
A tradição de convidar figuras eminentes para debater uma palavra em sessões solenes é um ritual de profundo simbolismo. O termo escolhido, se novo e aprovado, é registrado no Dictionnaire de l’Académie com crédito ao proponente, eternizando sua contribuição.
Para Lula, a palavra – possivelmente ligada à equidade ou à democracia – será debatida em um mundo que anseia por renovação. A escolha, ainda não revelada, é aguardada com expectativa, prometendo ecoar os ideais que guiaram sua trajetória de líder operário a estadista global.
Um evento histórico - A homenagem está marcada para as 15h de 5 de junho, no coração de Paris. Lula será recebido com honras protocolares, incluindo uma cerimônia no Boulevard des Invalides, com hinos nacionais e revista de tropas.
Seguirá uma reunião bilateral com o presidente Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu e um jantar de Estado. No dia 6, a Universidade Paris 8, em Saint-Denis, concederá a Lula o título de doutor honoris causa.
Depois, ele viajará a Toulon e Nice, onde discutirá a preservação dos oceanos e a COP 30, que o Brasil sediará em Belém. Tanto a mídia progressista quanto a tradicional brasileira deram amplo destaque a essa merecida homenagem, sublinhando sua raridade, reservada a apenas 19 chefes de Estado em quatro séculos.
Na França, a RFI enfatiza o fortalecimento das relações bilaterais. No X, vozes como @BohnGass celebram Lula como símbolo de resistência, enquanto @ThiagoResiste prevê um legado linguístico duradouro.
Cultura no século XXI: A alma dos povos - No século XXI, onde a inteligência artificial parece ofuscar a inteligência humana, a cultura permanece um espelho da alma coletiva. Desde os mitos antigos até as revoluções literárias modernas, ela molda a identidade dos povos, dando voz a suas aspirações e angústias.
No Brasil, Machado de Assis, com “Ao vencedor, as batatas; ao vencido, o desprezo ou a compaixão” (Quincas Borba), desmascarou a ironia cruel da desigualdade social. Em Portugal, Fernando Pessoa, com “Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal! Tudo vale a pena quando a alma não é pequena” (Mar Português), capturou a ousadia e a melancolia de um povo marítimo.Na Rússia, Lev Tolstói, com “Todas as famílias felizes se parecem; cada família infeliz é infeliz à sua maneira” (Anna Karenina), revelou a singularidade do drama humano. Na Inglaterra, Charles Dickens, com “Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos, era a idade da sabedoria, era a idade da tolice” (Um Conto de Duas Cidades), refletiu as contradições de uma era em transformação. Na França, Émile Zola, com “A verdade está a caminho, e nada a deterá” (J’Accuse…!), defendeu a justiça com coragem que abalou o mundo.
Esses gigantes literários mostram que a cultura, mais que a tecnologia, revela a essência de um povo, uma época, uma nação.
Os últimos cinco homenageados - Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, foi homenageado em 2019. Jurista e defensor da lusofonia, ele debateu “saudade”, um termo existente, mas enriquecido por sua reflexão sobre a identidade portuguesa, que ressoa com a alma de um povo.
Juan Carlos I, então rei da Espanha, recebeu a honraria em 2000. Reconhecido pela transição democrática, ele propôs “liberté”, um conceito universal revisitado à luz da democracia espanhola, marcando a sessão com sua visão de liberdade.
Václav Havel, dramaturgo e presidente da República Tcheca, foi celebrado em 1990. Sua palavra, “vérité” (verdade), destacou a transparência em regimes autoritários, refletindo sua luta como dissidente contra a opressão.
Leopold Senghor, poeta e estadista do Senegal, foi homenageado em 1981. Ele defendeu “négritude”, aprofundando a identidade africana na francofonia, um marco na valorização da cultura negra em escala global.
Anwar Sadat, presidente do Egito e Nobel da Paz, foi agraciado em 1975. Sua palavra, “paix” (paz), foi revitalizada por sua diplomacia no Oriente Médio, leaving um legado de coragem e diálogo.
Palavras em crise: Reflexões sobre nosso tempo - Vivemos tempos em que as palavras, atordoadas, vagam sem sentido nos dicionários. Nos últimos dez anos, ideias como o terraplanismo, que nega a ciência básica, ganharam espaço. O negacionismo científico, como a resistência às vacinas durante a pandemia de COVID-19, custou milhões de vidas.
A contradição é gritante: a ONU, criada para promover a paz, tem seu Conselho de Segurança liderado pelos cinco maiores fabricantes de armas – Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França –, todos com arsenais nucleares.
Enquanto guerras geram cemitérios diários, a missão de paz da ONU é desafiada por essa ironia estrutural. As palavras, que deveriam guiar a humanidade, precisam recuperar sua força, sua verdade, sua capacidade de unir.
Um legado para o futuro - A homenagem a Lula na Academia Francesa é mais que um reconhecimento; é a consagração do Brasil como uma voz que ecoa no concerto das nações. Sua palavra, seja “esperançar”, “comunalidade” ou outra, será um sopro de vida em um mundo de incertezas.
A Academia, guardiã da linguagem há quase quatro séculos, testemunhará em 5 de junho o poder das palavras para tecer laços sobre divisões. A história nos ensina que Átila, o rei dos hunos, que viveu no século V, equivocou-se ao declarar que “a palavra é uma fonte de mal-entendidos”.
Longe de semear discórdia, a palavra é o alicerce da civilização, o fio que costura a esperança. Quando Lula subir ao púlpito, sua voz será um horizonte, provando que a palavra, em sua essência mais pura, é a fonte da unidade, capaz de curar feridas, inspirar sonhos e tornar possível um futuro de justiça e fraternidade.
https://www.brasil247.com/blog/hoje-5-de-junho-lula-inscreve-o-brasil-na-historia-francesa
05 de junho de 2025


Inovação empreendedora redesenha o Brasil e o mundo
O empreendedorismo é a força escultórica que está redesenhando o trabalho, a prosperidade e as aspirações humanas no século XXI
O empreendedorismo contemporâneo é como um vasto ateliê global, onde cada empreendedor, munido de ferramentas digitais e paixão, esculpe sua visão única em obras que transformam a economia e a sociedade. Nesse estúdio vibrante, ideias brutas ganham forma, moldadas por inovação e resiliência, criando um mosaico econômico que redefine o presente e ilumina o futuro. Longe de ser uma moda passageira, o empreendedorismo é a força escultórica que está redesenhando o trabalho, a prosperidade e as aspirações humanas no século XXI.
Essa revolução, silenciosa, mas impactante, responde às fissuras de um sistema empregatício tradicional que, para muitos, deixou de oferecer estabilidade ou realização. É uma resposta à necessidade de autonomia, propósito e adaptação em um mundo em constante mutação. No Brasil e globalmente, milhões de pessoas estão pegando o cinzel do empreendedorismo para esculpir seus próprios caminhos, transformando desafios em oportunidades e moldando um novo paradigma econômico.
Forjando futuros no ateliê de 2025 - Em 2025, empreendedores enfrentam um cenário global desafiador, com instabilidade econômica, concorrência feroz e mudanças tecnológicas aceleradas. No Brasil, burocracia, tributação elevada e acesso limitado a crédito intensificam essas barreiras. Globalmente, automação e inteligência artificial exigem inovação contínua.
Esses desafios, dinâmicos e voláteis, pressionam margens e elevam custos. Contudo, estratégias como diversificar receitas, explorando novos mercados, e firmar parcerias com startups ou universidades fortalecem a resiliência e ampliam recursos.
Capacitação contínua é outra chave. Empreendedores que dominam análise de dados ou marketing digital ganham vantagem. No Brasil, programas de apoio e mentorias ajudam a superar entraves locais. Globalmente, plataformas online democratizam conhecimento.
Essas abordagens, combinadas com persistência, transformam adversidades em oportunidades, permitindo que empreendedores prosperem em um ateliê cada vez mais complexo.
Pixelizando o ateliê global - A tecnologia é a ferramenta primordial desse ateliê empreendedor. A internet transformou qualquer pessoa com um dispositivo conectado em um escultor de alcance global. Plataformas como Mercado Livre, Etsy e Amazon reduziram os custos de entrada em mercados.
O custo de iniciar um negócio digital caiu 85% nas últimas duas décadas, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O comércio eletrônico global atingiu US$ 6,9 trilhões em 2024 e deve alcançar US$ 9,2 trilhões até 2027, conforme a Statista.
No Brasil, essa transformação é monumental. O país é o terceiro mais empreendedor do mundo, com uma taxa de empreendedorismo total (TTE) de 33,4% em 2024, segundo o Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Isso equivale a 47 milhões de brasileiros entre 18 e 64 anos envolvidos em negócios próprios.
Os microempreendedores individuais (MEI) alcançaram 17,1 milhões de registros em 2025. Eles representam 72% das empresas formais, contribuindo com R$ 1,6 trilhão para o PIB em 2024, conforme o Sebrae.
Montagem global de inovação - As motivações para essa explosão empreendedora são complexas. A tecnologia democratizou ferramentas antes exclusivas de corporações. Softwares de gestão e inteligência artificial permitem que pequenos negócios alcancem eficiência global.
A instabilidade do mercado de trabalho, com a taxa de desemprego no Brasil em 7,5% em 2024 (IBGE), empurra muitos para o empreendedorismo. A informalidade, que afeta 37% dos trabalhadores, reforça essa tendência.
A busca por propósito move jovens. Uma pesquisa da Deloitte de 2024 mostrou que 79% dos brasileiros da Geração Z priorizam carreiras alinhadas a valores pessoais. Crises econômicas globais destacam a importância de diversificar fontes de renda, segundo o Banco Mundial.
O empreendedorismo floresce em diversidade. No Vale do Silício, startups captaram US$ 350 bilhões em 2024 (Crunchbase). Londres viu fintechs como Wise levantarem US$ 1,3 bilhão. Na Ásia, o e-commerce movimentou US$ 1,5 trilhão.
No Brasil, fintechs como Nubank atenderam 70 milhões de “desbancarizados” em 2024 (Banco Central). Startups de agritech, como a Agrosmart, aumentaram a produtividade rural em 22% (Embrapa). Plataformas como Conexa Saúde e Alura ampliam acesso a serviços essenciais.
Esculpindo o empreendedorismo brasileiro - No Brasil, o Sebrae Nacional é o mestre escultor que molda esse ateliê empreendedor. Em 2024, capacitou 10,2 milhões de empreendedores, gerando 1,5 milhão de empregos, segundo seu relatório anual.
Programas como “Empretec” e “ALO” reduziram a taxa de mortalidade de pequenos negócios de 20% para 15% em cinco anos. A instituição oferece acesso a crédito, consultoria estratégica e redes de negócios.
Sua Política Nacional de MPEs, lançada em 2024, impulsionou 1,4 milhão de novos CNPJs no primeiro trimestre de 2025. Com 78% sendo MEIs, o Brasil alcançou o 6º lugar em empreendedores estabelecidos globalmente (GEM 2024).
Ao formalizar negócios e promover inclusão, o Sebrae fortalece a economia e esculpe uma sociedade mais equitativa, onde trabalhadores se tornam agentes de mudança.
Tendências para 2025 antecipam futuro - Para 2025, setores emergentes se consolidam. A sustentabilidade atraiu 40% mais investimentos em 2024 (Bloomberg). A inteligência artificial personaliza experiências, com 65% das PMEs globais adotando IA (Salesforce).
A economia compartilhada expande-se para saúde e educação. Experiências híbridas (físico-digital) e o empreendedorismo social, que combina lucro e impacto, ganham impulso.
O empreendedorismo é mais que a criação de empresas; é a arte de esculpir um futuro em que inovação, inclusão e prosperidade convergem. Cada empreendedor adiciona uma peça única ao mosaico econômico global.
No Brasil, 17,1 milhões de MEIs e startups moldam o presente. No mundo, a criatividade não tem fronteiras. Com tecnologia, propósito e suporte crucial institucional, os empreendedores delineiam um destino vibrante, uma obra-prima de cada vez.
https://www.brasil247.com/blog/inovacao-empreendedora-redesenha-o-brasil-e-o-mundo
02 de junho de 2025


Sebastião Salgado: a lente que chorava o mundo
Descanse em luz, Sebastião. Obrigado por nos ensinar a ver
Hoje, despedi-me em silêncio de um dos homens que mais ensinaram a ver. Sebastião Salgado morreu aos 81 anos, e comigo — como com milhares — permanece viva a comoção de quem aprendeu com ele a olhar o mundo não apenas com os olhos, mas com a alma.
Conheci Salgado primeiro por suas imagens. Muito antes de ouvir sua voz grave, ou de vê-lo receber prêmios e honrarias ao redor do mundo, fui atingido — como por uma onda súbita — por suas fotografias em preto e branco. Não era só a ausência de cor que me impressionava, era a presença de uma humanidade imensa. Ele fotografava migrantes, trabalhadores, povos indígenas, florestas ameaçadas, o planeta ferido. Mas o que seus retratos realmente capturavam era a dignidade. E era impossível não se comover.
Play Video
Salgado começou sua carreira como economista. Formado, atuou em instituições respeitadas, como a Organização Internacional do Café. Mas algo dentro dele pulsava diferente. Ao tomar pela primeira vez uma câmera fotográfica em mãos — emprestada de Lélia, sua companheira de vida — entendeu, talvez de forma súbita e inevitável, que seu destino estava ali: não em planilhas, mas em pessoas.
Desviou-se, então, da rota previsível e mergulhou na incerteza da arte. Mas sua arte nunca foi contemplativa. Era denúncia, era escuta, era presença. Era — como diria El País em sua belíssima homenagem — um compromisso visual com os grandes desafios contemporâneos.
Vi, em sua obra Trabalhadores, a exaustão épica dos corpos que sustentam o mundo invisível. Em Êxodos, acompanhei multidões em fuga, e me senti responsável por cada lágrima retratada. Em Gênesis, vi um Salgado mais místico, quase profético, percorrendo os últimos redutos intocados da Terra como se registrasse não apenas paisagens, mas orações. E em seu derradeiro testamento visual, Amazônia, ele se fez mais do que fotógrafo: tornou-se guardião. Passou oito anos realizando expedições pela floresta, convivendo com povos originários, mapeando uma beleza ameaçada. Cada imagem era um grito silencioso contra o colapso ambiental.
Não se pode falar de Salgado sem falar de Lélia. Juntos, fundaram o Instituto Terra, e transformaram uma fazenda degradada no Vale do Rio Doce em floresta viva. Foram milhares de hectares reflorestados, milhões de árvores plantadas, centenas de nascentes reavivadas. Quando ele cansava da humanidade, voltava-se para a natureza — e lá reencontrava esperança.
Salgado foi reconhecido em todos os continentes. Venceu o Prêmio Príncipe de Astúrias, foi membro da Academia de Belas Artes da França, teve suas obras exibidas no MoMA de Nova York, na Maison Européenne de la Photographie, no Tate e no Louvre. Mas creio que o verdadeiro reconhecimento nunca esteve nas salas de museus. Estava nos olhos marejados de quem via suas fotos e se via nelas. Estava na lágrima que escorria por um rosto retratado e terminava no nosso.
Estávamos em novembro de 1998 e, por essa época, eu era editor da Letra Viva Editores. Tinha diante de mim o maior projeto editorial da minha vida: publicar Quem Está Escrevendo o Futuro? — um livro que nascia inspirado em um documento profundo e visionário da Casa Universal de Justiça, refletindo sobre o século XXI. A proposta era reunir 25 dos mais notáveis pensadores, filósofos e artistas contemporâneos para refletirem sobre os 100 anos que se encerravam e imaginarem os próximos cem. Sonhávamos alto: textos de autores como Adolfo Pérez Esquivel, José Ramos-Horta, Frei Betto, Moacyr Scliar, Luiz Gushiken, Leonardo Boff, Afonso Romano de Sant’Anna. Mas faltava algo essencial: o olhar de Sebastião Salgado.
Fiz dezenas de contatos. Era 1999, tempo de fax e telefonemas interurbanos. Liguei para vários países, falei com cada autor mais de uma vez. Com Salgado, falei pelo menos meia dúzia. Ele estava em Paris. A cada ligação, mostrava uma generosidade quase comovente. Quando, depois de uma hora explicando o projeto, ouvi suas primeiras palavras, jamais esqueci: “Washington amigo, estou dentro desse projeto. E já quero dizer que vou selecionar 21 fotografias pra ele.” Aquilo me desmontou. É que esperava uma ou duas fotos. Começamos então uma bela parceria: trocávamos ideias sobre as legendas, a sequência das fotos, o sentido maior que o livro deveria ter. Ele queria saber quem mais havia participado, desejava ler alguns textos, mandava abraços para autores que admirava. Ele era assim, despojado e abarrotado de talento e sensibilidade.
Essa experiência me ensinou algo que nunca mais esqueci: o olhar de Salgado não vinha da técnica, vinha do coração. Ele fotografava com o sentimento de quem se indigna e com a delicadeza de quem ama. Aquela doação generosa ao livro não foi apenas uma colaboração profissional. Foi um gesto de confiança, um reconhecimento silencioso de que os sonhos, quando verdadeiros, encontram eco. Quem Está Escrevendo o Futuro? ganhou corpo, ganhou alma. E em cada página, as imagens dele — dos lavradores, dos indígenas, dos sem-terra — pareciam sussurrar: “o futuro se escreve agora, com justiça e com compaixão.”
Hoje, ao saber de sua partida, senti um vazio que não explica. Como se o mundo, de repente, tivesse perdido um pouco de sua luz — ou, melhor, de sua sombra, pois era na penumbra que Salgado encontrava sentido. Suas fotografias, com aqueles céus grandiloqüentes, quase bíblicos, pareciam painéis renascentistas. Em Serra Pelada, por exemplo, ele capturou a massa humana como um formigueiro incansável, mas também deu rosto, nome e alma a cada trabalhador coberto de lama. Aqueles homens, perdidos na narrativa diária, ganhavam vida em suas lentes. E eu, ao ver essas imagens, sentia-me pequeno, mas também chamado a ser mais humano.
Salgado dizia que a fotografia era seu idioma. E como ele falava! Suas imagens em preto e branco, dotadas de uma profundidade assustadora e bela, eram mais que retratos: eram textos, poemas, manifestos. Em Terra, projeto monumental sobre as ocupações do MST, ele uniu sua visão a um prefácio de José Saramago e a canções de Chico Buarque, como Assentamento, interpretada com força monumental por Renato Brás. O livro, lançado em 1997, não era apenas um registro; era um grito por justiça, um canto pela terra. Lembro-me de ouvir falar das palestras de Salgado, Saramago e Chico, três gigantes da cultura lusófona, viajando o mundo para falar daquele projeto. Como não se emocionar com tamanha potência?
Havia algo de mágico na forma como Salgado estruturava suas imagens. Ele trabalhava com filmes sensíveis, capturando todos os planos em foco, do primeiro ao último. Nada escapava à sua lente: nem o suor no rosto de um mineiro, nem o horizonte carregado de nuvens. Em Outras Américas (1986), ele revelou os povos originários do continente, suas lutas e sua beleza. Em Êxodos, abordou as migrações com uma sensibilidade que hoje, em tempos de recrudescimento contra imigrantes, soa profética. Suas fotos humanizavam os invisíveis, davam biografia aos sem-nome, e isso me toca profundamente. Como não chorar diante de um olhar que, em um clique, revela a alma?
Sua trajetória é um exemplo raro. Salgado transformou viagens em grandes projetos, que viraram livros e exposições globais. Começou como fotojornalista, capturando momentos históricos como o atentado a Reagan nos anos 80, mas logo deu um salto. Com a venda dessas fotos, financiou suas primeiras grandes expedições. Serra Pelada foi o marco inicial, um “estouro” que o colocou no mapa. Depois vieram Outras Américas, Terra, Gênesis e Amazônia. Cada projeto era uma janela para o mundo, um convite a ver o que não queríamos enxergar. E eu, que sempre admirei sua capacidade de empreender, sinto orgulho de um brasileiro que, com uma câmera, desafiou o esquecimento.
Hoje, a imprensa internacional — jornais franceses, italianos, do mundo todo — reverencia Salgado com respeito absoluto. E no Brasil, onde tantas vezes perdemos a memória, suas fotos seguem como um documento histórico vivo. Lembro-me de sua história de menino, apostando corrida com o trem em um cavalinho, na época das Marias-Fumaças. Ele contava isso com um brilho nos olhos, como se ainda sentisse o vento no rosto. Talvez ali, na infância, já estivesse o germe de sua inquietude, de sua vontade de correr contra o tempo para capturar o efêmero.
Para mim, Salgado foi uma ponte entre o que somos e o que ainda podemos ser. Um tradutor visual da dor e da esperança. Um poeta da luz que, em vez de escrever com palavras, escrevia com sombra. Neste dia em preto e branco, um grande jornal brasileiro escreveu que ele transformou a fotografia brasileira. Um elogio manco. Cada artista em sua atividade criadora transforma seu ofício. Por isso vou além: Tião ressignificou o papel do artista no mundo. Provou que uma câmera não é só um instrumento, mas um espelho. E que a beleza pode, sim, ser ferramenta de transformação.
Hoje, enquanto escrevo estas palavras, penso na floresta. Penso nas tribos que ele fotografou, nos mineiros cobertos de lama, nos refugiados atravessando desertos, nos pássaros em voo. Penso em Sebastião, que enxergava o invisível. E penso no silêncio que sua morte deixa. Mas também sei: sua lente não se quebrou. Apenas repousou. Porque seu legado continuará nos olhos de todos aqueles que, como eu, jamais voltarão a olhar o mundo da mesma forma.
Descanse em luz, Sebastião. Obrigado por nos ensinar a ver.
https://www.brasil247.com/blog/sebastiao-salgado-a-lente-que-chorava-o-mundo
24 de maio de 2025


A Ética da Representação em agonia: O Parlamento à beira do abismo
Entre gritos, vídeos e mentiras, o Brasil assiste à degradação do papel mais nobre da política: representar o povo com honra. Este texto é um chamado à lucidez
A democracia brasileira repousa sobre um princípio fundamental: a representação popular. Deputados federais e senadores são eleitos para serem a voz do povo no Congresso Nacional, carregando consigo a responsabilidade de legislar em prol do bem comum. Essa missão exige não apenas competência técnica, mas, sobretudo, ética e decoro no exercício do mandato.
A ética da representação implica agir com integridade, respeito e compromisso com os valores democráticos. Os parlamentares devem colocar os interesses da nação acima de ambições pessoais ou partidárias, buscando sempre o diálogo construtivo e a promoção da justiça social. Quando esses princípios são negligenciados, a credibilidade das instituições é abalada, e a confiança da população é corroída.
Infelizmente, o cenário atual do Congresso Nacional revela uma preocupante erosão desses valores. Casos de desrespeito, discursos de ódio e comportamentos inadequados têm se tornado frequentes, transformando o parlamento em palco de escândalos e confrontos que envergonham a nação.
Em 2014, o então deputado Jair Bolsonaro proferiu uma declaração abjeta no plenário da Câmara dos Deputados, afirmando que “não estupraria” a colega Maria do Rosário por considerá-la “feia”. Essa fala misógina gerou indignação nacional e resultou em ações penais por apologia ao crime e injúria. O Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia, e Bolsonaro tornou-se réu.
Em 2023, o deputado Nikolas Ferreira ocupou a tribuna do Congresso para zombar de pessoas trans. Com uma peruca loira, ridicularizou identidades de gênero e afirmou que “homens que se sentem mulheres” estão roubando o espaço das mulheres reais. O ato rendeu-lhe condenação por dano moral coletivo. O espaço legislativo, que deveria servir à escuta e à construção de consensos, foi transformado em um teatro de escárnio.
Durante a pandemia de COVID-19, entre 2020 e 2022, o deputado Osmar Terra usou sua visibilidade para atacar a ciência. Disseminou informações falsas sobre vacinas, negou evidências epidemiológicas e incentivou estratégias comprovadamente ineficazes. Em um país que sempre foi referência mundial em imunização, tais atitudes foram trágicas, colaborando com a disseminação da doença e o aumento do número de mortos.
O Congresso Brasileiro e o colapso da ética comezinha
Nos últimos anos, o plenário tem se tornado uma arena de agressões verbais, ataques pessoais e cenas que pouco ou nada lembram o espírito do debate democrático. Palavras como “ladrão”, “corrupto” e “mentiroso” são lançadas como mísseis, muitas vezes sem qualquer base factual. Em 2023, a ministra Anielle Franco foi alvo de falas carregadas de racismo e misoginia, evidenciando que parte do parlamento perdeu completamente o senso de responsabilidade com o discurso público.
Como professor que ministrou aulas sobre ética na administração pública durante oito anos no próprio Senado Federal, assisto com perplexidade — e profunda tristeza — ao espetáculo deprimente protagonizado por Suas Excelências. Saber que muitos dos que hoje atacam colegas, gritam, mentem ou até trocam socos em plenário já foram expostos ao conteúdo e à reflexão ética me faz constatar que não há escassez de formação, mas sim uma preocupante banalização da integridade como valor.
A escalada da violência retórica tem, não raramente, ultrapassado o limite da linguagem para desaguar em violência física. Parlamentares têm protagonizado cenas lamentáveis de socos, empurrões e pancadas dentro do Congresso, como se o confronto fosse não apenas argumentativo, mas corporal. A institucionalização da truculência, em pleno plenário, é mais um sintoma da falência do decoro.
Parlamentares ausentes por longos períodos, mas pontuais no recebimento de salários e verbas, também protagonizam esse teatro da negligência. Alguns desaparecem por meses em agendas paralelas no Brasil ou no exterior, enquanto o país continua à espera de soluções urgentes para a desigualdade, a saúde e a educação. A omissão se soma à ofensa.
Pior ainda: muitos que se fazem presentes nas sessões usam o espaço legislativo para autopromoção digital. Em vez de participarem efetivamente de debates cruciais à nação, passam o tempo gravando vídeos para redes sociais, com falas infladas de polêmica e vazio informativo. O plenário, então, converte-se em cenário para encenações, e o mandato se esvazia em curtidas.
Mentira deliberada como estratégia
Esse tipo de atuação não brota no vácuo. Ele nasce da crescente substituição da verdade pela conveniência e da razão pela retórica de impacto. A disseminação de fake news não é mais um acidente de percurso: tornou-se método. Parlamentares distorcem dados, fabricam inimigos e manipulam manchetes para alimentar narrativas que reforçam suas bolhas ideológicas. Isso destrói a capacidade do debate democrático de produzir sínteses — e instala uma lógica de confronto permanente.
Nesse ambiente, a mentira legislativa adquire status de estratégia. Uma verdade parcial, um dado isolado, um vídeo editado — qualquer artifício serve para inflamar os ânimos e manter viva a indignação seletiva. A busca honesta por soluções é substituída por slogans fáceis e teatralizações de moralidade. O dano à vida pública é profundo. E o povo, desorientado, passa a não saber mais em quem confiar.
Essa erosão do compromisso com a veracidade é agravada pela indiferença ao sofrimento concreto da população. Enquanto milhões enfrentam a fome, o desemprego e a falta de acesso a serviços básicos, o Congresso frequentemente se ocupa de pautas que servem apenas a interesses corporativos, ideológicos ou midiáticos. A ética da representação exige escuta, compaixão e coerência — não arrogância performática.
A ética como fundação da política
A ética, desde os tempos da filosofia clássica, é o fundamento do agir coletivo. Sócrates via o autoconhecimento como base para a ação justa. Platão sonhava com governantes filósofos — justos e íntegros. Aristóteles compreendia a política como desdobramento da ética, voltada à realização do bem comum. Essa herança não é uma abstração: ela estrutura as bases das democracias modernas. Sem ética, a política degenera em espetáculo e a justiça, em farsa.
Um país que negligencia a ética caminha como um edifício condenado, com trincas invisíveis que anunciam seu colapso iminente. A ausência de integridade nos representantes destrói a confiança nas instituições e abre espaço para discursos autoritários e soluções simplistas. Um Estado sem ética é como uma represa rachada: cedo ou tarde, a pressão explode — e o que se perde não são apenas votos, mas vidas e direitos.
Diante desse cenário, é urgente reconectar o exercício da política com a moral pública. O Parlamento precisa ser reconstruído como espaço de escuta qualificada, onde o confronto de ideias não seja guerra, mas fermento. Onde o mandato não seja trampolim de vaidades, mas tribuna da cidadania.
Representar significa servir. Significa ouvir antes de falar. Significa resistir à tentação do espetáculo fácil e abraçar o compromisso silencioso com o bem comum. Representar é ser fiel ao povo, e não ao algoritmo. É tempo de relembrar que a verdade não é opcional — é alicerce.
É hora de uma convocação nacional. Que se ergam vozes lúcidas em defesa da veracidade — que, como ensinam os grandes sábios da humanidade, é a base de todas as virtudes humanas. E que a cortesia, o respeito mútuo, volte a ser reconhecida como o príncipe de todas as virtudes, como ensinaram não apenas os filósofos gregos, mas também os fundadores das grandes religiões. Que o Parlamento volte a ser uma casa de leis, e não de vaidades. Pois quando a ética é exilada, a civilização se desintegra — e a democracia vira palco de tragédia anunciada.
Ou a ética volta ao centro do palco — ou a história se encarregará de nos lembrar do preço que se paga por seu desprezo.
https://www.brasil247.com/blog/a-etica-da-representacao-em-agonia-o-parlamento-a-beira-do-abismo
19 de maio de 2025


A falta que Luiz Gushiken faz ao Brasil em 2025
Se vivo fosse, Luiz Gushiken completaria neste mês mais um ciclo de vida. Teria 75 anos
Maio de 2025 – Se vivo fosse, Luiz Gushiken completaria neste mês mais um ciclo de vida. Teria 75 anos. Mas sua existência, embora abreviada, permanece como referência ética, política e humana em tempos tão necessitados de lideranças serenas, visionárias e leais ao bem comum. A falta que Luiz Gushiken faz ao Brasil é sentida na ausência de vozes ponderadas que unam lucidez estratégica com sensibilidade social. Sua ética silenciosa, sua rara combinação de firmeza, coragem e serenidade, fazem falta num país onde o ruído e a fúria têm ocupado o lugar do discernimento. Faltam Gushikens. E isso é grave.
Se existiu alguém que, em nossa história recente, conseguiu transcender os verbos a que todos estamos submetidos – nascer, viver, morrer – esse alguém foi Luiz Gushiken. Um homem de ideais elevados, mas com os pés firmemente plantados no chão da realidade brasileira.
Neste 8 de maio, recordamos o homem que partiu em 2013, mas cuja presença política e ética ainda paira sobre os grandes dilemas nacionais. O China, o Gushi da Libelu, o samurai das causas justas, vive na memória dos que reconhecem que seu papel não foi o de coadjuvante – foi o de construtor.
A construção de um homem público
Filho de emigrantes japoneses, Gushiken nasceu de Shoei Gushiken, fotógrafo e violinista oriundo de Okinawa, e cresceu em Osvaldo Cruz, cidade do interior paulista. Ainda adolescente, começou a trabalhar para ajudar no sustento da família. Foi contínuo, ajudante, bancário, estudante de Filosofia e, mais tarde, graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas.
Sua trajetória política começa a se desenhar no final dos anos 1970, no sindicalismo bancário. Em 1979, integra a diretoria do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Na década seguinte, sua atuação à frente do sindicato o coloca como referência de combatividade e lucidez estratégica. Em 1980, é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Assume o Diretório Nacional do partido entre 1988 e 1990.
Foi deputado federal por três mandatos (1987 a 1999), coordenador das campanhas de Lula em 1989, 1998 e 2002. Com Lula na presidência, tornou-se Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação de Governo. Foi ali que lançou a maior campanha de valorização da autoestima nacional já realizada: "O melhor do Brasil é o brasileiro".
Gushiken democratizou o acesso à comunicação institucional, integrou centenas de veículos regionais à pauta nacional e pensou o Brasil estrategicamente ao ser designado para o Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Mas sua saúde começou a declinar ainda jovem. Desde os 29 anos lutava contra o câncer. Passou por radioterapia, perdeu parte do estômago, sofreu infartos e cirurgias longas e invasivas. Mesmo assim, jamais recuou.
Entre 2005 e 2012, Gushiken foi injustamente acusado de envolvimento no escândalo do "mensalão". Sofreu o linchamento moral orquestrado pela grande mídia, que durante 469 semanas consecutivas – quase 3.300 dias – o classificou como "condenado", mesmo sem qualquer sentença. Em outubro de 2012, foi absolvido por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o estrago já havia sido feito.
A inocência foi reconhecida, mas nunca devidamente reparada. A pena foi cumprida em praça pública, com sua honra arrastada por sete anos sob o peso de calúnias.
Um pensador sem livros, um humanista em movimento
Gushiken nunca escreveu livros. Não era de autopromoção. Mas sua contribuição intelectual é reconhecida por quem conviveu com ele. Lula resumiu assim sua importância:
"Sua visão de longo prazo sempre nos alimentou de um otimismo estratégico... com a paciência nipônica que você sempre nos transmitia."
Gushiken era isso: um estrategista de alma limpa, um samurai que brandia a espada da ética, um homem que sabia que sem justiça social não há Brasil viável.
Luiz Gushiken faleceu em 13 de setembro de 2013, aos 63 anos. Seu funeral reuniu autoridades de todos os poderes, militantes, amigos e admiradores. Dilma Rousseff, então presidenta, compareceu. Lula, seu amigo de fé, esteve ao seu lado até o fim.
Seu legado está na reconstrução da autoestima nacional, na fundação de instituições democráticas, na luta pela justiça e pela verdade. E, sobretudo, no exemplo de alguém que viveu para servir, resistir e amar profundamente seu país.
Neste maio de 2025, quando celebramos os 75 anos de nascimento de Luiz Gushiken, cabe lembrar sua vida como farol para um Brasil que ainda busca se reencontrar com seus próprios sonhos.
https://www.brasil247.com/blog/a-falta-que-luiz-gushiken-faz-ao-brasil-em-2025-r32hkm8p
17 de maio de 2025


Vale Tudo: o “jeitinho brasileiro” e a corrupção endêmica do Brasil
Uma análise crítica da cultura da esperteza no Brasil, refletida pela dramaturgia e sustentada por dados reais
A novela Vale Tudo, remake da TV Globo exibido desde 31 de março de 2025, retorna com força à grade televisiva e à alma do país. O folhetim, com sua trama envolvente, atualiza para o presente um tema tão antigo quanto crônico: o “jeitinho brasileiro”. Só que desta vez, o que era ironia virou denúncia.
Diferente de uma malandragem simpática, o “jeitinho” em Vale Tudo é tratado como ele realmente é: uma forma institucionalizada de corrupção. Subornar policiais para evitar multas, fraudar atestados médicos, burlar filas, sonegar impostos ou usar influências para obter empréstimos generosos não são atos isolados — são expressões cotidianas de um pacto cultural com a desonestidade.
Como jornalista que colaborou por anos com o site Observatório da Imprensa, fundado por Alberto Dines, reconheço que a novela cumpre um papel que muitas vezes a grande mídia evita: levantar o espelho sem filtros diante da sociedade brasileira. E o reflexo que se vê é o de uma nação afogada em sua própria conivência moral.
Odete Roitman, interpretada com brilho por Débora Bloch, é a síntese dessa elite que age com impunidade. Seu bordão — “Eu sou Odete Roitman, sou rica, poderosa, odeio o Brasil e faço o que quero!” — revela a lógica da dominação. Ao seu lado, Marco Aurélio (Rodrigo Lombardi) atua como o operador financeiro de um sistema de vantagens: desvia 1 milhão de dólares para contas no exterior, símbolo da naturalização da fraude entre os poderosos.
Personagens como radiografia social
A novela costura, como poucas, um mosaico social amplo. Maria de Fátima (Bella Campos), filha da honesta Raquel Accioli (Taís Araújo), decide trair a própria mãe, vendendo a casa da família e se unindo ao trambiqueiro César Ribeiro (Cauã Reymond). “Eu não nasci pra ser pobre, César, vou ter tudo que quero!”, ela grita, exprimindo o ethos de uma geração criada para confundir ambição com desonestidade.
Raquel representa o avesso: a ética, a perseverança, a firmeza de caráter. De vendedora de sanduíches nas praias cariocas, ela se torna fundadora da rede de restaurantes Paladar, sempre guiada por valores sólidos. Em certo momento, ela afirma: “Não há dinheiro no mundo que compre minha honestidade”. É mais que uma fala: é um manifesto.
Ivan Meirelles (Renato Góes) vive o dilema da maioria: entre atalhos e princípios. No fim, escolhe o caminho da integridade, mesmo a um custo alto. Heleninha (Paolla Oliveira), marcada pelo alcoolismo e pela opressão materna, carrega no corpo a dor simbólica da elite decadente. Celina (Malu Galli) é o equilíbrio: lúcida, mas impotente diante das engrenagens familiares. Ela carrega o eixo ético da nossa elite.
Outros personagens orbitam esse núcleo moral: Consuelo (Belize Pombal), Poliana (Matheus Nachtergaele), Solange (Alice Wegmann), Sardinha (Lucas Leto), Lucimar (Ingrid Gaigher) e Eugênio (Luis Salém) dão voz e rosto à classe média espremida entre o sonho da ascensão e o pântano da corrupção cotidiana.
A pirâmide social desigual
Mas o que mais impressiona é a correspondência entre a ficção da novela e os dados reais da estrutura social brasileira. Segundo o IBGE (2023), a pirâmide de renda no Brasil é abissal:
O 1% mais rico da população (cerca de 2,1 milhões de pessoas) concentra 28% da renda total. São aqueles que ganham mais de R$20 mil por mês.
A elite é seguida por 10% da população — os chamados “ricos” — que recebem entre R$5 mil e R$20 mil. A classe média, com 40% da população (84 milhões), vive com renda mensal entre R$1.500 e R$5.000. Já 35% da população (73 milhões) está na linha da pobreza, com rendimentos de até R$1.500, e outros 14% (29 milhões) sobrevivem na miséria, com menos de R$300 por mês.
Além disso, 38% dos brasileiros vivem com menos de um salário-mínimo (R$1.412, em 2024). A sonegação fiscal, segundo o Sindifisco, foi de R$417 bilhões em 2023 — quase o dobro do déficit fiscal brasileiro.
E mesmo diante desse cenário, em abril de 2025, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, sugeriu congelar o salário-mínimo por seis anos, ajustando-o apenas pela inflação. Sua proposta ignora os dados que mostram um tímido, mas real avanço no Índice de Gini, que mede a desigualdade de renda: de 0,53 em 2010 para 0,506 em 2024. Essa declaração do Fraga bem serviria como epitáfio para uma elite desregrada e perversa
Vale Tudo da Globo é um elogio ao mau caratismo
A força dramática de Vale Tudo reside, em grande parte, na ousadia de sua estrutura narrativa. A novela não alivia o espectador: por muitos capítulos, os vilões vencem. Odete, Marco Aurélio e Maria de Fátima prosperam enquanto Raquel, símbolo de honestidade, é humilhada, ridicularizada, traída, perseguida. Essa inversão de expectativa tem função crítica, mas também levanta questões: ao estender demais a impunidade dos maus, não se corre o risco de normalizá-la?
Segundo o IBOPE, a novela alcançou 28 pontos de audiência na Grande São Paulo em maio de 2025. A estimativa da Kantar IBOPE Media indica que a produção já movimentou mais de R$340 milhões em publicidade até o final de maio, com projeção de R$380 milhões até o início de junho — um marco expressivo.
Contudo, essa avalanche de audiência e dinheiro vem acompanhada de contradições. A Globo evita confrontar diretamente setores que financiam sua programação — bancos, empreiteiras, plataformas digitais —, e, com isso, o discurso da ética vira espetáculo, mas não ação.
O folhetim do horário nobre, portanto, se situa no limiar entre denúncia e espetáculo. Se, por um lado, revela a podridão institucional, por outro, lucra com ela. Isso não diminui sua relevância, mas reforça a necessidade de vigilância crítica. Como jornalista que viveu o ambiente de análise profunda no Observatório da Imprensa, digo: se esse projeto ainda existisse com o rigor de sua origem, essa hipocrisia midiática estaria na pauta. Sou grato ao Brasil 247 por me oferecer diariamente este espaço nobre do jornalismo brasileiro.
A trilha sonora e o pulso cultural
Apesar das críticas, é preciso reconhecer os méritos estéticos da produção. A trilha sonora de Vale Tudo é um acerto refinado que conecta gerações e regiões. O clássico “Vale Tudo”, de Cazuza e Frejat, ganha nova vida na voz poderosa de Gal Costa. A música ecoa como tema da série, funcionando quase como trilha da história brasileira contemporânea: “vale tudo, vale até vender a alma pra poder se dar bem”.
A produção inclui ainda “Retrato em Branco e Preto”, do maestro Tom Jobim, reafirmando a delicadeza da dor no cotidiano de personagens como Heleninha. Mas o ponto alto é, sem dúvida, a interpretação comovente de “Gente”, de Caetano Veloso, na voz de Xande de Pilares. A canção, que já era um hino à empatia, torna-se um manifesto contra o elitismo quando entoada por um dos maiores representantes do samba contemporâneo.
A abertura da novela também merece destaque. Com pouco mais de um minuto, apresenta imagens reais do Brasil profundo: crianças em escolas precárias, trabalhadores no transporte público, famílias em periferias coloridas e vibrantes. É, ao mesmo tempo, crônica e clipe, denúncia e beleza.
Com esses recursos, a Globo mostra que sabe tocar onde dói — ainda que evite apertar o dedo com firmeza.
Congresso: O “Jeitinho” político descarado e escandaloso
Mas o “jeitinho” não se limita à ficção nem às práticas cotidianas do cidadão comum. Ele se institucionaliza no coração da República: o Congresso Nacional. O caso das emendas do relator — apelidadas de “orçamento secreto” — é um dos exemplos mais flagrantes da corrupção legalizada. O Supremo Tribunal Federal Ban que luta para colocar essa prática odiosa nos trilhos. Mas está penando muito. O manto da impunidade se confunde com o manto da imunidade parlamentar.
Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), R$38 bilhões do orçamento da União foram usados, em 2024, para financiar interesses paroquiais e trocas de favores entre parlamentares e o Executivo. O dinheiro foi distribuído sem critérios técnicos, com base em negociações obscuras, e não em políticas públicas planejadas.
Essa manobra mina diretamente os direitos sociais. Hospitais públicos aguardam insumos. O SUS enfrenta filas e falta de profissionais. Programas como o Universidade para Todos veem seus recursos evaporarem. O déficit habitacional cresce: segundo o Ministério das Cidades, 1,2 milhão de famílias estão na fila da moradia popular. Enquanto isso, deputados financiam obras em redutos eleitorais sem prestar contas, financiam estradas públicas com destino a suas fazendas particulares, garantindo reeleições e fidelidade política.
Além disso, é bom destacar de novo, o foro privilegiado protege cerca de 58 mil autoridades — entre parlamentares, juízes, promotores, ministros e militares. Isso cria um sistema de impunidade seletiva, onde apenas os “sem proteção” enfrentam os rigores da lei.
A Transparência Internacional, em seu relatório de 2023, atribuiu ao Brasil a nota 34 no Índice de Percepção de Corrupção, posicionando o país na 107ª colocação entre 180 países. A nota reflete a profunda desconfiança da sociedade brasileira em relação a seus representantes.
No entanto, até a Transparência Internacional precisou lidar com sua própria crise de imagem: foi investigada pelo Ministério Público Federal por suspeitas envolvendo a origem de doações e sua atuação durante o auge da Operação Lava Jato. Não é demais lembrar que o juiz todo poderoso, paranaense Sérgio Moro e seguiu desafetos políticos e rapidamente se tornou ministro da Justiça da ideologia oposta à de seus sentenciados. O processo envolvendo a Transparência foi arquivado em 2024, mas o episódio deixa uma advertência clara — até instituições anticorrupção precisam ser transparentes.
Judiciário e a venda de Sentenças
Quando falamos em corrupção, muitas vezes o olhar público se detém no Legislativo ou no Executivo. Mas o “jeitinho” — essa prática corrosiva que mina a moralidade institucional — também se enraizou no sistema Judiciário. E, talvez por isso, a indignação seja ainda mais intensa: espera-se da Justiça a imparcialidade, a firmeza, a moral ilibada. Quando ela falha, o abismo se escancara. E começa a escorrer pelo ralo o estado democrático de direito.
Nos últimos anos, casos concretos revelaram que parte da magistratura brasileira — especialmente em esferas estaduais — não está imune às tentações do poder. Na Bahia, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afastou, em 2023, desembargadores acusados de negociar sentenças judiciais em troca de favorecimento político e econômico. O caso envolveu grileiros, cartórios e políticos locais.
Em Minas Gerais, em 2024, um juiz de primeira instância foi condenado por liberar bens apreendidos de um empresário investigado por lavagem de dinheiro, após receber vantagens indevidas. O processo foi conduzido pela Corregedoria Nacional de Justiça com o apoio da Polícia Federal e expôs esquemas de influência dentro das varas cíveis.
No Rio de Janeiro, a Operação Espelho Partido, deflagrada entre 2022 e 2024, revelou uma rede de venda de sentenças que envolvia servidores administrativos, magistrados aposentados e intermediários de confiança. Em alguns casos, decisões judiciais foram literalmente leiloadas entre partes envolvidas em disputas comerciais milionárias.
Esses episódios não apenas colocam em xeque a confiança no Poder Judiciário, mas também reforçam a percepção de que, no Brasil, o “jeitinho” virou moeda institucional. O cidadão comum que precisa da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal ou da Defensoria Pública sente que há dois pesos e duas medidas: uma para quem tem contatos e influência, outra para quem depende do sistema.
Essa corrosão moral não é casual — ela está diretamente ligada à lógica do foro privilegiado, à falta de transparência nos critérios de promoção de juízes e à ausência de controle externo efetivo sobre as decisões judiciais. O CNJ, mesmo com avanços, ainda tem limitações operacionais e sofre pressão política interna.
E, como um espelho das tramas de Vale Tudo, vemos na realidade juízes que se comportam como Marco Aurélio: articulados, discretos, cercados de poder e blindagens — desviando a função pública para atender interesses privados.
A teia invisível da impunidade
A corrupção no Judiciário é especialmente grave porque afeta a espinha dorsal do Estado de Direito. Quando uma sentença pode ser comprada ou trocada por favores, todas as garantias constitucionais perdem seu sentido.
O sistema de justiça criminal, por exemplo, opera em duas velocidades: acelerado e implacável contra pequenos crimes — como furtos simples, ocupações urbanas ou desacatos — e moroso, leniente ou ineficaz quando o réu é um agente político, um banqueiro, um alto executivo.
Esse “apartheid jurídico” alimenta o cinismo social. O cidadão, cansado de ver escândalos sem punição efetiva, tende a naturalizar a corrupção como algo inevitável. Assim, o jeitinho se reafirma como mecanismo de autoproteção diante de um Estado que não oferece isonomia.
Na prática, isso significa que a corrupção do Judiciário é a mais perversa de todas. Ela não rouba só dinheiro público: rouba esperança ao mesmo tempo que destrói a confiança da população em seu sistema judiciário vigente
A cultura do “Tudo Vale”
A novela Vale Tudo escancara essa cultura da conivência. Ao longo de sua narrativa, ela mostra como o jeitinho se infiltra em todas as esferas: do casamento ao mercado financeiro, da política ao cotidiano das empregadas domésticas. A série não aponta culpados únicos — ela denuncia um modelo de convivência que premia a esperteza e marginaliza a integridade.
Em muitos momentos, a trama parece dizer: “ser honesto no Brasil é quase um ato de resistência”. Que também pode ser traduzido por esta frase: “se você decidir ser honesto e ético prepare-se para comer o pão com o diabo amassou”. E talvez seja mesmo. Raquel Accioli, com sua firmeza moral, é tratada por muitos personagens como uma ingênua, uma sonhadora, uma mulher deslocada no tempo. No entanto, é justamente ela quem carrega o eixo ético da história das classes representadas do meio da pirâmide para baixo.
Ao contrário de outros folhetins, Vale Tudo não busca criar “bons moços perfeitos”. Ivan, por exemplo, oscila, erra, hesita — mas escolhe a dignidade. Essa nuance é valiosa porque lembra que a ética não é uma dádiva: é uma escolha diária, feita sob pressão, e quase sempre solitária. Tenho simpatia pelo Ivan porque ele não é idealizado, nem é santo nem pecador, é o cidadão comum que nos versos de Belchior bem poderia cantar “este ano eu morri, mas ano que vem eu não morro”.
Mas o problema é que, na vida real, os Raquéis estão cada vez mais raros e os Odetes, cada vez mais influentes. Não à toa, 69% dos brasileiros acreditam que o Legislativo é profundamente corrupto, segundo pesquisa da Gallup de 2022. A confiança nas instituições está em erosão contínua, como uma ponte cujas vigas foram corroídas silenciosamente pela água salobra da impunidade.
Um Brasil refém do Jeitinho
Na dramaturgia de Vale Tudo, tudo parece girar em torno de um princípio tácito: o jeitinho é mais eficaz que a lei. Mas quando a ficção se parece tanto com a realidade, deixa de ser apenas arte — torna-se diagnóstico.
A Odete Roitman da novela é um arquétipo. Ela representa não apenas a elite econômica, mas a mentalidade predatória que atravessa classes sociais e instituições.
A alma da Roitman habita os gabinetes de Brasília, as sedes dos bancos e das grandes indústrias na avenida Paulista e na Faria Lima, e estar onipresente nos escritórios de advocacia que compram decisões, nas reuniões de executivos que superfaturam contratos, nos cidadãos que fraudam o INSS, nos motoristas que subornam guardas de trânsito. O problema é sistêmico.
O Brasil não é corrupto por natureza. Mas vive sob um sistema de incentivos que premia a esperteza e pune a retidão. Ser honesto, hoje, é quase uma forma de heroísmo. Raquel Accioli, nesse sentido, não é apenas uma personagem admirável — é um retrato do cidadão que ainda acredita em ética, justiça e trabalho digno. Até quando isso persistirá? Quando estive na feira internacional do livro de Frankfurt em fins dos anos de 1990 mantive longas conversas com Darcy Ribeiro. Estas reflexões espelham boa parte daquelas conversas. (Viva Darcy, sempre!)
Mas quantos Raquéis resistem diante de um sistema que premia as Fátimas?
O papel da mídia: entre a crítica, o rabo preso e a conivência
Como jornalista que colaborou por vários anos com o Observatório da Imprensa, fundado por Alberto Dines, acompanhei de perto a transformação da mídia brasileira — de fiscalizador do poder a cúmplice silenciosa em muitos casos. É justamente por isso que me incomoda ver a TV Globo, por exemplo, faturar meio bilhão de reais com uma novela que denuncia os mesmos esquemas que ela, enquanto empresa, evita confrontar com profundidade em seu jornalismo.
É claro que Vale Tudo presta um serviço. Expõe, emociona, instiga debates. Mas também lucra com a desgraça moral. Não é uma crítica moralista — é um chamado à coerência editorial. Por que o Jornal Nacional não faz editoriais sobre os banqueiros como Marco Aurélio? Por que as famílias bilionárias que financiam campanhas políticas não são pauta recorrente nos grandes telejornais?
Se o Observatório da Imprensa ainda estivesse em sua forma mais crítica e vigorosa, certamente colocaria essas perguntas na mesa. O papel da mídia não é apenas entreter nem apenas informar. É interpretar o mundo. E fazer isso com coragem.
Entre o espelho e a lupa
Vale Tudo funciona como um espelho, mas a crítica precisa agir como uma lupa. A lupa revela os detalhes do sistema: os R$38 bilhões das emendas do orçamento secreto que sangram o erário público; os juízes afastados por venderem decisões; os 69% da população que não confiam no Congresso; os 38% que vivem com menos de um salário mínimo; os R$417 bilhões sonegados por grandes empresas em 2023.
Esses números não são apenas estatísticas. São sintomas. Eles revelam que o “jeitinho” deixou de ser uma gambiarra cultural para se tornar um projeto de poder.
E agora?
A pergunta que se impõe ao final de cada capítulo da novela — e ao final desta análise — é: e agora?
Precisamos mais do que diagnósticos. Precisamos de coragem para reverter o pacto da esperteza.
Isso exige ação política, fortalecimento institucional, reforma do sistema judiciário e, acima de tudo, educação cidadã. Mas também exige uma mudança cultural: parar de rir do jeitinho e começar a rejeitá-lo. Não com discursos moralistas — mas com atitudes práticas.
Rejeitar a corrupção não é só denunciar escândalos. É fazer o certo quando ninguém está vendo. É escolher a fila certa, recusar a vantagem indevida, não justificar o erro com a desculpa do “todo mundo faz”. É, em suma, tornar-se uma Raquel Accioli em um mundo cheio de Odetes.
Se Vale Tudo nos ensinou algo, foi que a corrupção é sedutora, a esperteza é recompensada — mas a consciência cobra sua conta. O Brasil está cansado de ser o país onde tudo vale. Está pronto, talvez, para ser o país onde tudo tem valor.
Como jornalista e analista de mídia, creio que nossa tarefa é continuar contando essa história — com coragem, com rigor, com paixão. Um misto de argumentação sóbria com apelo contundente Porque, no fim das contas, só a só entendendo que “a justiça é a mais amada de todas as coisas” sentiremos que terá valido a pena toda a luta que temos que travar mesmo a nos acomodar e a nos calar E, quem sabe, que não tarde muito o dia em que poderemos entender que… aqui, não vale tudo.
https://www.brasil247.com/blog/vale-tudo-o-jeitinho-brasileiro-e-a-corrupcao-endemica-do-brasil
10 de maio de 2025


Deus é um, religião é uma, humanidade é uma: no cotidiano, o novo papa terá mais a ver com Frei Leão do que com Leão XIII
O pontificado de Leão XIV começa em um momento crucial
Em meio às reflexões sobre a morte do Papa Francisco em 21 de abril de 2025 e a eleição do cardeal norte-americano Robert Francis Prevost como Papa Leão XIV em 8 de maio de 2025, surge um momento único para avaliar o legado do pontificado de Francisco e os desafios que o novo papa enfrentará. Este artigo explora a trajetória de Leão XIV, seu primeiro dia como pontífice e a continuidade espiritual que seu nome evoca, conectando tradição e modernidade em um mundo que clama por diálogo e unidade.
O papado de Jorge Mario Bergoglio, de 2013 a 2025, foi um marco de transformação para a Igreja Católica, definido por ações que reaproximaram a instituição dos valores evangélicos:
Revolução pela simplicidade: Francisco rompeu com a opulência vaticana, optando por uma vida austera. Sua primeira aparição na sacada da Basílica de São Pedro, com uma batina branca simples, simbolizou um retorno à essência do Evangelho.
Defensor dos marginalizados: seu compromisso com pobres, migrantes e excluídos transformou a Igreja em uma voz global para os vulneráveis, um “hospital de campanha” para os feridos da sociedade;
Enfrentamento da crise de abusos: diferentemente de antecessores, Francisco quebrou o silêncio sobre casos de pedofilia, exigindo ação concreta e criando mecanismos de responsabilização;
Cuidado com a Casa Comum: a encíclica Laudato Si’ elevou a questão ambiental a um imperativo moral, unindo ciência e fé na defesa do planeta;
Reforma institucional: iniciou a descentralização da governança eclesiástica, combatendo a corrupção financeira e promovendo transparência, apesar de resistências conservadoras.
A trajetória de Leão XIV: do Meio-Oeste ao Trono de Pedro - Robert Francis Prevost, agora Leão XIV, nasceu em 14 de setembro de 1955, em Chicago, Illinois. Sua trajetória singular o preparou para liderar a Igreja global.
Sua vocação surgiu aos 22 anos, quando ingressou na Ordem de Santo Agostinho, dedicada ao estudo e à missão. Formou-se em teologia em Chicago e obteve um doutorado em direito canônico em Roma, na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino. No Peru, entre 1985-1986 e 1988-1998, trabalhou como pároco, professor e administrador, moldando sua visão pastoral em um continente marcado por desigualdades e uma fé vibrante.
Em 2014, foi nomeado bispo de Chiclayo, no Peru. Em 2023, Francisco o escolheu como Prefeito do Dicastério para os Bispos e Presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, um cargo central na formação do episcopado mundial. No mesmo ano, tornou-se cardeal-diácono de Santa Mônica dos Agostinianos e, em 2025, cardeal-bispo de Albano, um título prestigioso. Fluente em inglês, espanhol e italiano, Prevost é descrito como reservado, mas com uma visão universal que reconhece o centro da Igreja além do Atlântico Norte, como observou o professor Raúl E. Zegarra, da Escola de Teologia de Harvard.
Um papa conectado - Em 9 de maio de 2025, menos de 24 horas após sua eleição, Leão XIV deu os primeiros passos de seu pontificado com gestos que unem solenidade e modernidade.
Pela manhã, celebrou sua primeira missa na Basílica de São Pedro, onde sua homilia pediu uma Igreja “próxima aos que sofrem”.
Na Praça São Pedro, surpreendeu jovens ao tirar sua primeira selfie, um momento que viralizou nas redes sociais.
Assinou seu primeiro autógrafo em uma Bíblia e, com humor, confessou que sua primeira tarefa será “se acostumar a assinar Leão XIV, e não Cardeal Prevost”.
Esses gestos, aparentemente simples, revelam um papa sintonizado com o mundo digital, capaz de conectar o sagrado ao cotidiano com naturalidade.
A escolha do nome Leão XIV gerou celebração global, com a mídia destacando sua conexão com Leão XIII (1878-1903).
A encíclica Rerum Novarum (“coisas novas”), de 1891, abriu a Igreja às questões sociais da Revolução Industrial, defendendo salários justos, descanso digno e direitos para mulheres trabalhadoras, como o tempo para amamentar seus filhos.
Nas últimas horas, buscas no Google por essa encíclica dispararam, refletindo seu impacto renovado.
Contudo, o foco em Leão XIII pode ofuscar outra ressonância: o nome Leão evoca Frei Leão, discípulo humilde de São Francisco de Assis, sugerindo uma continuidade com o pontificado de Francisco.
Frei Leão e a ponte com Francisco - Frei Leão, amigo e secretário de São Francisco de Assis, era conhecido por sua humildade e serviço.
Da mesma forma, Robert Prevost foi um colaborador próximo de Francisco, coordenando a Cúria Romana e auxiliando na nomeação de cardeais – 80% dos quais, indicados por Francisco, elegeram Leão XIV.
Essa conexão sutil, mas sólida, liga os dois papas.
Como Frei Leão, Leão XIV parece comprometido em manter a visão de uma Igreja simples, voltada aos pobres e inspirada pelo espírito franciscano.
As declarações de Leão XIV ao longo de sua carreira revelam um pastor atento às necessidades contemporâneas, mas ancorado na tradição:
“A Igreja existe para servir, não para ser servida” - Essa afirmação, feita em 2016 no Peru, ecoa o Concílio Vaticano II e antecipa um papado de serviço. Como jornalista, vejo nisso a essência do líder servidor, que transcende o Vaticano e inspira desde CEOs até líderes comunitários;
“O direito canônico deve ser um instrumento de misericórdia, não um fim em si mesmo” - Como especialista em direito eclesiástico, Prevost prioriza a salvação das almas. Minha experiência em colégios católicos me faz concordar: a Igreja deve acolher, não ameaçar, em tempos que pedem empatia e perdão;
“A formação dos sacerdotes deve integrá-los à realidade das pessoas” - Essa visão, expressa em um simpósio, reflete a necessidade de um clero conectado. Como jornalista, percebo que um líder desconectado do povo perde legitimidade, seja na Igreja ou na sociedade;
“Uma Igreja que não dialoga com o mundo contemporâneo falha em sua missão” - Essa ideia, de uma carta pastoral em Chiclayo, ressoa com os Evangelhos. Cobri histórias de divisões sociais e acredito que valorizar o que nos une é o caminho para a convivência;
“A verdadeira autoridade na Igreja se mede pela capacidade de lavar os pés” - Essa reflexão, feita na Quinta-feira Santa, ecoa o exemplo de Jesus. Meus anos como repórter me ensinaram que gestos simples, como os de Francisco, têm um impacto poderoso nos fiéis.
Essas palavras mostram um líder que combina profundidade teológica com sensibilidade pastoral, rigor intelectual com diálogo, e fidelidade à tradição com atenção aos sinais dos tempos.
Diálogo inter-religioso: uma humanidade unida - O conceito “Deus é um, religião é uma, humanidade é uma”, transcende divisões, oferecendo um alicerce para o diálogo.
Hinduísmo, Judaísmo, Budismo, Cristianismo, Islamismo e Fé Bahá’í compartilham valores como compaixão e justiça.
Leão XIV pode aprofundar esse diálogo, seguindo a Nostra Aetate do Concílio Vaticano II, que reconheceu sementes divinas em todas as fés.
Em um mundo fragmentado por polarizações, essa visão combate o fanatismo, promovendo unidade sem apagar identidades.
A tolerância – religiosa, étnica, social – é um imperativo moral e de sobrevivência.
As grandes religiões afirmam a dignidade humana, oferecendo ferramentas para o respeito mútuo.
Um papado que promova o diálogo inter-religioso pode criar um “escudo protetor” contra ódio e violência.
Como disse Hans Küng, “não haverá paz entre nações sem paz entre religiões”. A perspectiva global de Leão XIV o posiciona para liderar essa missão.
Uma nova consciência planetária - Mais de 800 milhões de pessoas sofrem com fome, enquanto 1% detém quase metade da riqueza global.
Os gastos anuais em armamentos, cerca de US$ 2 trilhões, poderiam erradicar a pobreza extrema.
Leão XIV pode unir tradições religiosas em torno de causas comuns: paz, justiça econômica e proteção ambiental.
Em um mundo com instituições desgastadas, sua voz pode inspirar esperança, lembrando a humanidade de nossa fraternidade essencial.
O pontificado de Leão XIV começa em um momento crucial.
Seu primeiro dia – com missa, selfies e humor – sinaliza um papado que honra a tradição, mas abraça o presente.
Seu nome evoca a justiça social de Leão XIII e a humildade de Frei Leão, conectando-o ao legado de Francisco.
Meus comentários às suas palavras refletem minha jornada como jornalista, vendo nelas um chamado à empatia e ao serviço.
Que sua liderança, enraizada no amor e no diálogo, ilumine o caminho da humanidade.
09 de maio de 2025


Trump e Melania endossam imagem de IA como Papa, tirando sarro de 1,4 bilhão de católicos
Cabe à sociedade exigir regras que contenham tecnologias manipuladoras e líderes egocêntricos, antes que a verdade se perca de vez
Quase uma semana depois,, o silêncio de Donald Trump sobre a polêmica imagem gerada por inteligência artificial que o retrata como papa revela mais do que uma simples omissão: é um sintoma de seu narcisismo desenfreado. Publicada em 2 de maio na Truth Social e republicada pelas contas oficiais da Casa Branca, a imagem não foi seguida de retratações, mesmo após Trump minimizá-la como “brincadeira” em 5 de maio. Enquanto o Vaticano conduz o conclave para eleger o sucessor do Papa Francisco, falecido em 21 de abril, a falta de responsabilidade de Trump e sua insistência em brincar com símbolos sagrados expõem um líder preso à própria vaidade, ameaçando a confiança pública em tempos de luto global.
A imagem de Trump em trajes papais — batina branca, mitra e crucifixo dourado — viralizou na Truth Social, com 1,2 milhão de interações, 65% delas negativas, marcadas por termos como “blasfêmia”. Pior, Trump revelou em 5 de maio que Melania achou a imagem “fofa”, uma declaração que trivializa a dor de 1,4 bilhão de católicos e amplifica a insensibilidade do casal. Republicada no X pela Casa Branca, a postagem atingiu 2,5 milhões de visualizações, com 58% de reações contrárias. Em pleno luto pelo Papa Francisco, o uso de IA para autopromoção não é apenas de mau gosto: é um alerta sobre os perigos de líderes que manipulam tecnologias para inflar seus egos.
Um Papa Improvável, Uma Provocação Real
Dias antes, em 29 de abril, Trump declarou: “Gostaria de ser papa. Essa seria minha escolha número um”. A bravata, feita durante o luto oficial, chocou pela ousadia. Sua tentativa de minimizar a polêmica, alegando que “alguém” criou a imagem por “diversão”, soa como desdém.
A Casa Branca, ao endossar a postagem, transformou uma piada pessoal em um ato oficial. A falta de transparência sobre quem autorizou a republicação sugere negligência — ou pior, cumplicidade. Trump ainda afirmou, sem provas, que “católicos adoraram” a imagem, uma fantasia que ignora a revolta da comunidade religiosa.
A reação foi imediata. Um bispo de Nova York classificou a imagem como “de mau gosto” e a justificativa de Trump como “insuficiente”. A Conferência Católica do estado de Nova York condenou: “Não há nada engraçado nisso, Sr. Presidente”. Líderes democratas, como Chris Murphy, alertaram no X: “Usar IA para ridicularizar instituições religiosas é perigoso”.
Alexandria Ocasio-Cortez chamou a ação de “insulto aos católicos”, enquanto Gavin Newsom pediu regulamentação urgente da IA. Até Matteo Renzi, ex-premiê italiano, acusou Trump de agir como “palhaço”. A ausência de comentário do Vaticano, com Matteo Bruni em silêncio, reflete um constrangimento diplomático diante de tamanha provocação.
Divisão Republicana e o Peso do Ego
Entre republicanos, as reações variaram. JD Vance, católico, defendeu: “É uma piada inofensiva”. Lindsey Graham ironizou no X: “Peço ao conclave que mantenha a mente aberta!”. Mas Michael Steele, ex-líder do RNC, foi incisivo: “Isso prova quão incapaz Trump é”.
A imagem no Instagram da Casa Branca teve 100.000 curtidas, mas comentários como “desrespeito à Igreja” predominaram. A falta de esclarecimentos oficiais reforça a percepção de um governo que normaliza a manipulação visual, usando canais públicos para alimentar a vaidade de Trump.
A IA como Espelho do Narcisismo
Antes da polêmica, Trump tentou cortejar católicos. Em 21 de abril, decretou bandeiras a meio mastro e publicou condolências na Truth Social. Ele também elogiou o cardeal Timothy Dolan como possível papa, uma jogada vista como oportunismo.
Esses gestos, porém, desmoronam diante da imagem de IA. Publicada após o funeral do Papa Francisco, ao qual Trump compareceu, a postagem revela um padrão: o uso de símbolos religiosos para autopromoção. A contradição entre luto e provocação é a marca de um líder que prioriza o espetáculo.
Psicanalistas, em análise ao Time, apontam um “superego frágil” em Trump, incapaz de respeitar normas éticas. A imagem, projetando-o como figura divina, é um grito por validação. A IA amplifica esse narcisismo, criando narrativas hiper-realistas que borram a linha entre verdade e ficção.
A imprensa reagiu com força. A Associated Press destacou o desrespeito aos católicos, enquanto o La Repubblica acusou Trump de “megalomania patológica”. O Fox News alertou: 60% dos americanos temem manipulação eleitoral por deepfakes. A sociedade assiste a um líder que, preso ao próprio ego, usa a tecnologia para se colocar acima de todos.
Um Perigo Além da Ofensa
A polarização explodiu. Grupos como “Republicanos Contra Trump” chamaram a imagem de “insulto”, enquanto apoiadores a defenderam como “sátira brilhante”. Memes, como “fumaça laranja” no Vaticano, mostram a divisão cultural americana, onde humor e ofensa se misturam.
O cerne, porém, é a ética da IA. Estudos apontam que 70% dos usuários não identificam deepfakes, e a Casa Branca, ao endossar a imagem, legitima a desinformação. A Reuters pergunta: “Como distinguir realidade de ficção quando o governo apoia deepfakes?”. Sem regulamentação, a Brookings Institution prevê que deepfakes influenciarão 30% das decisões eleitorais até 2030.
Trump, com Melania ao seu lado, transformou uma crise de luto em um circo de vaidade. A imagem de IA não é apenas uma ofensa aos católicos: é um ataque à confiança pública. Cabe à sociedade exigir regras que contenham tecnologias manipuladoras e líderes egocêntricos, antes que a verdade se perca de vez.
08 de maio de 2025,


Quando o iPhone vira manifesto: o embate entre tarifas, transparência e poder
Quando um iPhone vira panfleto, é porque a política já invadiu até o bolso do consumidor
Com mais de quatro décadas dedicadas à administração pública e ao setor financeiro — 18 anos no Banco do Nordeste, onde chefiei áreas estratégicas de comércio exterior e câmbio, e 21 anos no Senado Federal, além da atividade como professor universitário —, aprendi que as grandes mudanças econômicas nem sempre começam com leis ou decretos. Às vezes, começam com um gesto. Em 28 de abril de 2025, um gesto simbólico — ainda que não implementado — causou alvoroço no coração político dos Estados Unidos: a suposta intenção da Amazon de incluir, nos produtos vendidos, uma nota explicando o quanto das tarifas comerciais impactava o preço final de um iPhone, por exemplo.
A Casa Branca reagiu com virulência. A porta-voz Karoline Leavitt classificou a ideia como “ato político hostil”, sugerindo vínculos entre Jeff Bezos e o governo chinês, e acusou a empresa de parcialidade por não ter feito o mesmo durante o governo Biden. Bezos, que esteve presente na posse de Trump em janeiro ao lado de Elon Musk e Mark Zuckerberg, virou novamente alvo — mesmo após gestos de aproximação com o novo governo. A Amazon negou oficialmente que planejasse tal ação, mas o estrago simbólico estava feito. A guerra comercial ganhava uma nova trincheira: a da narrativa.
A tarifa do “Dia da Libertação”: retórica protecionista e impacto real
A decisão que acendeu o pavio foi a adoção, em 2 de abril de 2025, de uma tarifa adicional de 10% sobre todas as importações acima de US$ 800. Batizada politicamente de “tarifa do Dia da Libertação”, a medida impôs novas barreiras a bens de consumo, peças industriais e equipamentos, atingindo países aliados como o Brasil. As exceções foram mínimas, restritas ao Canadá e ao México, membros do acordo USMCA.
A China respondeu à altura, impondo tarifas de até 34% sobre produtos americanos e restringindo a exportação de terras raras — minerais essenciais para a indústria de eletrônicos e semicondutores. Os Estados Unidos, por sua vez, eliminaram a isenção para encomendas de baixo valor vindas da China, Hong Kong e Macau, o que impactou diretamente plataformas populares como Shein e Temu. Em alguns itens, as tarifas chegaram a 245%. Pequim respondeu com taxas de até 125%.
Trata-se da maior ofensiva tarifária desde a década de 1930. Mas, diferente do discurso de soberania econômica, o efeito real é um aumento expressivo nos preços, retração nas margens de lucro, risco de desemprego e instabilidade global nas cadeias de produção. O cenário deixa claro: em meio à guerra retórica, quem sangra é a economia real.
Demissões, reajustes e empresas sob pressão
A United Parcel Service (UPS), maior empresa de logística dos EUA e principal parceira da Amazon, anunciou a demissão de 20 mil funcionários. A justificativa da CEO Carol Tomé foi clara: queda nos volumes transportados da Amazon e necessidade de reestruturar a operação frente à nova realidade tarifária.
Outras empresas também reagem. A rede de restaurantes Chipotle Mexican Grill, presente em mais de 3 mil localidades nos EUA, reportou aumento nos custos operacionais. Carnes bovinas importadas da Austrália, embalagens do Vietnã e abacates da Colômbia e do Peru passaram a ter tarifas de 10%, o que elevou os custos da empresa. A construção de novos restaurantes também encareceu, com prateleiras e móveis vindos da China agora mais caros. O CFO Adam Rymer revisou para baixo as projeções de vendas, alertando investidores para “um ambiente macroeconômico desfavorável”.
No setor automotivo, a Tesla, embora mantenha boa parte da produção em solo americano, sofre na divisão de energia, dependente de baterias LFP importadas da China. A suspensão de pedidos chineses dos modelos Model S e Model X, como retaliação, é uma perda significativa. Elon Musk, conselheiro informal de Trump, defendeu tarifas mais baixas nos bastidores, mas não obteve êxito.
Setores inteiros sob efeito dominó: tecnologia, varejo, semicondutores
As consequências não se limitam a algumas empresas. Os efeitos se espalham por setores inteiros. A indústria automotiva enfrenta tarifas entre 10% e 25% sobre peças e componentes, afetando empresas como General Motors e Ford, com queda nas exportações e pressão sobre os lucros. O fundo DRIV, que reúne ações do setor de veículos elétricos e autônomos, refletiu essa instabilidade com grande volatilidade.
No setor tecnológico, o fim das isenções fiscais (regime de minimis) encareceu notebooks e smartphones. A Apple já avalia transferir parte da produção para o Vietnã e a Índia. A HP, outra gigante, também estuda relocalização. O fundo XLK, que representa o setor de tecnologia no mercado financeiro, apresentou desempenho inferior ao S&P 500 em abril.
No varejo, plataformas como Shein e Temu, voltadas ao público jovem e popular, perderam competitividade. O Walmart, maior rede varejista americana, começou a repassar os aumentos nos preços de roupas, brinquedos e eletrônicos. O fundo XRT, que acompanha o setor varejista, também oscilou negativamente.
Em semicondutores, o impacto das restrições chinesas às exportações de terras raras foi direto. Empresas como Nvidia e Intel viram os custos subirem e os cronogramas de produção atrasarem. O fundo SOXX, composto por ações do setor, registrou perdas ao longo de abril.
Outro calcanhar de Aquiles (tenhamos em conta que mesmo na mitologia Aquiles possui apenas dois calcanhares!) da atual política econômica se revela na produção agrícola norte-americana. Além do impacto das tarifas sobre fertilizantes, máquinas e sementes importadas, os produtores enfrentam escassez aguda de mão de obra. A aceleração da política de deportação de imigrantes indocumentados — muitos dos quais eram latino-americanos e asiáticos — atingiu em cheio o setor. Essas populações representavam parcela expressiva dos trabalhadores rurais, encarregados da colheita em plantações espalhadas por estados como Califórnia, Texas e Flórida. Com sua ausência, safras inteiras vêm sendo perdidas nos campos. Segundo o Departamento de Agricultura dos EUA, em 2024 houve um prejuízo estimado em US$ 3,1 bilhões por alimentos que apodreceram sem serem colhidos. Ao mesmo tempo, o trabalhador norte-americano de baixa renda resiste a assumir esses empregos, citando a dureza das jornadas e a baixa remuneração. Essa conjugação de tarifas e mão de obra escassa fragiliza o pilar agrícola do país, elevando preços e acentuando a insegurança alimentar em várias regiões.
Custos bilionários e pequenas empresas no fio da navalha
Gigantes industriais também se manifestam. A GE Vernova, braço de energia da General Electric, projeta um aumento de US$ 400 milhões nos custos operacionais em 2025. A Baker Hughes, especializada em serviços e equipamentos para o setor de petróleo e gás, estima perda de US$ 200 milhões no lucro anual, e suas ações caíram 6,4% após a divulgação desses dados.
As operadoras AT&T e Verizon — esta última, líder em telecomunicações e infraestrutura de rede — alertaram para o aumento nos preços de celulares, roteadores e planos residenciais. No setor médico, a Boston Scientific, fabricante de equipamentos cirúrgicos e cardíacos, e a Johnson & Johnson projetam gastos adicionais de até US$ 600 milhões em dispositivos médicos.
As pequenas empresas, no entanto, são as mais expostas. Sem acesso facilitado a crédito, com margens reduzidas e pouca capacidade de repassar aumentos ao consumidor, muitas enfrentam risco de falência. Representando quase metade da força de trabalho dos EUA, seu colapso poderia ter efeitos devastadores sobre a economia.
ETFs, investidores e a reconfiguração global
Diante desse cenário, investidores institucionais ajustaram suas estratégias. BlackRock e Vanguard, duas das maiores gestoras de ativos do mundo, aumentaram posições em setores menos expostos à guerra comercial — como saúde, software e utilities (serviços essenciais como energia e saneamento). Também aumentaram a exposição a ativos reais, como ouro e commodities agrícolas.
Esses ajustes aparecem nos ETFs (Exchange Traded Funds), fundos negociados em bolsa que replicam o desempenho de setores específicos da economia. Assim, os ETFs funcionam como termômetros do mercado: o DRIV (veículos autônomos), XLK (tecnologia), XRT (varejo) e SOXX (semicondutores) vêm refletindo a turbulência causada pelas tarifas.
No curto prazo, a continuidade da guerra tarifária deve manter essa volatilidade. Empresas precisarão reestruturar suas cadeias produtivas, diversificar fornecedores e investir em inovação logística. Mas nada disso acontece da noite para o dia — e, no meio tempo, os custos sobem e os consumidores pagam mais.
Um ambiente econômico sufocante, bem mais caro e menos cooperativo
As tarifas implementadas em abril de 2025 representam uma inflexão histórica. A política tarifária, usada de forma seletiva e ideológica, transforma-se em instrumento de guerra econômica. Longe de proteger a economia nacional, ela compromete o crescimento, agrava tensões internacionais e desorganiza cadeias produtivas complexas e interdependentes.
A experiência acumulada em décadas de atuação nos setores público e privado me permite reconhecer quando uma medida econômica extrapola sua função original. Estamos diante de uma delas. O impacto se alastra — das grandes corporações às pequenas lojas, das prateleiras dos supermercados às decisões dos fundos de investimento.
Na busca por protagonismo eleitoral e poder estratégico, os Estados Unidos, hoje, arriscam perder o que sempre foi sua maior força: a confiança do mundo em sua estabilidade econômica e previsibilidade. Quando um iPhone vira panfleto, é porque a política já invadiu até o bolso do consumidor.
29 de abril de 2025


Na sombra do espiritual, smartphones devoram o real
O real, que deveria ser vivido plenamente, é frequentemente sacrificado em nome de uma validação digital que se tornou o novo oxigênio social
Duas fotografias do repórter da Associated Press, Carlos Barria, ilustram vividamente a essência do primeiro quarto do século XXI: a incessante disputa entre a realidade palpável e o universo digital. Em uma das imagens, uma freira, inserida em uma multidão, transborda emoção, com lágrimas escorrendo e uma expressão que mescla êxtase e devoção. Na outra, o mesmo cenário revela um contraste marcante: ao redor dela, mãos erguidas seguram smartphones, ansiosas para capturar o momento, como se a experiência só se tornasse válida ao ser transformada em pixels. Essas imagens refletem os tempos líquidos descritos pelo sociólogo Zygmunt Bauman, onde a solidez das conexões humanas se dissolve na fluidez das interações virtuais, e o excesso de virtualidade aprofunda a carência do real.
Bauman, em sua teoria dos tempos líquidos, aponta para a fragilidade das relações e experiências em uma era marcada pela efemeridade. O real, que deveria ser vivido plenamente, é frequentemente sacrificado em nome de uma validação digital que se tornou o novo oxigênio social. Essa competição insana entre o que se vive e o que se exibe reflete uma sociedade que, como uma nau sem âncora, navega à deriva entre a autenticidade e a performance, incapaz de ancorar-se no presente.
Um exemplo claro disso é o comportamento de quem vai a um show de Chico Buarque ou a uma ópera como La Traviata. Em vez de se entregar à magia das melodias e das palavras, muitos preferem empunhar seus iPhones, obcecados em encontrar o ângulo perfeito para a gravação. A mente, longe de estar imersa no momento, está focada na qualidade do vídeo, na edição futura e na estratégia de publicação nas redes sociais – seja durante o evento ou após uma curadoria detalhada. A experiência real, que poderia ser um bálsamo para a alma, é trocada por uma busca frenética por likes, transformando o instante em um troféu digital, tão fugaz quanto uma brisa de verão.
Outro fenômeno que ilustra essa desconexão é a compulsão por documentar o cotidiano, como se cada gesto trivial fosse uma obra-prima digna de exposição. Fotografar o prato servido no restaurante, o café sendo preparado na máquina, a capa de um livro na livraria ou até mesmo o ato de escovar os dentes tornou-se uma prática comum. Essas ações, antes banais, são agora elevadas a um pedestal virtual, como se fossem um grito desesperado por relevância em um mar de conteúdos efêmeros. É como se a vida, sem o filtro das redes, perdesse seu brilho – um fenômeno que Bauman descreveria como a liquefação da privacidade em nome da visibilidade.
O narcisismo, por sua vez, emerge como uma epidemia do “Narciso 2.1”, um contraponto ao COVID-19, onde o “2.1” simboliza o século tecnológico que amplifica o desejo de ser visto. Filtros são usados em excesso, borrando a linha entre o real e o imaginário, o autêntico e o fantasioso. Selfies perfeitas, com peles impecáveis e cenários idealizados, criam uma narrativa de vida irreal, alimentando uma busca incessante por atenção. Essa prática é um espelho distorcido, refletindo não quem somos, mas quem desejamos parecer ser, em um ciclo vicioso de validação externa.
A adição de informações falsas ou exageradas é outro sintoma dessa era. Publicações beirando o nonsense – como afirmar que se comeu uma nuvem no café da manhã – são criadas com o único intuito de atrair curtidas e compartilhamentos. A verdade torna-se secundária, enquanto a performance digital reina, evidenciando a fluidez moral que Bauman associa aos tempos líquidos, onde valores sólidos cedem espaço à superficialidade e à busca por atenção.
Por fim, celebridades expõem suas vidas pessoais com uma intensidade que choca. Atrizes e surfistas, por exemplo, transformam disputas pela guarda dos filhos em verdadeiros reality shows virtuais, com trocas de farpas e acusações de adultério expostas ao público. O que deveria ser privado é lançado ao mundo, como se a dor precisasse de uma audiência para ser validada. Esse fenômeno é uma dança macabra entre o íntimo e o coletivo, onde a exposição se torna moeda de troca por relevância.
As imagens de Carlos Barria, ao capturarem esse contraste entre a emoção genuína e a obsessão por registrá-la, nos convidam a refletir: até que ponto estamos vivendo, e até que ponto estamos apenas performando? Em um mundo líquido, onde o virtual engole o real como um rio voraz, talvez seja hora de resgatar a solidez das experiências que nos conectam ao que realmente importa – ao toque, ao som, ao sentir. Não à toa, algumas associações de repórteres europeus já consideram essas duas fotos como francas favoritas para o prêmio de melhor foto do ano, um reconhecimento que sublinha a força de um registro que desnuda a dualidade do nosso tempo.
Essa tensão entre o físico e o virtual também pode ser vista por uma perspectiva espiritual. Na Fé Bahá’í, a realidade física é entendida como uma metáfora do mundo espiritual, funcionando como um reflexo de verdades divinas em formas materiais. ‘Abdu’l-Bahá, uma figura central dessa fé, ensina que o universo tangível é como uma sombra do reino celestial, afirmando: “O mundo material é a sombra do mundo espiritual. A sombra depende daquele que a projeta, mas a realidade está no objeto que a origina”. Talvez, ao nos perdermos no virtual, estejamos apenas perseguindo sombras, esquecendo-nos da luz que as projeta. Esse é o tempo em que vivemos – um tempo de reflexos, mas também de possibilidades para reencontrar o essencial.
https://www.brasil247.com/blog/na-sombra-do-espiritual-smartphones-devoram-o-real
27 de abril de 2025


Francisco de Assis e Francisco das Flores — 799 anos, mesma essência
São Francisco e Papa Francisco, com vidas despojadas, mostram que humildade, pobreza e amor pela criação podem transformar o mundo
Em um mundo ferido por desigualdades e crises, duas figuras, separadas por 799 anos, brilham como faróis de esperança, humildade e amor pela criação: São Francisco de Assis, o santo italiano do século XIII, e Papa Francisco, o pontífice argentino do século XXI, nascido no bairro de Flores, em Buenos Aires. Suas vidas, entrelaçadas por ideais de simplicidade e fraternidade, conectam a medieval Assis ao vibrante contexto latino-americano.
Uma Itália Medieval e uma Argentina em Crise - São Francisco, nascido Giovanni di Pietro di Bernardone em 1181, viveu em uma Itália fragmentada por rivalidades entre cidades-estado e pela opulência da Igreja em contraste com a miséria popular. Filho de um rico comerciante, renunciou à fortuna após uma experiência espiritual, fundando a Ordem Franciscana, que pregava pobreza e serviço aos excluídos. Em 1219, durante a Quinta Cruzada, que buscava reconquistar Jerusalém dos muçulmanos, Francisco cruzou linhas inimigas em Damieta, Egito, para dialogar com o sultão Al-Kamil, buscando paz em vez de guerra.
Papa Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio em 1936, cresceu em Flores, Buenos Aires, em uma Argentina assolada por desigualdades e instabilidade política. Durante a ditadura militar (1976-1983), ele, como jesuíta, protegeu perseguidos, arriscando a vida em defesa dos direitos humanos. Seu trabalho pastoral nas favelas, celebrando missas e apoiando os pobres, moldou sua visão de uma Igreja para os marginalizados. Eleito papa em 13 de março de 2013, anunciou em 16 de março de 2013 que escolheu o nome Francisco, explicando: “Para mim, ele é o homem da pobreza, da paz, que ama e protege a criação. Quis um nome que recordasse isso”. Sua leveza e bom humor brilharam quando, questionado por um repórter brasileiro sobre a rivalidade entre argentinos e brasileiros, especialmente no futebol, e se sua eleição ao trono de São Pedro a intensificaria, respondeu com um largo sorriso: “Essa rivalidade já foi negociada e chegamos a um bom acordo: o papai é argentino, mas Deus é brasileiro!”
Defesa da Criação - As palavras de ambos são hinos à fraternidade. São Francisco, em seu Cântico das Criaturas, louva: “Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o senhor irmão Sol”. Na Oração pela Paz, ele suplica: “Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor”. Sua Saudação às Virtudes exalta: “Salve, rainha Sabedoria, salve, santa Pobreza, que sois luz para os humildes”. Esses textos revelam a natureza e a humildade como caminhos para Deus.
Papa Francisco, inspirado pelo santo, proclamou: “O sol não se ilumina a si mesmo, a água não existe para saciar a si mesma, a flor não se perfuma a si mesma. Tudo o que é bom existe para os outros”. Na Laudato Si’ (2015), ele escreve: “Tudo está interligado, e isso nos convida a uma espiritualidade da solidariedade global”. Suas palavras clamam por uma ecologia integral, unindo cuidado ambiental e justiça social, um feito único destacado por Frei Betto: “Foi o único Papa que fez uma encíclica de proteção da natureza, um Laudato Si’, e, ao mesmo tempo, um grande defensor dos migrantes.”
Vidas Simples, Impacto Global - Ambos rejeitam a vaidade. São Francisco abandonou riquezas para viver entre leprosos, vestindo um hábito de lã. Papa Francisco recusou o anel papal de ouro, mantendo o anel de latão de seus tempos de bispo na Argentina, e optou por residir na modesta Casa Santa Marta, renunciando aos luxuosos aposentos papais na Praça de São Pedro. Sua humildade se manifesta em gestos como lavar os pés de prisioneiros, enquanto São Francisco reconstruía igrejas em ruínas, como São Damião, após uma experiência mística diante do Crucifixo de São Damião. A voz que disse “Vai, Francisco, restaura minha Igreja” é interpretada pelo teólogo Leonardo Boff, em Ecologia, mundialização, espiritualidade: a emergência de um novo paradigma (1993), como um chamado a identificar-se com os “crucificados da história” – os pobres e excluídos. Para Boff, Jesus na cruz está acompanhado pelo “exército de crucificados” do mundo, e Francisco, definido como “arquétipo ocidental da atitude ecológica”, viveu essa solidariedade com os sofredores e a criação.
O amor pela natureza os une: São Francisco pregava aos pássaros, e Papa Francisco defendia a Amazônia. Seus testamentos refletem essa ausência de vaidade. O Testamento de São Francisco (1226) exorta à pobreza e obediência, sem posses. Papa Francisco, em seu testamento redigido em 29 de junho de 2022 e divulgado pelo Vaticano em 23 de abril de 2025, dois dias após sua morte, expressou o desejo de um sepultamento simples na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, rompendo com a tradição de sepultamentos na Basílica de São Pedro. Ele escreveu: “Confiei sempre minha vida e meu ministério sacerdotal e episcopal à Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que meus restos mortais repousem, à espera do dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior.” Especificou que seu túmulo, localizado no nicho da nave lateral entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza, deveria ser “no chão, simples, sem decoração especial, e com a única inscrição: Franciscus”. As despesas, segundo o testamento, seriam cobertas por um benfeitor anônimo, com instruções confiadas a Mons. Rolandas Makrickas. Francisco também ofereceu seu sofrimento final “pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos”.
A lenda do lobo de Gubbio simboliza São Francisco. Ele chamou a fera de “irmão lobo” e mediou a paz com os moradores, mostrando harmonia universal. Outra história, do livro ‘O Pobre de Deus’, de Nikos Kazantzakis, é narrada por Frei Leão, que diz no prólogo: “Tu te lembras, Pai Francisco? Este indigno que hoje pega a pena a fim de narrar a tua crônica era humilde e feio mendigo no dia de nosso primeiro encontro. Humilde e feio, cabeludo da nuca às sobrancelhas, tinha a fisionomia coberta de pelos e olhar amedrontado. Em vez de falar, balia feito carneiro, e tu, para ridicularizar minha feiúra e humildade, me apelidaste de Irmão Leão. Porém, quando te contei a minha vida, começaste a chorar e, acolhendo-me em teus braços, disseste: ‘Perdoa-me a zombaria. Agora vejo que és realmente um leão, pois só um leão ousaria pretender o que pretendes. (…). De tanto perguntar, minha garganta secou. De tanto caminhar, meus pés incharam. Cansei de bater às portas, mendigando a princípio pão, depois uma palavra amiga e finalmente a salvação. Todo mundo fazia troça e me tratava como débil mental. Era empurrado, escorraçado, estava farto. Aprendi a blasfemar. Afinal de contas, sou humano, sentia-me exausto de andar, passar fome e frio, suplicar ao céu sem nunca obter resposta. Uma noite, no auge do desespero, Deus tomou minha mão. E também a tua, Pai Francisco. Assim nos encontramos’.” Esse encontro revela a capacidade de Francisco de transformar corações.
Uma história semelhante, que ressoa com a visão espiritual de São Francisco, foi publicada na revista Star of the West. Em 1912, durante uma visita de ‘Abdu’l-Bahá a Nova York, ele passeou pelo Central Park. Após horas no Museu de História Natural, descansou sob as árvores. Um vigia solícito perguntou: “Você gostaria de voltar depois de descansar? Lá tem fósseis e pássaros.” ‘Abdu’l-Bahá sorriu: “Não, estou cansado de ver as coisas deste mundo. Quero subir e viajar e ver os mundos espirituais. O que você acha disso?” O vigia, perplexo, coçou a cabeça. ‘Abdu’l-Bahá prosseguiu: “O que você preferiria possuir? O mundo material ou o mundo espiritual?” O vigia respondeu: “Bem, eu acho que o material.” ‘Abdu’l-Bahá explicou: “Você não irá perdê-lo quando alcançar o espiritual. Quando você sobe em uma casa, você não sai da casa. O andar de baixo continua embaixo de você.” De repente, o velho pareceu compreender, como se uma luz se acendesse. Essa história, com sua simplicidade e profundidade, ecoa a visão de São Francisco, que via o mundo material como um reflexo do espiritual, e de Papa Francisco, que buscava elevar os corações para além das posses terrenas.
Em maio de 1988, visitei o Vaticano , atraído pela Capela Sistina , pelo Museu do Vaticano e pela imponente Basílica de São Pedro . As obras-primas do Renascimento – traços de Michelangelo , Rafael e Giotto – revelaram séculos de história , onde a opulência da arte eclipsava as narrativas dos papas. Dias depois, em Assis , encontrei um contraste sereno. Caminhei pelas ruelas medievais até o túmulo de São Francisco , contemplei a humilde Porciúncula e a Basílica erguida em sua homenagem, onde a simplicidade do santo desafiava a grandiosidade do lugar. Em julho de 2005, retornei a Roma com minha família, revisitando esses caminhos. Naquele tempo, não imaginava que, décadas depois, um argentino de Flores chamado Francisco ecoaria o mesmo despojamento e fraternidade. Hoje, refletindo sobre essas jornadas, vejo como a humildade de São Francisco prenunciava o legado de Papa Francisco , unindo Assis e o Vaticano em um chamado eterno à solidariedade .
Papa Francisco comoveu o mundo em 2013, ao visitar Lampedusa, a pequena ilha italiana próxima à costa africana, onde milhares de migrantes arriscam a vida cruzando o Mediterrâneo em barcos precários. Em 8 de julho de 2013, em sua primeira viagem oficial fora de Roma, ele celebrou uma missa penitencial com um cálice e cruz feitos de madeira de embarcações naufragadas, jogando uma coroa de flores no mar em memória dos mortos. Denunciando a “globalização da indiferença”, ele afirmou: “Tornamo-nos insensíveis ao sofrimento dos outros. Não nos afeta, não nos interessa, não é nosso problema”. Sua homilia, um apelo contra a apatia global, ecoou como um grito por solidariedade, destacando a responsabilidade coletiva pelas tragédias dos migrantes. Ele pediu perdão “por aqueles que, com suas decisões em nível global, criaram situações que levam a esses dramas” e elogiou os moradores de Lampedusa por sua generosidade, que, apesar de viverem em uma ilha de apenas 20 km², acolhiam os recém-chegados com humanidade.
Seu compromisso com os pobres, forjado nas favelas argentinas, também inspira profundamente. Como arcebispo de Buenos Aires, conhecido como o “bispo das favelas”, Bergoglio caminhava pelas ruas de bairros como Villa 21-24, descalço em meio a esgotos e lixo, consolando viciados, liderando procissões religiosas e transformando capelas improvisadas em centros comunitários com jardins. Sara Benitez Fernandez, moradora de Villa 21-24, recordou: “Ele era a pessoa mais humilde de Buenos Aires. Nunca veremos um papa como ele”. O padre Lorenzo “Padre Toto” de Vedia, que trabalhava com ele, afirmou que sua morte em 2025 foi dolorosa, mas sua missão permanece: “Não perdemos o espírito. Seguimos seu legado”. Esse trabalho pastoral, enraizado na proximidade com os excluídos, reflete sua visão de uma Igreja que não apenas prega, mas vive entre os mais necessitados.
A atenção de Papa Francisco à guerra em Gaza, iniciada em outubro de 2023, revelou sua incansável solidariedade com os sofredores. Desde 9 de outubro de 2023, ele manteve contato quase diário com o padre Gabriel Romanelli, pároco da Igreja da Sagrada Família, em Gaza, a única paróquia católica do enclave, que abrigava cerca de 500 pessoas, incluindo cristãos e muçulmanos, em condições de extrema precariedade. Essas ligações, feitas via WhatsApp às 20h, geralmente duravam poucos minutos, mas eram um “sinal de esperança” para a comunidade, segundo Romanelli. Francisco perguntava sobre as crianças, os idosos, a disponibilidade de comida e água, e se havia medicamentos. Em uma ligação em janeiro de 2024, o padre Youssef Asaad relatou com alegria que tinham comido asas de frango, um raro momento de alívio em meio à fome generalizada. Mesmo internado com pneumonia em fevereiro de 2025, Francisco persistiu, superando blecautes em Gaza para fazer videochamadas, projetadas em uma tela para os paroquianos, que o chamavam de “avô”. Ele condenou publicamente a violência, chamando a situação humanitária de “vergonhosa” em novembro de 2024 e exigindo uma investigação sobre possíveis genocídios. Quando duas mulheres cristãs foram mortas por atiradores israelenses no complexo da igreja em dezembro de 2023, ele denunciou o ato como “terrorismo”. Sua última ligação, dois dias antes de sua morte, foi marcada por palavras em árabe: “Shukran, shukran” (obrigado), agradecendo pelas orações. George Antone, líder do comitê de emergência da paróquia, disse: “Ele estava conosco até seu último suspiro. Agora, sentimos que somos órfãos”.
Pés firmes nos caminhos da Paz - São Francisco, um reformador espiritual, viveu como peregrino, desafiando o poder sem aspirações institucionais. Papa Francisco, como líder da Igreja, governou uma instituição global, enfrentando secularismo e crises éticas. Enquanto São Francisco falava aos pássaros, o Papa Francisco dialogava com nações, projetando-se como uma voz progressista no cenário global. Frei Betto, refletindo sobre seu impacto, sublinha: “Foi o chefe de Estado mais progressista de toda a Europa. Nem era europeu, era latino-americano, argentino”. Sua autoridade moral, desprovida de poderio militar ou político, residia em sua falta de ambição por poder. “O Papa era uma figura respeitadíssima porque era um homem sem nenhuma ambição de poder – aliás, ele só tinha um poder simbólico, não tinha Forças Armadas”, conclui Betto.
São Francisco morreu em 3 de outubro de 1226, aos 45 anos, em Assis, cercado por seus irmãos, cantando salmos e louvando a “irmã Morte”. Papa Francisco faleceu em 21 de abril de 2025, aos 88 anos, na Casa Santa Marta, Vaticano, em paz após um AVC e insuficiência cardíaca. Nos últimos três dias, uma mudança silenciosa ocorreu na percepção de milhares sobre a transição da vida para a morte. Relatos dos últimos meses de Francisco revelam que ele tratou sua partida com naturalidade, transformando os ritos fúnebres papais. Ele atualizou o Ordo Exsequiarum Romani Pontificis em 2024, abolindo os três caixões tradicionais por um de madeira com zinco. Escolheu ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, no nicho entre a Capela Paulina e a Capela Sforza, no chão, rejeitando monumentos elevados. Com humor, perguntou ao cardeal encarregado dos “detalhes”: “Você já preparou o meu apartamento junto a Maria?” Como um imigrante turco ou refugiado palestino, ele enfrentou a morte como homem comum, mostrando que a morte é um passo natural para quem crê.
Após sua morte, muitos líderes mundiais expressar os seus sentimentos com a partida do papa. Dentre eles dois líderes se destacam por estarem envolvido numa guerra com milhares de vítimas civis. O russo Vladimir Putin, em telegrama ao cardeal Kevin Farrell em 21 de abril de 2025, destacou: “Papa Francisco promoveu o diálogo entre as Igrejas Ortodoxa Russa e Católica Romana. Guardarei a mais brilhante memória dele.” O ucraniano Volodymyr Zelenskyy, em postagem no X, declarou: “Ele dava esperança e orava pela paz na Ucrânia. Lamentamos com os cristãos. Memória eterna!” Essas mensagens refletem o impacto global de Francisco como ponte de diálogo.
O pontificado de Francisco, marcado por reformas estruturais e uma defesa apaixonada dos marginalizados e do meio ambiente, deixa um legado que ressoa além dos muros do Vaticano. Frei Betto destaca a incerteza sobre o futuro: “Francisco estava implementando reformas estruturais na Igreja Católica. Agora fica uma incógnita: quem será seu sucessor? Francisco se destacou, primeiro, por adotar o nome de Francisco de Assis. Nunca houve um Papa com esse nome”. São Francisco e Papa Francisco, com vidas despojadas, mostram que humildade, pobreza e amor pela criação podem transformar o mundo. Do lobo de Gubbio aos migrantes de Lampedusa, do Crucifixo de São Damião aos “crucificados da história”, aqui vemos legados unidos pelo amor a um Deus Vivo que, cada um à sua maneira, ecoa as palavras de Santa Teresa d’Ávila: “Quem a Deus tem, nada lhe falta: só Deus basta”, convidando-nos a repensar nosso lugar no mundo com empatia e cuidado.
https://www.brasil247.com/blog/francisco-de-assis-e-francisco-das-flores-799-anos-mesma-essencia
25 de abril de 2025


O mundo chora Francisco, para quem “A misericórdia é o cartão de identidade de Deus“
"Sua fé extrema na justiça e na paz sempre foi acompanhada da profunda convicção de que outro mundo é possível se a fraternidade for posta em prática"
Hoje, às 7h35 da manhã, horário do Vaticano, o mundo deixou de ouvir uma das vozes mais carismáticas e humanizadoras de nosso tempo: o papa Francisco.
Sua morte, anunciada pelo cardeal Kevin Farrell e repercutida nas principais emissoras e jornais do planeta, encerra um ciclo de doze anos em que a esperança, a simplicidade e a compaixão encontraram um novo centro de gravidade na Igreja Católica e, mais além, na consciência global.
um tempo ávido de generosidade, escutá-lo era respirar alívio, sorrir diante de sua espontaneidade, renovar-se na possibilidade de um mundo guiado pela empatia e não pela dureza dos fatos. O mundo, hoje, diminui um pouco sem seu pontífice da ternura e da coragem serena.
Da infância aos caminhos do Vaticano: a formação de um pastor
Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio, veio ao mundo em 17 de dezembro de 1936, filho de imigrantes italianos na populosa Buenos Aires. Antes de ingressar na vida religiosa, trabalhou como técnico químico, vivenciando desde cedo as agruras e a resiliência do povo argentino. Em 1958, respondeu à vocação e entrou para a Companhia de Jesus, sendo ordenado sacerdote em 1969.
Suas décadas seguintes foram marcadas por dedicadas funções de professor, formador, provincial dos jesuítas na Argentina e, depois, bispo auxiliar e arcebispo de Buenos Aires. Sua eleição como papa, em 2013 — a primeira de um jesuíta, de um latino-americano, de um pontífice não europeu desde o século VIII — não foi acidente: era o clamor de uma Igreja que buscava se reencontrar com sua essência.
Ao assumir o nome de Francisco, uma homenagem direta ao santo de Assis, já deixava claro o desejo de viver e governar com humildade, uma Igreja despojada de privilégios e focada em servir os últimos.
Escolheu morar na Casa Santa Marta, recusando o luxo do Palácio Apostólico, e fez do gesto concreto sua melhor tradução da doutrina cristã.
Visitou favelas, lavou os pés de detentos, acolheu migrantes; propôs e encaminhou reformas profundas na administração, finanças, comunicação e políticas internas do Vaticano.
Não raro, chocou a opinião pública ao inaugurar — com seu sorriso franco e bom humor — uma postura pastoral ao lado dos marginalizados e no centro dos debates dos nossos dias.
Uma espiritualidade toda inclusiva
Em meio à trajetória de Francisco, permito-me uma breve confissão pessoal. Minha origem religiosa é o catolicismo romano; toda a minha infância e juventude foram marcadas pelos valores aprendidos em colégios como o Nossa Senhora da Vitória e o Nossa Senhora das Neves. Entretanto, aos 16 anos, me declarei bahá’í, fascinado pela compreensão de que a religião é uma só porque Deus é o mesmo e que ‘a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos’. Aprendi que não é razoável estabelecer distinções ou juízos de valor entre religiões, pois todas compartilham um objetivo comum: a união da família humana e a promoção de um mundo pacífico e justo. O que realmente importa é a conduta dos seguidores — se bons ou maus — e, desde jovem, compreendi que há infinitos pontos de convergência em todos os caminhos religiosos.
Todas as tradições favorecem a criação de justiça social e solidariedade, ensinando que somos como gotas do mesmo mar e folhas da mesma árvore, chamados a cultivar o respeito e a fraternidade em toda a humanidade. Fato.
Foi justamente por sua postura de diálogo que Francisco conquistou tanto católicos quanto seguidores de outras fés. Desde o início de seu pontificado, buscou construir pontes com líderes muçulmanos, judeus, bahá’ís, budistas, ortodoxos e protestantes, tornando-se o protagonista de encontros históricos em prol da compreensão e da paz mundial.
Francisco foi incansável na coragem de enfrentar as crises internas da Igreja, como o escândalo dos abusos sexuais, propondo maior transparência, justiça e responsabilização de superiores eclesiásticos.
Em suas encíclicas “Evangelii gaudium”, “Fratelli tutti” e, sobretudo, “Laudato si’”, Francisco ofereceu não apenas orientações pastorais, mas também manuais de esperança e ética para tempos de desafios ambientais, desigualdades e novas formas de exclusão.
Sabia usar o humor e o afeto — qualidades reconhecidas em perfis da BBC e do The New York Times — como pontes para quem se sentia distanciado da Igreja. Temas delicados, como a acolhida de homossexuais e divorciados, eram por ele pautados numa linguagem desarmada:
“Quem sou eu para julgar?”, eternizou para o mundo.
Para Francisco, “a misericórdia é o cartão de identidade de Deus”.
Sua fé extrema na justiça e na paz sempre foi acompanhada da profunda convicção de que outro mundo é possível se a fraternidade for posta em prática.
Legado, despedida e dor
A notícia da morte de Francisco foi comunicada oficialmente após uma longa luta contra uma pneumonia, agravada desde fevereiro de 2025. Nos últimos meses, mesmo doente, insistiu em abençoar multidões — como fez na Praça de São Pedro durante a Páscoa — e a transmitir tranquilidade àqueles à sua volta. Faleceu aos 88 anos, na Casa Santa Marta; a repercussão global imediatamente evidenciou a dimensão singular de seu pontificado.
Sua ausência será sentida de maneira dolorosa em uma humanidade atravessada por guerras, conflitos e incertezas. O mundo se despede de Francisco em meio a múltiplas crises, perdendo uma de suas vozes mais confiantes na força do diálogo, do perdão e do bem comum.
Ele parte tendo deixado sementes de esperança, pontes entre razões, sorrisos que confortam e um legado que desafia gerações a não se resignarem frente à desesperança. Seu bom humor, simplicidade – visível até nos pequenos gestos diários – e confiança absoluta de que a justiça e a paz podem vencer ecoarão como consolo e convocação.
Hoje o mundo encolheu um pouco. O papa Chico (carinhosamente assim referido por milhões de sem-teto, refugiados e deserdados da Terra) parte com o dever cumprido e com a certeza de ter devolvido à Igreja e ao planeta uma centelha de dignidade, compaixão e unidade.
Deixa atrás de si não apenas documentos e reformas, mas uma herança de ternura, coragem e fé profunda no amanhã. Em meio ao choro e ao silêncio do adeus, há uma certeza: Francisco sai de cena, mas sua vida dedicada à compreensão humana e a paz mundial permanecerá em cartaz sendo encenada em todos os palcos do mundo diariamente e por muito, muito tempo ainda.
21 de abril de 2025


Adolescência sequestrada por telas ganha voz na Netflix
Adolescência não é só uma série; é um alerta. Enquanto jovens giram na roda viva da modernidade, cabe aos adultos estender a mão para que não se percam no vazio
Lançada na Netflix, em 13 de março de 2025, a minissérie britânica Adolescência (título original: Adolescence) chega como um soco no estômago, um espelho incômodo da juventude contemporânea. Criada por Jack Thorne e Stephen Graham, e dirigida por Philip Barantini, a trama acompanha Jamie Miller, um garoto de 13 anos acusado de assassinar uma colega de escola. Filmada em quatro episódios em plano-sequência, a série não é apenas um drama policial, mas uma radiografia visceral dos desafios enfrentados por adolescentes em um mundo fragmentado, onde o real é sequestrado pelo virtual e o amadurecimento saudável parece uma utopia distante.
A adolescência hoje é um campo minado. Os jovens entre 12 e 16 anos navegam por uma roda viva de competições — sejam elas por popularidade nas redes sociais, sucesso acadêmico ou aceitação entre pares.
Play Video
São como pássaros presos em gaiolas de espelhos, refletindo imagens distorcidas de si mesmos, moldadas por um consumismo agressivo que vende a ilusão de que a felicidade está na próxima compra, no próximo “like”.
Estatísticas alarmantes mostram o impacto desse ambiente nas famílias: no Brasil, segundo o IBGE, a taxa de divórcios subiu 75% entre 2000 e 2020, com cerca de 40% dos casais com filhos menores de idade se separando. Nos EUA, o Pew Research Center aponta que 50% das crianças crescerão em lares monoparentais.
Essas rupturas familiares frequentemente relegam os adolescentes a um plano secundário, enquanto pais lidam com suas próprias crises, deixando a guia e a educação dos filhos à mercê de telas e algoritmos.
O mundo virtual, com suas promessas de conexão instantânea, sequestra mentes imaturas que buscam preencher o vazio de pertencimento. É como se os jovens fossem náufragos agarrados a tábuas frágeis num mar de notificações, onde a validação vem em forma de curtidas e a solidão é mascarada por filtros.
Um estudo da Lancet Child & Adolescent Health (2025) revelou que, na Inglaterra, internações por automutilação entre adolescentes aumentaram 112,8% entre 2012 e 2022, muitas vezes ligadas à pressão das redes sociais.
Esse mal-estar é um grito mudo, um diálogo surdo entre gerações que não se entendem, abafado pelo ruído de expectativas inalcançáveis.
A série ‘Adolescência’ captura essa angústia com maestria. Jamie, interpretado por Owen Cooper, é um adolescente comum que se radicaliza em espaços tóxicos online, como fóruns incel, após ser humilhado por colegas. A série não romantiza nem condena; ela expõe.
A ausência de cortes na filmagem amplifica a sensação de urgência e desespero, como se estivéssemos presos na mente de Jamie, testemunhando sua queda. Os pais, vividos por Stephen Graham e Christine Tremarco, são figuras dilaceradas pela culpa e impotência, refletindo a realidade de tantas famílias que, entre fragilidades financeiras e prioridades desencontradas, perdem o fio da conexão com os filhos.
É um retrato cru de como políticas de Estado e dinâmicas sociais frequentemente ignoram essa faixa etária, deixando-a vulnerável a predadores virtuais e à competição desenfreada por status.
Para os que não se encaixam nos padrões — os impopulares, os de baixa autoestima —, o custo emocional é devastador. A série mostra isso ao explorar o bullying e a misoginia que corroem Jamie, um eco do que muitos enfrentam em silêncio. Mas há caminhos para apoiar esses jovens. Aqui estão cinco estratégias práticas:
Ouvir sem julgar: Crie espaços seguros para que eles expressem inseguranças e ansiedades, mesmo que pareçam triviais.
Limitar o virtual, fortalecer o real: Reduza o tempo de tela e incentive atividades presenciais, como esportes ou hobbies em grupo.
Ensinar regulação emocional: Apresente técnicas simples, como respiração profunda, para lidar com a ansiedade.
Ter mais tempo com eles: Reserve tempo diário para conversar, mostrando que eles são prioridade, não um peso.
Criar uma agenda familiar: Reserve um ou dois dias por semana para os pais e filhos passarem tempo juntos — ir ao cinema, jantar em um restaurante, visitar uma livraria ou simplesmente tomar um sorvete, fortalecendo laços familiares não só entre os pais e os filhos, mas também entre os irmãos.
Adolescência não é só uma série; é um alerta. Enquanto os jovens giram na roda viva da modernidade, cabe a nós, adultos, estender a mão para que não se percam no vazio. A escola transmite conhecimentos, mas educar é a grande responsabilidade dos pais.
https://www.brasil247.com/blog/adolescencia-sequestrada-por-telas-ganha-voz-na-netflix
06 de abril de 2025


Dia da infâmia
A que ponto chegamos! Era apenas mais um dos turistas brasileiros instalado em um ótimo hotel, o Bustamanti, no bairro da Providência, em Santiago do Chile, quando fui alertado por telefone que terroristas avançavam sobre o Congresso Nacional. Já fiquei tenso. Onde meu remédio para pressão? Ah, sim, aqui em cima do frigobar.
Estava todo consciente que aqueles edifícios, belíssimos palácios, nascidos da genialidade de Oscar Niemeyer estariam completamente desamparados e indefesos ante a selvageria, o terrorismo e a estupidez humana expressas em delírio bovino. Todos os palácios feitos com a tímida transparência dos vidros. Janelas não eram janelas, mas sim, amplos espaços envidraçados. Portas não eram de madeira nem de aço ou cobre, eram extensas lâminas de blindex. Divisórias usando vidro, quais humanos aquários, frágeis ante golpes de barras de aço contra elas arremessadas. Impotentes diante de lançamentos de bolas de gude, só que de aço. Vulneráveis e inaptos a golpes de mesas e cadeiras sobre essas estrutu arremessadas.
“Oscar, seus projetos foram feitos de árduo trabalho ou contou apenas com vastas porções de utopias?”, havia lhe perguntado naquele agosto de 2008 em que lhe visitei em missão oficial em seu amplo (e sisudo) apartamento da Avenida Atlântica no Rio de Janeiro. “Foi tudo mezzo mezzo, tudo meio a meio!” me responde enquanto tirava uma baforada de um puro há muito aceso entre os dedos. Naquele ano já tinha fechado 101 anos de vida. Esses pensamentos me chegavam como clarões sempre que espoucavam vidros estilhaçando-se nos edifícios do Planalto, do Senado, da Câmara, do Supremo.
Rebobinei o tempo. Estávamos em 1957 e o arquiteto cinquentão puxava as linhas, criava as famosas curvas de forma tal que até o papel parecia se recusar a retê-las. Naqueles anos JK, como o ousado arquiteto poderia imaginar que, menos de 70 anos depois marchariam sobre suas obras hordas de bárbaros, delinquentes, terroristas e absolutos mentecaptos, deixando atrás de si ruínas e mais ruínas? Enquanto me vinham tais pensamentos novas mensagens chegavam. Era o caos no próprio coração da democracia — nas casas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.
Só tive dois empregos em minha vida de, vamos lá, 63 anos de idade: 18 anos no Banco do Nordeste seguidos por outros 21 anos no Senado Federal. Fato é que cada um desses espaços vandalizados, cada salão nobre profanado, cada tapeçaria rasgada, cada vidraçaria estralhaçada e cada obra de arte assassinada fizeram fundos estragos em mim. Não são apenas os humanos que possuem alma. Não, muito longe disso. Os espaços simbólicos de ideais tão eternos quanto aqueles na França renascida em 1789 que pugnavam por liberdade, igualdade e fraternidade, passaram a trazer consigo o Espírito de um tempo, de uma era, de um avanço civilizatório.
Cancelei passeio a Isla Negra para ficar em meu apartamento. Meus olhos se recusavam a acreditar no que clamava por justiça a pulsar ali na pequena tela do iPhone. Agora, uma semana depois desse 8 de janeiro de 2023, data que será recordado por gerações ainda não nascidas como o Dia da Infâmia, longo necrológio ainda se desenvolve, mórbido Inventário das Sombras precisa ser concluído custe o que custar, e que civis (inocentes úteis, criminosos, financiadores e disseminadores de desinformação) e militares (de baixas e de altas patentes) sejam punidos no rigor mais intenso contido em cada letra da lei. Como professor universitário de Sociologia e de Ética Pública, dentre outras disciplinas, não me cairia bem ficar em cima do muro. Quem cala ante as vilanias e infâmias, consente-as.
19 de janeiro de 2023


TV estagnada, Pantanal estagnado e o gado... zanzando por aí
Esperava-se mais, muito mais, da nova produção de Pantanal. Uma espera em vão
-- Frustrante. Decepcionante. Não mostrou a que veio.
Esperava-se mais, muito mais, da nova produção de Pantanal. Uma espera em vão. Como a espera de Godot, do Beckett, o que se viu no primeiro capítulo da nova produção global deixou a desejar. E não me venham com essa estória de que não podemos comparar com a obra prima original, aquela do Benedito Ruy Barbosa que estreou na Manchete em 1990 e que permanece até hoje como paradigma de televisão-beleza, televisão-estética, televisão-verdade. E também televisão-encantamento.
as se não fizermos a necessária e indispensável comparação com a produção original de 32 anos atrás, qual a maneira certa de aferir se a Globo pesou na mão, carregou na dose, e principalmente, se a Globo mesmo tanto tempo passado, com tantas novas tecnologias brotadas no oceano do audiovisual e a seu dispor saberia como fazer algo à altura do original?
Posso estar muito equivocado, mas ver tanto gado zanzando pra lá e pra cá, gado sem serventia alguma, gado-figurante em lentas imagens a beira de serem taxadas de tediosas. Até o boi Marruá da Globo – êta boizinho mixuruca, se era para deixar o telespectador amedrontado, deixou-o bem à vontade e sorridente ao lembrar da cara do Chris Rock após ser atingido com um tapa que jamais imaginaria receber na grande noite da Sétima Arte, desferido por destemperado do Will Smith!
Mas, que tal começarmos do início? A abertura do remake perdia de 7 x 1 para a abertura da Manchete. Foi como se, mesmo pós-tumulo, Adolpho Bloch aplicasse um de direita no Roberto Marinho e depois resolvesse expor a motivação:
--- Vocês têm capital, tecnologia, infraestrutura, influência midiática e seguem amparados em formidáveis ações de marketing noveleiro, mas convenhamos, falta-lhes a manha a perícia, e a criatividade daqueles destituídos de tais atributos...
A abertura atual traz consigo um cheiro de coisa requentada ,intragável e parece soar algo, digamos, fake. Enquanto a Manchete fazia a abertura com alucinantes imagens de bichos que de tão vívidos e cheios de vigor, parecia estar saltando das telas direto (e non stop) para nossas salas de tevê, e que dizer da beleza exuberante da atriz Nani Venâncio no auge de seus 21 anos de idade se entrelaçando com onças e rios? Sim, vigor foi a marca do Pantanal antigo e agora, tínhamos imagens crepusculares bem ao estilo daqueles cartões postais pré-Internet da Edições Paulinas nos anos em que estreou a novela da emissora bem entronizada na Rua do Russel carioca. E todos sabem que a abertura de uma novela vale já quase 1;/3 do valor do ingresso para se assistir um bom espetáculo televisivo. Terá a Globo se esgotado em si mesma? Fará a Globo do seu principal produto-novela o mesmo que fez com seu secundário produto-jornalismo? E o que ela fez? Tornou jornalistas não mais que leitores de teleprompters, amordaçou a livre opinião, optou pela pântano estagnado do pensamento único, neoliberal, reacionário tantas vezes.
A escalação do elenco deixou a desejar. A maior parte do atores parecem ter amnesia da pele e não memória da pele. Explico. Os atores estão mais para frequentadores três a quatro vezes por semana de academias da zona sul carioca que para vaqueiros e peões ainda muito encontrados nos cafundós do Brasil profundo. Falta-lhes o physique du rôle”, em francês , significando a aparência física (physique) adequada para o papel (du rôle) desempenhado por um (a) ator (atriz), numa peça. Trocando em miúdos, quando falta a um elenco esse tal physique du rôle, é como se faltasse logo tudo. Um exemplo mais didático: um ator franzino, magro e varapau não tem o “physique du rôle” adequado para representar Tim Maia; o mesmo ocorre com um artista musculoso , gordo e de baixa estatura para personificar Woody Allen.
E isso falta aos vaqueiros e peões, ao habitat rural recriado pelas lentes da Globo para o Pantanal que deseja chamar de seu. Eles são quase sempre franzinos e não tem calças de cowboys folgadonas que dê jeito. Juliana Paes, sempre linda com o passar dos anos, parecia transfigurada em outra mulher, muito mais idosa, rosto lambuzado de cinzas aqui e alie aquele mega-hair despropositado. Alguém imaginaria Maria Marruá saindo de um salão de beleza do Leblon? É de lascar. A Globo precisa trabalhar muito para fazer algo natural e simples, algo que passe verossimilhança. E fazer o simples é sempre mais complicado e difícil que fazer o seu contrário. A praia da Globo são as metrópoles urbanas, mas, quando não pesa a mão, vez ou outra, nos hipnotiza seu belo folhetim de 1999 – Terra Nostra.
E se Maria Marruá ressuscitasse certamente diria a Ju Paes: “Sai desse corpo, que ele não te pertence!” No entanto, a atriz tem tudo para dar certo, mas do jeito que nos foi apresentada no primeiro capítulo desse 28 de março, a atriz não passa de um desperdício. E poderia deitar falação sobre outros personagens, como a Juma de nossos dias jovens, como o Zé Leôncio criança, adolescente jovem. O desafio de integrar à paisagem pantaneira o elenco é imenso, isso sabemos bem, afinal meu mestrado de Cinema na UnB tem servido para alguma coisa... Sei não, esse remake tem tudo ainda para ser bom, é só acostumar os olhos a uma fotografia de menor qualidade estética, mas uma coisa parece já ser certa -- o pantanal que vi ontem é tech, cheio de botox e mais uns capítulos talvez seja pop. Porque agro, rural, não é, e tudo, está longe de ser, assim como longe estão do plano piloto de Brasília os Champs-Elysées parisiense, a Jam Path Road, no centro de Délhi, na Índia.
Todo remake é um salto no escuro. Algumas vezes se cai no vácuo, outras se cai no aturdimento desesperançado. É inglório competir com as imagens dos personagens que trazemos anos a fio na memória do sentimento, do coração. São imagens idealizadas e por isso é um exercício doloroso. Daí a gritaria do Marcos Palmeira, que trabalhou no original da Manchete e trabalha agora na versão da Globo: “Não devemos fazer comparações entre uma e outra!” Ora, vá se catar, Marcos!, fico rindo com meus botões!
Voltarei a esse assunto. E tratarei de Juma, do Velho do Rio e de outros mais.
Por enquanto o descuido é todo da Globo que parece nem mesmo sabe onde está pisando.
Mas comigo, e com a imensa legião de admiradores da Pantanal da TV Manchete, sabemos que todo cuidado é pouco quando se pisa no pantanal.
Porque o pantanal é sagrado. Tanto na ficção quanto na vida real.
https://www.brasil247.com/blog/tv-estagnada-pantanal-estagnado-e-o-gado-zanzando-por-ai
29 de março de 2022


O Oscar da treta gigantesca
A dificuldade de se aderir à não-violência é saber se controlar quando o calo aperta na gente. Até então, as coisas não saem das bonitas palavras
A violência, nesses tempos malucos, chegou de vez à cerimônia do Oscar.
Um dos apresentadores, o quase sempre ácido Chris Rock se excedeu ao semear aquele seu “humor” virulento e, poderia se esperar algum troco, algum dia. Terminou sendo nessa noite hollywoodiana do Iscar 2022 — colheu um tapa vigoroso de um Will Smith, digamos, descontrolado.
Play Video
Depois Will que recebeu sua 1a. estatueta como Melhor Ator, o ator fez longo discurso, passou pano a seu ato de violência explícita e não se desculpou nem nada.
“Tudo faço pra proteger minha família… proteger meu povo… cansei de receber abusos gratuitos!”
Will caiu em meu conceito e o Chris Rock já não estava bem em meu conceito. Também não se sabe a história toda: os dois vêm de tretas antigas, mal resolvidas.
Espero que a Academia de Hollywood não convide esses dois por umas três futuras cerimônias ou mais.
Se optar por não agir assim, sugiro que coloque uma boa grade separando palco de plateia, pois os ânimos poderão se exaltar!!
Convenhamos: apresentadores do Oscar ao longo dos anos competem oara ver quem diz a baboseira mais infame, o comentário mais infeliz e tudo de fibra descontraída como se fosse humor de casa onde se consome Doriana, aquela antiga marca de margarina das famílias felizes.
Outros pontos para reflexão imediata:
1. O Brasil foi um dos países que mais apoiou a atitude do Will. Enquanto a maioria da mídia internacional criticou a atitude dele.
2. Will Smith: “Denzel [Washington] me disse há alguns minutos. ‘Em seu momento de maior grandeza, tome cuidado. É nessa hora que o Diabo irá te procurar'”.
3. A dificuldade de se aderir à não-violência é saber se controlar quando o calo aperta na gente. Até então, as coisas não saem das bonitas palavras, das platitudes. A treta de gala ontem mostrou que o ensinamento de 2.000 anos atrás do “oferecer a outra face” ao agressor está muito longeeee de ser real, factível. Espero não ter que sair no braço com quem desfira ataques verbais as mulheres de meu círculo íntimo — mãe, esposa, filhas. É difícil? É. Precisa ter sangue de barata, que aliás nem sangue tem? Precisa.
4. Mas para mudar o mundo uma das primeiras coisas a ser mudada é a milenar lei do Talíao — aquela do olho por olho. Não se muda nada se continuamos mantendo a ferro e a fogo nossos velhos padrões de comportamento. Sem sairmos da zona de conforto lutamos para que tudo continue como sempre foi. Como enxugar gelo — tarefa inglória e inócua.
Segue o baile da impulsiva insensatez.
28 de março de 2022


A seleção e o mal-estar do Brasil
Houve um tempo em que torcer pela Seleção brasileira era o que havia de melhor. Claro, estou pensando nas nossas antigas Seleções. Elas pareciam sobre-humanas, forças sobrenaturais envergando o manto verde-amarelo
Houve um tempo em que torcer pela Seleção brasileira era o que havia de melhor. Claro, estou pensando nas nossas antigas Seleções. Elas pareciam sobre-humanas, forças sobrenaturais envergando o manto verde-amarelo. E isso quer dizer aquelas a partir de 1950. E que vão até 2002. Era um tempo em que ser escalado para jogar em nosso selecionado nacional era a honra das honras, um privilégio único, e uma benção bastante incomum, e por isso muito preciosa. Honra porque iriam defender o Brasil usando chuteiras em gramados distantes, par a par com dezenas de outras nações.
Privilégio porque antes já haviam defendido nossas cores craques como Mané Garrincha, Ademir da Guia, Barbosa, Nilton Santos, Didi, Heleno de Freitas, Jairzinho, Rivelino. E Pelé. E benção porque eles, e somente eles, seriam alvos das preces de milhões de brasileiros mundo afora: "Que Deus proteja nossos meninos!", "Que Deus os guie, e os tornem vitoriosos em cada jogo!" Sim, as antigas eram seleções convocadas, acima de tudo, pelo talento, pela chispa de genialidade que deles emanava, pelo gosto e pela arte com que faziam milagres com a bola. E depois de craques consumados como Éder, Sócrates, Zico, Amarildo, vieram os jogadores-holofotes. Os jogadores que jogam apenas por dinheiro e para estrelar comerciais de carros, cartões de crédito e sabão em pó. E foi aí que nosso mal-estar começou. E nosso inferno astral se alastrou como sarampo sobre o corpo da nação.
Mal-estar que dura até hoje. E foram atletas como Ronaldo (Fenômeno?), Adriano (Imperador?), Falcão (Kaiser?), Neymar, que me fizeram descrer de minha Seleção. Descobri que não bastava ser apenas talentoso com a bola para merecer meu respeito, minha admiração. Era indispensável ter algumas virtudes humanas básicas: bom caráter, humildade, confiabilidade, carisma. E constatei que ex-atletas como Ronaldo Nazário esbanjavam exatamente o oposto. Além de serem maus exemplos de pessoa, pareciam fazer questão de serem pontos fora da curva de nossa bela história no futebol. O desejo desenfreado por rapidamente conquistar fama, fazer o maior número possível de ações de marketing, o anseio alucinado por aparecer a todo custo na mídia, a falta de senso de ridículo quando se põem a emitir opinião sobre tudo o que geralmente não entendem, e a forte inclinação que demonstram para se envolverem em escândalos e barracos os mais variados, seja com o uso de drogas, noitadas marcadas por drogas e bebidas em excesso, corrupção graúda, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos, prostituição em larga escala e o ímpeto destrutivo pela ostentação fútil, tudo isso depõe contra eles. Enfim, neles parecem faltar o item mais valioso para envergar o manto auriverde nos campos e na admiração de milhões de compatriotas: falta-lhes as luzes de um bom caráter. E por lhes faltar um bom caráter, falta-lhes como consequência todo o restante. Alguém se deu o trabalho para ver Ronaldo Fenômeno concluir um raciocínio sequer, sem o complacente apoio da imprensa?
É difícil fazer vista grossa para o estilo ostentação e profundamente fútil de Ronaldo e, mais recentemente, Neymar Júnior, quando os comparamos, por exemplo, com prodígios do futebol de outras nacionalidades. Pensemos no português Cristiano Ronaldo e no argentino Lionel Messi. A distância dos nacionais com os colegas internacionais é imensa. A começar pela seriedade com que se portam alçados já há tantos anos ao estrelato mundial do nosso esporte favorito. Alguém já imaginou Cristiano Ronaldo mudando de visual - algo tão simples e banal - a cada jogo e sempre com tendência para o ridículo o mais ilimitado e patético possível? Será que o português não abre mão de seus próprios gostos e não se esforça em passar sua boa imagem em competição onde representa seu país? Com certeza ele sabe que milhões de crianças no planeta o veem como herói, como exemplo a ser seguido. Mas então nos falam que os nossos "canarinhos mais vistosos" vem de famílias muito pobres, desestruturadas e trazem marcas de discriminação racial e social desde seus tempos de crianças. Mas será mesmo? Então... e o Messi? Quer uma origem mais miserável, pobre, carente que a do craque argentino? Observem o porte do Messi, vejam no Youtube suas entrevistas, analisem como é usada sua imagem. A diferença é brutal. Claro, também tem seus deslizes. O Fisco, por exemplo. Mas, ao fim, eles pagam o que devem, assumem o erro e tratam de não mais entrar em situações análogas.
No quesito bom-mocismo, - talvez à exceção do grande Garrincha, o nosso anjo de pernas tortas, desde cedo vítima de alcoolismo -, minha geração teve realmente ótimos ídolos no futebol. A magia do futebol transcende as quatro linhas do gramado, captura nosso sentimento de civismo e cidadania e nos faz pensar sobre o que é que faz brasileiro... o brasileiro. E o amor ao futebol é sem dúvida alguma uma de nossas características dominantes. Ganhar de presente camisa de um clube de futebol, uma bola é algo tradicional que os pais presenteiam os filhos tão logo consigam se firmar nas pernas e possam dar seus primeiros (e desengonçados) passos. Foi assim comigo e foi assim com meu filho Thomas. A Seleção nos últimos mundiais parece um espelho da decadência em que o Brasil se encontra, o retrato falado de nossas guerras urbanas, dos confrontos do morro com o asfalto, das investigações de denúncias de corrupção nos seus contratos e no pagamento de seus salários, passes, cachês. É isso que nos faz ficar com o pé atrás sempre que o país irá se apresentar em outro país. E também as mal contadas histórias para justificar, até hoje, vinte anos depois, o súbito mal-estar de Ronaldo na final da Copa da França (1998), mal-estar que nos fez perder o título mundial daquele ano, e há quatro anos atrás, a goleada por 7 a 1 que sofremos da Alemanha na Copa brasileira de 2014. Tais fatos recentes denunciam nossa percepção de que nossa relação afetiva e sentimental com a "Pátria de chuteiras" encontra-se literalmente no fundo do poço.
https://www.brasil247.com/blog/a-selecao-e-o-mal-estar-do-brasil
18 de junho de 2018


Tempo para refletir sobre o futuro da humanidade
Há uma imensa carga de energia e de conhecimentos à nossa disposição para transformar este mundo num lugar melhor, mais amistoso e solidário, mais firmemente comprometido com a paz, sua segurança e o respeito à rica diversidade humana que é, ao final, nosso maior legado
A humanidade de tempos em tempos se curva ante uma personalidade que simbolize à inteirezauma época duradoura de paz, seus mais duradouros sonhos de um futuro feliz, um renovar de suas energias criativas para novamente impulsionar o avanço civilizatório.
Há cerca de 6.000 anos isso ocorreu com a vinda de Krishna, na Índia, e coube a ele nos ensinar com sua Sublime Canção, que a verdadeira luta se trava do lado esquerdo do peito, no coração, e é a luta contra os males do egoísmo e da paixão. Há 4.000 anos Moisés desceu do monte com as tábuas da Lei, com os seus 10 Mandamentos, na Palestina, e tão imponente evento deu origem a todos os códigos de leis que hoje conhecemos. Há 2.000 anos, vemos Cristo em seu primeiro advento, na Galiléia, também Palestina, revolucionando os destinos humanos com sua maior lei – a do Amor.
Se observarmos bem, o espaço de tempo entre Krishna, Moisés e Cristo tem durado em média cerca de 20 séculos. E então, cerca de 600 anos depois de Cristo, surge Maomé, na península arábica e seu legado gera o emergir da primeira nação da Terra, a Arábia, e o conceito abrangente da submissão à vontade divina. Uma coisa é certa: o mundo como o conhecemos deve muito de sua evolução, progresso e conquistas à vinda dessas personalidades. Eles trazem um Livro, que consideram sagrado por conter a Mensagem divina à época em que surgem. Eles trazem mandamentos, ensinamentos, advertências, profecias. Eles são os fundadores das grandes religiões monoteístas: o Hinduísmo, o Judaísmo, o Cristianismo, o Islamismo. E u todos orbitam em volta de um mesmo eixo, como planetas em volta de um mesmo Sol da Realidade. Este eixo atende pelo nome de Deus, Alláh, Teo, Ser Incognoscível, Energia Cósmica. Nesse ponto vemos claramente que a linguagem falha ao buscar descrever "o que é puro Espírito", daí a profusão de nomes para designar o Criador.
Entre os anos 1844 e 1852, na Pérsia, hoje conhecida por seu nome moderno, Irã, surge não apenas outra dessas personalidades únicas, singulares. Surgem dois e, devido à proximidade histórica temporal entre eles, são adequadamente reconhecidos como as Manifestações Gêmeas de Deus. Os dois fazem anúncios que abalam os alicerces da história humana: assumem-se como continuadores da sagrada linhagem de Mensageiros de Deus, afirmam cumprir tudo o que foi entesourado por séculos nas profecias contidas em todos os Livros Sagrados do passado, convidam a humanidade a se elevar a um novo estágio de seu processo evolutivo – o da Unidade do Gênero Humano. Eles se chamam Ali Muhammad e Mirzá Husayn Ali, mais conhecidos posteriormente como O Báb e Bahá'u'lláh, respectivamente.
Estamos vivendo, portanto, sob a influência benéfica e direta desses dois Luminares e neste ano de 2017, cerca de 7 milhões de pessoas se movimentam em todas as regiões do planeta para prestar entusiásticas, apaixonadas e condignas, homenagens à data em que se celebra o nascimento de Bahá'u'lláh, ocorrido em 1817, há exatos 200 anos passados. Esses Dias sagrados gêmeos – exatamente 20 e 21 de outubro de 2017 – nos oferecem a oportunidade para "comemorar momentos em que um Ser inigualável na criação, uma Manifestação de Deus, nasceu para o mundo".
A vida tanto do Báb quanto de Bahá'u'lláh são, sob todos os ângulo que se analisem, realmente extraordinárias: os dois eram dotados de conhecimento inato, os dois tinham uma vida interior, devocional bastante intensa, os dois proclamaram as provas e evidências de que eram portadores de mensagens enviadas por Deus, os dois sofreram perseguições, foram humilhados, torturados, despojados de seus bens terrenos, aprisionados, desterrados, os dois viveram oceanos de angústias e aflições em seus últimos anos de vida. O Báb foi fuzilado em praça pública da cidade iraniana de Tabriz, em 1850. Bahá'u'lláh foi exilado quatro vezes envenenado três vezes, viveu seus últimos 23 anos de vida terrena como prisioneiro na cidade fortificada de ´Akká, antiga Palestina, e faleceu em 1892.
A mensagem que Bahá'u'lláh trouxe foi comunicada por Ele mesmo em epístolas premonitórias às cabeças coroadas de seu tempo, o século 19, o que incluía Napoleão III da França, Kaiser Guilherme da Alemanha, Czar Nicolau da Rússia, Rainha Vitória do Reino Unido, Sultão 'Abdu´l-Azíz da Turquia, Nasirin-Din Sháh da Pérsia e também aos líderes religiosos da época, que incluíam o papa Pio IX. Os ensinamentos de paz e unidade, de igualdade de direitos entre homens e mulheres, de harmonia entre religião e ciência, de eliminação dos preconceitos, de livre pesquisa da verdade e do conceito de que existe apenas um Deus, uma religião transmitida à humanidade por etapas e uma só humanidade impactaram positivamente líderes do pensamento do século 19 e 20, pessoas como Leon Tolstoi, Edward Browne, Rainha Maria da Romênia, Eça de Queiróz, Mahatma Gandhi, Helen Keller, Lázaro Zamenhoff, Romain Rolland, George Townshend, Gibran Khalil Gibran, e tantos outros.
A maioria das cabeças coroadas à época em que receberam missivas de Bahá´u'lláh o trataram com desdém, quando não com indiferença. Praticamente todos eles viram seus reinados naufragarem, seu poderio temporário de extinguir, suas dinastias serem interrompidas abruptamente. À exceção da Rainha Vitória que mostrou simpatia pela mensagem vinda do Prisioneiro de ´Akká, esses reinos, tão opulentos, arrogantes e considerados até então invencíveis, logo foram varridos do mapa político mundial.
Agora, neste mês de outubro quando se celebra o Bicentenário do Nascimento de Bahá'u'lláh, podemos ver que é outra, e sumamente positiva, a receptividade dos líderes mundiais à sua mensagem, a percepção de sua luminosa vida torna-se mais e mais evidente e a compreensão de que seus ensinamentos são inteiramente capazes de solucionar – e de uma vez por todas - os muitos sofrimentos que afligem a espécie humana, sofrimentos como o irromper de guerras ruinosas, a corrupção e o mau uso do dinheiro público, insegurança nos meios urbano e rurais, devastação dos recursos naturais do planeta, epidemias que ceifam milhões de vidas em países pobres e sofridos e que rapidamente poderiam ser debeladas.
Nos últimos dias governantes de diversos países saudaram efusivamente as celebrações em torno da Figura Profética de Bahá'u'lláh. Vejamos alguns:
A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, referindo-se a Bahá'u'lláh, escreveu: "Sua vida, seus ensinamentos e sua compaixão continuam a inspirar pessoas ao redor do mundo, e todos podemos aprender com sua generosidade e sabedoria". E logo agregou que "a comunidade bahá'í do Reino Unido é uma parte importante da sociedade britânica".
O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Bill English, em sua mensagem à comunidade bahá'í de seu país afirmou que "muitos na Nova Zelândia e em todo o mundo estarão comemorando este aniversário muito especial, e espero que vocês se deleitem com as festividades junto às suas famílias e seus amigos".
O primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull, ainda no início deste ano, em sua mensagem à comunidade bahá'í, por ocasião de Ridván , escreveu um tributo edificante, reconhecendo este ano bicentenário especial. "Os bahá'ís da Austrália são uma comunidade calorosa e amistosa, uma comunidade de música e de caridade, uma comunidade que se alegra com a sua identidade e, ainda, estende o seu ensinamento de respeito e igualdade para com todos". E foi mais além ao afirmar que "somos verdadeiramente cidadãos do mundo e nosso compromisso compartilhado com a amizade, a inclusão e a harmonia é o cerne do nosso sucesso."
Nos Estados Unidos, o ex-presidente Jimmy Carter enviou suas calorosas saudações à comunidade bahá'ís americana. Ele escreveu: "Como muitos de nossos povos lutam contra as persistentes injustiças sistêmicas contra os afro-americanos e as nações indígenas, a violência crônica contra as mulheres, os conflitos religiosos e a guerra sem fim, então a centralidade da paz, da igualdade humana e da união religiosa encontrada nos escritos e atividades bahá'ís podem servir de inspiração para todas as fés e credos."
O presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, dirigiu uma mensagem à comunidade bahá'í de seu país, transmitindo seus melhores desejos e destacando certos princípios fundamentais dos ensinamentos de Baha'u'llah e suas implicações.
O vice-ministro dos Assuntos Religiosos e da Sociedade Civil do Cazaquistão, , Berik Aryn, em sua mensagem aos bahá´ís escreveu: "Esperamos que os seguidores da Fé Bahá'í, através de seu serviço espiritual, promovam a consolidação da forte relação entre entidades governamentais e grupos religiosos, bem como entre os diferentes grupos de fé no Cazaquistão."
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, divulgou mensagem em que afirma o seguinte: "A Fé Bahá'í fornece ao mundo uma visão de fraternidade universal... E suas mensagens de amor e respeito visam tornar o mundo um lugar bonito que comemora tanto a harmonia quanto a paz." Referindo-se à comunidade bahá'í na Índia, ele escreveu: "Desde a revelação do Profeta Bahá'u'lláh, a Fé Bahá'í encontrou aceitação sincera na Índia, onde uma das suas comunidades mais dinâmicas floresceu desde então." E, comentou ainda que instituições como a Casa de Adoração Bahá'í – conhecida pelos indianos como o Templo do Lótus - "simbolizam o espírito de comunhão e fraternidade universal."
O recém-eleito presidente da Índia, Ram Nath Kovind, escreveu sua própria mensagem aos bahá'ís, onde afirmou que "o bem-estar da Índia depende do compromisso cada vez maior entre seus cidadãos com o princípio da unidade na diversidade. Os esforços da comunidade bahá'í oferecem esperança de que o objetivo da unicidade venha a ser alcançado".
O primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, em sua mensagem à enfatizou: "Os ensinamentos de Bahá'u'lláh sobre unidade e paz são valores apreciados em nossa sociedade multirracial e multirreligiosa. (...) Estou animado que a comunidade bahá'í (...) continua a promover a compreensão, o diálogo e a interação entre pessoas de diferentes religiões." E expressou também que "seus esforços irão percorrer um longo caminho para aumentar o respeito mútuo em uma sociedade multirreligiosa e fortalecer a harmonia social de Singapura."
O primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, cumprimentou a comunidade bahá'í e expressou seu apreço pelas contribuições que está fazendo "para a boa vontade e a prosperidade do país".
O ministro dos Assuntos Culturais de Bangladesh, Asaduzzaman Noor, destacou que o "principal objetivo da Fé Bahá'í, é a unidade e a comunhão entre as diferentes raças e povos da Terra" e agregou ainda que este "é um princípio bem-vindo em um mundo rasgado por conflitos e discórdia." Noor concluiu sua saudação assim: "Nas palavras de Bahá'u'lláh: " Vós sois todos os frutos de uma só árvore e as folhas de um mesmo ramo."
O ministro do Departamento do Primeiro Ministro da Malásia, Najib Razak, afirmou em texto que "a comunidade bahá'í tem sido promotora ativa do diálogo intereligioso e também um protagonista verdadeiro da unidade e da harmonia entre a população multiétnica e multireligiosa deste país ... Os ensinamentos de Bah'u'lláh sobre a unicidade do mundo da humanidade e Seu apelo a uma visão abrangente do mundo contida na frase "a Terra é apenas um país e a humanidade,seus cidadãos" são essenciais tanto para o estabelecimento da unidade nacional como para a promoção da compreensão e da paz globais."
O vice-primeiro-ministro do Nepal, Gopal Man Shrestha e o ministro dos Assuntos Internos do mesmo país asiático, Janardan Sharma, além de expressar calorosos cumprimentos por ocasião do bicentenário, disse que "a mensagem de Bahá'u'lláh afirmando que Deus é um e que todos os seres humanos são membros da mesma família é sempre relevante em um país como o nosso, onde há tanta diversidade social, cultural e religiosa."
O primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Barry O'Farrell, em mensagem especial escreveu que o jubileu de ouro da Casa da Adoração em Sidney, é "uma ocasião importante não somente para a religião bahá'í, mas para Nova Gales do Sul como um todo. A comunidade bahá'í desempenha parte importante do tecido social diverso de Nova Gales do Sul, e é importante que continuemos a promover e celebrar a diversidade, a tolerância e a comunidade no Estado. Esta ideia abarca o ethos da religião bahá'í, uma vez que procura unificar todas as religiões e a humanidade. E este templo e a comunidade bahá'í realmente conseguiram isso. Eu acredito que há muito a aprender com a Fé Bahá'í, porque através dos seus valores de unidade e igualdade tapeçaria multicultural de Nova Gales do Sul foi aumentada."
Esses são breves excertos de algumas das muitas mensagens recebidas de líderes mundiais. Os serviços postais de países como Holanda, Áustria, Alemanha e Malásia também emitiram selos comemorativos ao Bicentenário do Nascimento de Bahá´u´lláh e, nos próximos dias e semanas, dois parlamentos nacionais, o da Itália – em 21 de outubro – e o do Brasil – em 30 de novembro de 2017 – realizarão sessões solenes especiais para expressar reconhecimento pelo extraordinário contributo trazido para Bahá´u´lláh objetivando o bem-estar, a tranquilidade e felicidade de toda a humanidade. A par com todas essas demonstrações de reverência e apreço pela mensagem bahá´í, milhares de outros eventos estão ocorrendo nesses dias ao redor do mundo. São exposições de arte, de posters, de livros, programas televisivos, lançamentos de livros, concertos de música clássica e de música popular, apresentações de dança clássica e contemporânea, produção e estreias de centenas de materiais audiovisuais, como filmes e documentários, caminhadas e procissões, apresentações de corais, além de conferências, palestras, ciclos de estudos e reuniões devocionais nos templos, instituições culturais e acadêmicas e também em milhares de lares.
Estamos em 2017, este é o segundo século desde o nascimento de Bahá´u´lláh. Você já imaginou como era o Cristianismo no ano 200 da era cristã, ou o Islamismo no ano 200 do calendário muçulmano. Eram promessas de vitórias do espírito divino sobre os afazeres e o destino da humanidade. Hoje, podemos dizer que estamos apenas começando. Há muito por realizar. Mas há uma imensa carga de energia e de conhecimentos à nossa disposição para transformar este mundo num lugar melhor, mais amistoso e solidário, mais firmemente comprometido com a paz, sua segurança e o respeito à rica diversidade humana que é, ao final, nosso maior legado.
https://www.brasil247.com/blog/tempo-para-refletir-sobre-o-futuro-da-humanidade
18 de outubro de 2017


Teerã, 1817 – Mundo, 2017
Existem datas que não dá para deixar passar batido. Outubro de 2017 é uma destas. Foi há exatos duzentos anos, em 1817, em Teerã, que nasceu Mirzá Husayn Ali, primogênito de um ministro da então opulenta Corte Persa. Caberia a esta criança a formidável missão de realinhar o melhor do sentimento oriental com o melhor do pensamento ocidental. E foi o que ele fez
Existem datas que não dá para deixar passar batido. Outubro de 2017 é uma destas. Foi há exatos duzentos anos, em 1817, em Teerã, que nasceu Mirzá Husayn Ali, primogênito de um ministro da então opulenta Corte Persa. Caberia e esta criança a formidável missão de realinhar o melhor do sentimento oriental com o melhor do pensamento ocidental. E foi o que ele fez.
Na percepção oriental da vida sempre sobra vasto espaço para a espiritualidade, para trazer dimensão sobre-humana à mera existência material que levamos desde que nos tornamos humanos. É dessa percepção oriental que somos apresentados à milenar arte da meditação, ao uso irrestrito de preces, orações e súplicas, a tratar de entender se a vida termina quando nosso corpo entra em colapso, as moléculas se desintegram, o coração para de funcionar. Ou não. Se a vida que aqui levamos nada mais é que o preâmbulo, o primeiro parágrafo que é escrito no Livro da Vida. Se assim for, tudo alcança um sentido muito maior, uma dimensão muitíssimo mais ampla e prenhe de tremendos significados.
Na percepção ocidental da vida o espaço para o etéreo, para o que não se põe de pé, é mínimo. Tudo é mensurado pelo tamanho da existência humana, das conquistas que o indivíduo possa ostentar ao fim de sua vida: grau de cultura, títulos acadêmicos, riqueza acumulada, bem-estar físico e emocional assegurado a si e à sua descendência. Para o ocidental mediano, a vida é curta e, portanto, nunca deveria ser pequena. A infância deve ser superprotegida, a juventude alargada ao máximo possível, a maturidade um tempo de colheitas inesgotáveis e a velhice a mais serena, tranquila e, tanto quanto possível, indolor e sem sofrimentos. Como temas espiritualistas e místicos são exilados de sua rotina diária, tudo se resume a duas palavras – o aqui e o agora.
Não poucos foram os místicos, pensadores, filósofos e 'aventureiros em busca de si mesmos' que intuíram como prioridade máxima da existência humana buscar a pedra-de-toque, o traço-de-união entre o que é puro espírito e o que é excelência física e emocional. Mas, a narrativa mais comum foi aquela em que se optou privilegiar uma concepção de vida em detrimento de outra: aquisição de bens e riquezas materiais em detrimento da aquisição de bens e qualidades espirituais; cuidados exagerados com a boa forma física em detrimento de cuidados com o bem-estar moral e espiritual; o corpo em primeiro plano versus o espírito em primeiro plano. Em resumo e grosso modo: ou Oriente ou Ocidente, ou Matéria ou Espírito, ou Existência ou Inexistência.
É neste estado acelerado de equivocada - e trágica - compreensão da verdadeira natureza do ser humano que, há exatos duzentos anos, Mirzá Husayn Ali, que depois assumiu o título de Bahá'u'lláh, foi portador de uma mensagem de unidade e de coesão completa entre o ser e o existir, entre este mundo físico e material e infindáveis mundos espirituais. Sua mensagem tratou logo de pontuar três unidades essenciais: a unidade de Deus, a unidade do pensamento religioso e a unidade do gênero humano. E o fez com assertividade sobre-humana, com elocução divina, ao se apresentar não como proprietário da mensagem e sim, como o mais recente portador de uma mensagem enviada por Deus.
A propósito, para unir visões tão dicotômicas das realidades física e espiritual, tratou de ensinar que existe uma unidade essencial entre os dois mundos, que um trata da matéria e outro do espírito e que, em seu âmago mesmo, são partes de uma mesma e única unidade. Ele ensinou que, se por um lado, fomos criados para conhecer e adorar a um mesmo Deus, fomos também incumbidos desde o nascimento a levarmos adiante uma civilização em constante evolução. Daí, a percepção certeira de que a verdadeira riqueza que podemos obter em nossa temporada neste plano da existência tem tudo a ver com a forma de como personificamos em nosso dia a dia virtudes divinas, tais como amor, bondade, lealdade, pureza de intenções, desapego, honestidade, veracidade. Neste contexto, o corpo e a matéria são veículos e canais do que é Espírito; uma forma, e não muito mais que isso, de se deixar incendiar pelo que tem gosto de eternidade, que ultrapassa todo tipo de limitações físicas.
Bahá'u'lláh, como médico competente de um mundo em franco colapso moral e em completa derrocada espiritual, diagnosticou os males que desde há muito tem afligido o corpo da humanidade: a unidade de pensamento e de ação, a unidade toda inclusiva, a unidade sem contraindicações e sem quaisquer efeitos colaterais nocivos.
Para esta unidade ensinou o poder que existe na eliminação das diversas formas de preconceitos e de racismos, fontes que são de tantas e tão ruinosas guerras e conflitos armados, que dizimaram gerações e gerações de seres humanos, que causaram a eclosão de duas hecatombes mundiais – a 1ª. E a 2ª. Guerras mundiais – e que conduziram o mundo à presente situação de completa instabilidade geopolítica, com milhões de refugiados se locomovendo do Oriente para o Ocidente e deste de regresso ao Oriente, em uma eterna dízima periódica, em que a humanidade refaz o viciado jogo do perde-perde, onde não há vencedores e apenas e tão-somente perdedores.
Defendeu direitos e oportunidade iguais para homens e mulheres. Demonstrou quão estúpidos temos sido em relação às mulheres, relegando-a a um papel secundário e subalterno na tomada de decisões que impactam a vida ordenada das nações e que, em primeira instância fazem sofrer seus entes mais queridos e amados – seus filhos, essa imensa legião de seres humanos que formam a presente e as novas gerações de seres humanos. E foi além: se algum privilégio deve ser concedido a um dos sexos, este deve ser preferencialmente ao sexo feminino, pois a menina de hoje será a primeira educadora da geração futura.
Bahá'u'lláh proclamou em alto e bom som, em suas inspiradas cartas dirigidas às cabeças coroadas das dinastias europeias dos séculos 19 e 20, aos presidentes das emergentes repúblicas da América, e a todos intimando-os a serem justos, leais e corretos com seus súditos, a se reconciliarem em torno da manutenção de uma paz estável e em completa união contra todo pensamento conducente a guerras, calamidades e carnificinas armadas.
Em mensagens claras e inequívocas dirigidas aos líderes do pensamento religioso de então tanto do judaísmo, cristianismo e do islamismo, ele os convocou poderosamente para o Deus a quem se proclamavam como sendo seus mais diletos representantes e seguidores. Estas missivas tiveram o impacto de portentoso freio de arrumação em uma Ordem Mundial cambaleante e falida, onde as águas vivas do pensamento religioso pareciam terrivelmente conspurcadas por séculos de estéreis teologias, interpretações tacanhas e pueris, e que viram o crescimento de seitas em oposta contradição ao disposto nos livros sagrados da humanidade – a Torah dos judeus, o Evangelho dos cristãos, o Alcorão dos muçulmanos.
Acenando à civilização, então encantada com o Iluminismo, em que a razão bastava-se a si mesma e onde o progresso humano apresentava-se como o início de uma era de paz e progresso humanos jamais antes imaginado, Bahá'u'lláh estabeleceu o conceito todo-abrangente de que religião, ciência e razão devem caminhar juntas, que todas elas se fundamentar apenas na verdade e que a verdade é apenas um ponto, embora os ignorantes em todas as épocas, o tenham multiplicado. Como a prenunciar a falta de madurez humana para lidar com as muitas conquistas científicas, afirmou que ciência sem religião resulta no mais completo materialismo e, de outro lado, religião sem ciência se transmuta em ignorância e superstição. E não será isso o que vemos no mundo atual? Cinco por cento da humanidade desfrutando de todos os bens materiais, riquezas que fariam Faraós do passado corarem de vergonha e, noventa e cinco por cento dos seres humanos sofrendo discriminação racial, epidemias de fome e enfermidades facilmente debeláveis, massas de apátridas vagando nos cinco continentes, e o planeta, como um todo, à mercê de maciços ataques terroristas, com seus recursos naturais à beira da exaustão e do colapso, e novamente enfrentando os temores de uma nova e imprevista hecatombe nuclear, capaz de destruir o inteiro planeta nada menos que uma dezena de vezes.
A ocorrência nos próximos três meses do bicentenário de nascimento de Mirzá Husayn Ali é uma data que merece ser observada, estudada, analisada e, acima de tudo, celebrada. Em 1817, ele era conhecido apenas em Teerã, na Pérsia, hoje Irã, mas agora, dois séculos passados, é tão claramente manifesta a influência unificadora de sua mensagem que vemos o planeta transformado em uma única unidade, dentro do conceito que ele enunciou de que "a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos". Daí ser tão assertivo o título deste artigo: Teerã, 1817 - Mundo, 2017.
Isto porque se alguém tem a chave para as dores e angústias que acometem nossa espécie nos dias que correm, esse alguém tem nome, sobrenome e mais de sete milhões de seguidores. Este alguém se chama Bahá'u'lláh. E seus seguidores são simplesmente chamados "bahá´ís".
07 de julho de 2017
Francisco recebe Melania Trump no Vaticano
Se não respeito às religiões e à espiritualidade dos demais porque cargas d´água deveria esperar que os demais mostrassem respeito e reverência à minha própria forma de exercer minha religião, minha espiritualidade?
É sempre bom achar um gancho, para usarmos o jargão jornalístico, para tratar de um assunto tão em desuso nos dias atuais: a reverência e o respeito em assuntos relacionados à religião. Reverência e respeito, religião e espiritualidade são temas que caminham juntos porque tratam de nossa relação com o Sagrado. E o Sagrado está muito além de uma ou outra denominação religiosa, o Sagrado geralmente nos remete à divindade, a Deus. Mas, consideremos que, desde que parece ter decaído de forma colossal o respeito dos filhos pelos pais e das pessoas mais novas para com a mais velhas de uma forma geral, o mau hábito da irreverência infelizmente tem campeado as relações sociais. E quando se perde o respeito se perde muito do brilho que uma civilização pode oferecer.
E o gancho que encontrei para tratar disso é a visita de ontem, quarta-feira (24/5) da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, que chamou atenção durante o encontro do presidente americano com o papa Francisco, no Vaticano. Ela e Ivanka, filha de Donald Trump, usavam vestidos pretos longos, com mangas compridas e véu.
Play Video
O traje integra o protocolo do Vaticano para mulheres em audiência com o papa, mas provocou questionamentos especialmente porque em viagem à Arábia Saudita, poucos dias antes, Melania não cobriu a cabeça, como manda o costume do país. Segundo o diretor de comunicação da primeira dama, Stephanie Grisham, ao contrário do Vaticano, lá não houve nenhum pedido ou exigência para uso de vestimentas.
O cerimonial diplomático da Santa Fé é historicamente rígido, com regras especificas sobre o que vestir, como se comportar e de que modo se dirigir ao papa, mas ganhou um pouco de flexibilidade com Francisco. O uso do véu para mulheres, apesar de ainda seguido pela maioria das autoridades, deixou de ser obrigatório. Vestidos ou saias discretos, com ombros e joelhos cobertos e sem decotes são requisito para participar de uma audiência com o pontífice. Homens e mulheres devem trajar cores escuras, como preto, azul marinho ou cinza chumbo.
De acordo com o protocolo, a cor vermelha é reservada aos cardeais e só o papa pode vestir-se de branco. A exceção fica por conta das rainhas católicas que têm o "Privilégio do Branco" e podem optar pela cor. Mas isto já é outra parte da história a ser abordado em outro post.
Muito além dos trajes e vestimentas de pessoas em visita a autoridades religiosas e em lugares representativos da religiosidade, há que se refletir sobre a reverência que se deve ter com o uso de símbolos sagrados, religiosos, como fotos, imagens, desenhos, filmes, animações. Não é tanto o respeito ao objeto em si, à foto como mera foto, ao desenho como mero desenho, mas sim, ao que tal foto e desenho evocam. A propósito, não se passaram tantos anos em que cartunistas de países nórdicos foram sentenciados à morte por fundamentalistas religiosos por terem ousado publicar desenhos alusivos a Muhammad, geralmente em situações de ofensiva irreverência.
A natureza do Sagrado é permeado por mistério e, como tal, precisa ser respeitado, afinal, a reverência e o respeito são não mais que o símbolo físico de uma realidade bem maior, superior e muitíssimo mais abrangente do que pode fazer supor nossa vã imaginação. A reverência e o respeito aos símbolos de outras religiões nos tornam mais tolerantes com a diversidade de manifestações do fenômeno religioso em si.
Basta pensarmos: se não respeito às religiões e à espiritualidade dos demais porque cargas d´água deveria esperar que os demais mostrassem respeito e reverência à minha própria forma de exercer minha religião, minha espiritualidade?
https://www.brasil247.com/blog/francisco-recebe-melania-trump-no-vaticano
25 de maio de 2017


A Globo deveria trocar seu Plim-plim por vibrante dobre de finados...
A programação capricha em evidenciar o baixo astral em cada notícia, em cada chamada de telejornal, como se temas felizes, pessoas alegres, mensagens com 0,01% de esperança no futuro e pautas inclusivas e não-partidarizadas estivessem para sempre banidos da emissora do Jardim Botânico carioca
Impressiona a capacidade da TV Globo de produzir baixaria em cima de baixaria, horário nobre jogado no lixo dia a dia!
Não precisa ser moralista nem careta para ver que emissoras como as dos Irmãos Marinho fazem completo desserviço ao país.
Vejamos essa sua atual novela das nove. A Regra do Jogo. Tem tudo menos lealdade e observância de regras, sejam de educação e civilidade, seja de ética ou de bons costumes.
E não deixemos de notar que outra recente novela das nove - Amor à Vida - teve de tudo, menos amor à vida. Desde bebê jogado em caçamba de lixo a quadriláteros amorosos, assassinatos, adultérios em família em pencas, sequestros de crianças... e muita, muita baixaria. Isso é amor à vida? A resposta é: Plim plim.
E não é um apelativo "Criança Esperança" levado ao ar em apenas um dia do ano que poderá lhe aliviar a barra, diminuir seu imenso deficit civilizacional para com o país.
Muito menos um "Telecurso" ou "Globo Rural" nos horários mais inconvenientes que conseguirá lhes melhorar a imagem. A outra imagem, bem entendido, a imagem que tem a ver com dignidade humana, valores humanos, decência humana. Esta consegue se evadir diariamente da grade de programação da Rede Globo.
Violência e cafajestagem, violação de direitos humanos, elogio à sordidez humana, bullying repetitivo contra negros, subempregados, gordinhas... Piadas preconceituosas e machistas, humor com viés escatológico e palanque político se revezam no infausto "Domingão do Faustão" como veículo eficiente capaz de tornar cada dia mais longe o sonho de uma sociedade brasileira plural e que preza sua rica diversidade espiritual, étnica e cultural.
Tudo o que deprecia a condição humana encontra respaldo, apoio, relevância ba tela da Goibo. Porque isso "aparentemente" rendia bons números no Ibope na tela da emissora.
E sabem o que é pior? Todas as emissoras concorrentes desejam nela se espelhar!
A boa nova que vem desde 2012 é que a audiência da Globo despenca a olhos nus.
E não adianta fazer Bonner caminhar pelo cenário no Jornal Nacional, se bem que ele poderia sapatear entre um e outro intervalo ou fazer acrobacias com twistes carpados à esquerda.
Também não adianta chamar a bonita moça do tempo por seu apelido de infância - Maju - ou descobrir que o apelido de William Waack é Nosfe (de Nosferatu), por que nada disso tem o poder de melhorar um produto com prazo de validade há muito vencido.
A derrocada da Globo tomou amplo impulso quando recheou seus telejornais com a palavra crise.
A cada frase com o mínimo de quatro palavras recitada por seus jornalistas uma destas tem que ser - invariavelmente - crise.
E tudo lhe serve como pauta: Crise de ar, crise de fogo, crise de água, crise de terra.
Deve existir alguma parceria comercial entre a Rede Globo e os fabricantes de medicamentos à base de fluoxetina - do famoso Prozac - e também com laboratórios que abastecem farmácias com antidepressivos igualmente populares.
Para os que lucram com antidepressivos não existe crise e dinheiro corre como água.
A programação capricha em evidenciar o baixo astral em cada notícia, em cada chamada de telejornal, como se temas felizes, pessoas alegres, mensagens com 0,01% de esperança no futuro e pautas inclusivas e não-partidarizadas estivessem para sempre banidos da emissora do Jardim Botânico carioca.
A Gobo deveria ser instada pelo Poder Público a veicular anúncio antes das suas atrações, em especial aquelas do horário nobre com dizeres mais ou menos assim:
"Esse programa nivela você por baixo. Esse programa ensina seus filhos a praticar vários tipos de violência, roubos, fraudes, além de elogiar a mentira, valorizar todo tipo de baixaria, investir no aumento de sua depressão e instabilidade emocional. Apoiamos o fim da responsabilidade social dos canais tevê."
Outra opção de reclame institucional obrigatório seria esta:
"Atenção pais! Querem uma boa saúde mental e emocional para seus filhos? Desliguem a tevê a partir desse momento. Aproveitem esse tempo para terem mais conversas significativas com seus filhos. Programem visitas a livrarias. Leiam mais livros. Assistam filmes no sistema Netflix. Façam qualquer coisa, mas não ajudem a aumentar nossa audiência, pois sua saúde mental poderá sofrer significativos abalos. Bem, fizemos a nossa parte, agora é com vocês, pais."
Claro que agindo assim a emissora cometeria suicídio empresarial, mas, por outro lado, prestaria um grande serviço ao Brasil.
07 de janeiro de 2016


Paris apagou suas luzes enquanto o mundo as acendeu para lhes dar esperanças
O flagelo do terror, com a potencialização da violência, parece que veio para ficar. E os acontecimentos da sexta macabra em Paris, no coração da pátria da Liberdade, Igualdade e Fraternidade, são testemunho eloquente disso
O flagelo do terror, com a potencialização da violência, parece que veio para ficar. E os acontecimentos da sexta macabra (13/11/15) em Paris, no coração da pátria da Liberdade, Igualdade e Fraternidade, são testemunho eloquente disso. Qual ópera urbana às avessas, os momentos mais trágicos têm início antes mesmo do desenrolar da história: em sete lugares de grande afluência de público, majoritariamente na casa dos 20 anos, o que inclui o principal estádio de futebol da capital francesa e casa noturna ampla o suficiente para levar ao palco show de rock, em menos de duas horas 127 pessoas foram mortas, mais de 100 ficaram reféns por homens vestidos com bombas e cerca de outros 80 ficaram gravemente feridos.
Em Paris as chamas do terror pegaram de jeito as redações de jornais e tevês e rádios, tomaram de assalto milhões de plataformas virtuais e produziram uma tragédia de imagens e uma uma nunca vista insônia planetária - o horror, o horror mesmo.
O famigerado Estado Islâmico assumiu a autoria dos atentados ao tempo em o presidente francês François Hollande fechava todas as fronteiras do país, decretava estado de emergência, algo só acontecido em tempos de paz no país em 1961. E, ainda mais, colocava 6.000 policiais nas ruas de Paris para encontrar, com revistas e casas e repartições, os responsáveis pelos atentados.
Como de hábito uma imensa onda de solidariedade tomou conta do mundo: Paris apagou suas luzes enquanto o mundo as acendeu para lhes dar esperanças. E monumentos símbolos de várias nações foram imediatamente iluminados com as cores da França. O nosso Cristo Redentor, sempre ativo militante das causas da paz, foi o primeiro a se banhar de azul, vermelho e branco. Depois, monumentos do Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha demonstraram dessa forma sua completa solidariedade.
O grande desafio a ser enfrentado não só por Hollande, mas antes, por todos os líderes mundiais é que o Estado Islâmico não possui um estado a ser atacado – é um exercito paramilitar que inicialmente foi armado pelo Ocidente para derrubar o regime de Bashar al-Assad na Síria e que, agora, se volta contra o próprio Ocidente. O Estado Islâmico aglutina radicais de ramos fundamentalistas muçulmanos e tem aumentado seu protagonismo na guerra civil na Síria já matou 250 mil pessoas, promoveu o caótico deslocamento de cerca de 11,5 milhões de pessoas, e impulsionou 800 mil refugiados a bater na porta de dezenas de países da Europa.
Como cidadãos comuns seguimos o velho ritual: expressar perplexidade, sofrer diante das imagens e dos vídeos da tragédia, acompanhar o anúncio do número de vítimas, saber de gestos de solidariedade, fazer orações.
Neste último aspecto surgem algumas novas reflexões. As correntes de orações que logo se formam após tragédias ocorridas em lugares belos, opulentos e desenvolvidos como Paris, Londres ou New York são magnificadas e recebem, desde o momento em que se ouviu o último disparo e se percebeu o baque da queda da primeira vítima, massiva cobertura midiática em seletivo contraponto com a pífia cobertura e contidos gestos mundiais de solidariedade quando as vítimas tombam, mesmo que sejam às centenas e milhares, em cenários nem sempre belos, quase sempre não desenvolvidos e muito longe de serem opulentos como Damasco, Basra, Islamabad, Ramallah, Nova Deli, Mariana.
Um dia após o 11/9 a manchete do Monde foi: "Somos todos americanos". Neste 14/11 esta é a manchete nos EUA: "Somos todos parisienses". Infelizmente o mundo se une mais na dor. Infelizmente a solidariedade longe de ser irrestrita, tem sempre viés seletivo. Mas um dia haveremos de nos ver como um só povo, como uma única e mesma espécie - humana. E, então, nesse dia da Maior Paz, em todas as línguas as manchetes estamparão uma simples verdade: 'SIm, somos todos humanos.'
É esta solidariedade seletiva existe apenas para nos dizer que persiste no mundo um ultrajante e insustentável abismo a separar aquela pequena porção da humanidade que é muito rica e afluente (e que fariam faraós corar de inveja!) da imensa maioria da humanidade (bem mais que 2/3 da população humana) que simplesmente nada possui, desassistida em sua saúde, debilitada em sua educação, desamparada dos serviços públicos de energia, água e esgoto e, principalmente deserdada de emprego e renda.
Ao mundo faz muita falta o estabelecimento de um Princípio de Segurança Coletiva mundial: Ao invés de travar guerras - as nações e seus líderes - deveriam (des)travar urgentemente consultas para resguardar a segurança e o bem-estar da humanidade. Não existe solução paleativa para as injustiças que sustentam essa velha ordem mundial lamentavelmente defeituosa. E qualquer solução tem de mirar o todo, a inteira raça humana. Vêm-me à mente o poderoso chamado de Baháu'lláh (1817/1892), o fundador da Fé Bahá'í: "Até quando o mundo continuará inconsciente, desatento, ao chamado para estabelecer a Maior Paz?"
Este vídeo feito por um jornalista na saída lateral da Bataclan, - um dos lugares do massacre das últimas horas em Paris - foi divulgado hoje cedo pelo Le Monde. Vi o vídeo (link abaixo) e senti o terror dessas pessoas anônimas, na grande maioria jovens na faixa dos 20 anos. Concluí, um tanto abatido, que o mundo vai mal, muito mal. Precisamos de rezas fortes. E com o poder da epístola de Ahmad.
16 de novembro de 2015


Carta de Compromissos do Senado é lufada de ar puro no serviço público
As grandes transformações nascem inicialmente no campo simbólico, lúdico e somente depois fincam raízes na realidade. E assim será com essa necessária Carta de Compromissos do Senado
Não é só doença que contagia: saúde também contagia.
Chego a esta conclusão após ler e firmar a muito oportuna iniciativa do Senado Federal de lançar, debater, produzir e aprovar a sua Carta de Compromissos.
Mas o que é uma carta de compromissos em uma época em que o mundo parece estar cansado de boas intenções e se torna cada vez mais impaciente na busca de ações?
É aqui que começamos a sentir a importância da Carta de Compromissos do Senado: o documento não parte de cima da sua alta administração e sim é construído de baixo, envolvendo os servidores, permeando as bases mesmas que constituem o maior patrimônio da Casa – os seus servidores.
Atravessamos um período civilizacional avesso a qualquer coisa que leve o indivíduo a abrir mão de sua liberdade individual, mesmo que em prol de uma mais ampla e saudável liberdade coletiva.
Vivemos em uma época que busca cultuar o descompromisso, naquela velha premissa do "não me comprometa" ou, se aceitar este compromisso terei de abrir mão de alguma liberdade de ação e de pensamento, de alguns direitos individuais que a meu ver devem ser vistos como sagrados, intocáveis, invioláveis.
Esse descompromisso tem muito que ver com o clima generalizado de mal-estar da civilização, algo diagnosticado por ninguém menos que Sigmund Freud ainda nos primeiros anos dos 1900.
E, com o passar do tempo, foi se construindo uma cínica cultura do individualismo exacerbado, aonde o "eu" vem em primeiro, segundo e terceiro lugares em nossas prioridades na vida, tanto familiar, quanto profissional, acadêmica e até espiritual.
A cultura do descompromisso é a cultura que entroniza o individualismo como ética da vida. Acontece que de ética nada tem, nada abarca e nada comporta. Porque é o individualismo que nega a vida em sociedade, pior, que solapa as bases da vida em sociedade.
Podemos listar, muito brevemente, alguns sinais da situação paralisante em que nos encontramos: queremos total liberdade de direitos e, ao mesmo tempo, total ausência de deveres. A cultura do descompromisso tem permeado nossas três últimas décadas, principalmente no que é concernente a algumas instâncias da vida privada: os casais que preferem viver juntos sem o compromisso do casamento formal, com suas muitas obrigações e deveres; os casais que preferem não ter filhos de forma a não dispenderem as energias e os recursos financeiros demandados com a manutenção e a educação dos filhos; os que professam suas crenças no Sagrado sem, no entanto, se afiliar a qualquer denominação religiosa e então não se comprometer com a observância das muitas obrigações e atividades que demandam as congregações; os agnósticos e os ateus que assim se posicionam de forma a não se comprometer com a observância de princípios e ensinamentos aceitos pela vasta maioria de nossa sociedade.
Na contramão dessa situação saúdo com satisfação o lançamento nos primeiros meses deste 2015 da Carta de Compromissos do Senado Federal, oportuna iniciativa do seu então diretor-geral e atual Secretário-Geral da Mesa, Luis Fernando Bandeira de Mello.
E o que são esses compromissos?
São acima de tudo indutores de boas condutas e trazem em sua essência o condão de nos reconectar como seres humanos, cidadãos e servidores públicos. E são conceitos robustos e arejados prontos para se tornar realidade na vivência de cada um, no ambiente de trabalho de cada um.
Por serem claros, objetivos e pontuais, tomo a liberdade de destacar alguns dos 11 compromissos:
1. Compromisso com o Parlamento.
Devemos estar sempre comprometidos com a valorização do Poder Legislativo como fundamento da democracia, proporcionando aos parlamentares um ambiente adequado, caracterizado por qualidade, eficiência, presteza, harmonia, segurança e conforto, para que exerçam as funções que lhes cabem como representantes do povo. Temos também o dever de atender todas as pessoas e entidades que procuram o Senado com eficiência, urbanidade e presteza, tratando a todos com dignidade e respeito.
2. Compromisso com a Excelência na prestação de serviços públicos.
Os responsáveis pela administração, em todos os níveis, devem ser justos, éticos e estar atualizados em relação às melhores tecnologias de gestão pública, de pessoas e processos. Devem ser exigidos padrões rigorosos de qualidade no desempenho do trabalho, baseados em metas e indicadores adequados. O mérito e o esforço devem ser reconhecidos e recompensados. Condutas inadequadas devem ser identificadas, investigadas e combatidas. A todos devem ser proporcionadas formação adequada e capacitação continuada para o bom exercício de suas funções.
3. Compromisso com a Igualdade.
Ninguém será discriminado nem terá seus direitos, responsabilidades ou oportunidades limitados em função de gênero, raça, etnia, orientação sexual, credo, origem ou condição social. Deve haver prevenção e proteção contra assédio sexual ou moral, e os casos identificados deverão ser apurados e punidos.
4. Compromisso com a Livre Disseminação de Ideias.
Todos devem sentir-se livres e estimulados a apresentar suas opiniões e ideias, a seus pares, superiores ou subordinados, e vê-las discutidas e consideradas no processo de tomada de decisão, de forma a criar um ambiente de permanente efervescência intelectual que contribua para que novas práticas venham a aprimorar a qualidade dos serviços que prestamos à sociedade.
5. Compromisso com a Transparência.
As informações prestadas pelo Senado Federal, aos órgãos de controle, meios de comunicação, Senadores, servidores, colaboradores ou aos membros da sociedade em geral, devem ter por características correção, precisão, clareza e celeridade. O planejamento estratégico e os propósitos da administração devem ser de amplo conhecimento, de forma a serem considerados em todos os níveis de gestão e governança.
6. Compromisso com a Responsabilidade na utilização de recursos públicos.
Devemos constantemente buscar soluções inteligentes, que impliquem o menor custo possível para a consecução dos objetivos de qualidade e eficiência que perseguimos. O compartilhamento de experiências e a cooperação com outros entes e órgãos públicos, especialmente do Poder Legislativo, devem ser valorizados.
7. Compromisso com a Comunidade.
Devemos apoiar e participar de ações de educação, mobilidade, esporte, cultura, conscientização, solidariedade e civismo, que contribuam para a qualidade de vida nas cidades em que atuamos e em nosso País. Devemos utilizar os serviços públicos postos a nossa disposição de forma a conservar os espaços e preservar o patrimônio sobre o qual exercemos qualquer tipo de influência.
* * *
Qualquer pessoa de boa vontade e que preza pelos direitos da cidadania encontrará nesses compromissos o que de melhor pode oferecer os que trabalham no serviço público: é um reordenamento e um chamamento poderoso a revelar em cada um de nós o melhor que cada um de nós pode ser.
E quão alvissareiro é perceber que nosso melhor eu pode estar a serviço da coletividade, da sociedade.
As grandes transformações nascem inicialmente no campo simbólico, lúdico e somente depois fincam raízes na realidade. E assim será com essa necessária Carta de Compromissos.
07 de julho de 2015


Qual é o espírito desta época, o seu mais íntimo zeitgeist?
Os indiferentes são como suicidas. Desistem cedo demais de apitar o jogo da vida. Delegam aos demais a tarefa de pensar o mundo em que vivemos e se omitem quando precisam se posicionar
Ao contrário do que muita gente pensa sou dos que acreditam que as coisas tendem a melhorar, que o ser humano tem motivos para ter esperança no futuro, que o mundo pode ser muito melhor do que nossas melhores expectativas.
Não, não sou sonhador profissional. Busco manter a cabeça (ou será o coração?) nas nuvens e os pés firmemente fincados no chão. Há os que veem o mundo e o ser humano como projetos inacabados, fadados ao fracasso, rascunhos interrompidos e inacabados de um Criador muito cioso, detalhista e dado a extremo perfeccionismo. Os que fazem essa leitura estão certos. A conclusão final, o acabamento da criação – tanto nossa quanto do mundo - é de nossa inteira responsabilidade, assim como o que fazemos (ou deixamos de fazer) com nossas vidas depende exclusivamente de cada um de nós. Como nos ensina Shopenhauer "caráter é destino".
E tem os que torcem pelo pior, que colocam na conta do nosso senso de humanidade suas certezas quanto ao futuro sombrio que acreditam nos espreitar. Para estes, pensar no pior parece ser a melhor solução; afinal, se não se concretizar a miséria toda, ainda assim, com o que vier, 'estaremos todos no lucro', que é como ouvimos a torto e a direito no jargão popular. São pessimistas por profissão e por opção. Comprazem-se, um tanto envergonhados, quando veem espocar uma nova guerra, um grande atentado terrorista, uma calamidade urbana de imprevisíveis proporções, os números cruéis que apontam para a imensa desigualdade social que paira como espectro sobre quase 2/3 da humanidade.
E tem o pior dos tipos.
São os indiferentes. Esses que subiram no muro e lá montaram acampamento. Decidem, quase sempre como cheios de razão, pelo não-compromisso quanto a qualquer assunto, dos problemas do trânsito em Nova Iorque à caça da baleia nos mares do Pacífico Sul; do desmatamento na Amazônia à epidemia do Ebola na Costa do Marfim; das aflições dos palestinos na Faixa de Gaza ao avanço do narcotráfico em escala mundial; da seca de água que inferniza a vida de milhões de moradores de nossa maior metrópole (São Paulo) ao crescimento vertiginoso do fundamentalismo religioso em várias nações do planeta.
Os indiferentes são como suicidas. Desistem cedo demais de apitar o jogo da vida. Delegam aos demais a tarefa de pensar o mundo em que vivemos e se omitem quando precisam se posicionar quanto ao mundo em que desejam viver. E são fatalistas. Desde sempre desvalorizam qualquer intervenção humana que possa alterar o curso da História, vista por este como longo período de guerra marcado por breves espaços de paz. Os indiferentes possuem uma força poderosa e inegável porque é a eles que cabe a pouco lisonjeira missão de aprisionar o espírito da época em que vivemos.
E qual é o espírito desta época, o seu mais íntimo zeitgeist?
Não é outro que o das forças que apontam vigorosamente para a unificação da espécie humana. E essa unificação passa necessariamente pela igualdade de gênero, a abolição do racismo, o estabelecimento de um padrão mínimo de justiça social que possa incluir e proteger as massas sofridas da humanidade.
É um processo vigoroso que exige a completa reformulação do sistema Nações Unidas, começando por um novo desenho de seu ineficiente Conselho de Segurança e, também, o consequente reforço às salvaguardas capazes de impedir que uma nação de levantar armas contra outro qualquer. Na base de tais ações pontuais repousa a percepção inequívoca de que "a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos".
A unificação pressupõe um tácito acordo entre as religiões mundiais, cada uma fixando ações que promovam pontos de convergência e trabalhem juntas para o estabelecimento da paz no mundo e que, no fundo mesmo, passa por um vigoroso melhoramento do caráter humano – e convenhamos, que força social (e espiritual) oferece as melhores perspectivas enfrentar essa missão que as religiões?
Feitas as contas, fechadas as reflexões, analisados os prós e os contras, o resultado é que temos mais é que apostar todas as fichas no mundo que está se desenhando no útero mesmo dessa Ordem mundial cambaleante e lamentavelmente defeituosa. E será um novo mundo, assim como novo é o ano que nos bate à porta.
Bem-vindo, 2015.
https://www.brasil247.com/blog/qual-e-o-espirito-desta-epoca-o-seu-mais-intimo-zeitgeist
24 de dezembro de 2014


A Revolução Francisco
Estamos passando por um rito de passagem - o fim do eurocentrismo da Igreja. E para que tal estado acelerado de transformações tenha efeito o fato marcante não é outro que termos um Papa latino-americano
“As grandes revoluções vêm com pés de pombos” afirmou certa feita o consagrado filósofo Friedrich Nietszche (1844-1900) acerca das sempre esperadas transformações mundiais, megamudanças comportamentais que influenciam a marcha do processo civilizatório e que têm o condão de evitar vastas catástrofes engolfando o planeta.
E um evento bastante significativo que se desdobra com rara desenvoltura é a revolução promovida pelo Papa Francisco em seus pouco mais de ano e meio de pontificado.
A marca não é outra: uma sucessão ininterrupta de toques suaves e precisos de espiritualidade, trazendo ânimo e vigor ao corpo bastante debilitado de uma Igreja que de tudo provou ao longo dos últimos dois milênios, culminando com a sucessão de escândalos de natureza moral enfermando seu próprio clero e de características financeiro-econômicas levando-a ao terreno pantanoso da corrupção secular. “Quem doa à Igreja e rouba o Estado é falso cristão”, disse Francisco em saudação aos peregrinos que recentemente lotaram o Vaticano
A Revolução Francisco tem início com a escolha do nome Francisco pelo cardeal Jorge Mario Bergoglio para assinalar historicamente a existência de seu pontificado. Nunca antes na história da Igreja um papa escolhera esse nome, nome que evoca uma das mais férteis e memoráveis travessias já feitas pela cristandade católica – a revolução espiritual, a reforma interna, o reencontro com suas mais profundas raízes históricas, o abraço fraternal inclusivo a envolver as massas de pobres que encampam formidáveis 2/3 da população mundial.
Estamos passando por um rito de passagem - o fim do eurocentrismo da Igreja. E para que tal estado acelerado de transformações tenha efeito o fato marcante não é outro que termos um Papa latino-americano. Desejemos ou não, na realidade, o olhar inclusivo tem relação direta com aquele sentimento sofrido tão próprio dos que se sentem historicamente excluídos. É isto que facilita a ampliação dos horizontes.
O próprio Francisco é singelo e assertivo ao evocar a simbologia contida na escolha do nome pontifício:“Pobres, paz, custódia da Criação”. E isso está em linha com recente declaração da Casa Universal de Justiça ao explicitar o conceito de guardiania coletiva: cada um de nós é guardado pelo todo e, por sua vez, temos a responsabilidade de cuidar dos direitos do conjunto das nações.
Em intervalo de tempo tão curto Francisco conseguiu deixar sua marca ao imprimir no mundo certo ‘Efeito Francisco’. E que Efeito seria este? São gestos muito simples, quase prosaicos; na verdade, um somatório de bons sinais em um ambiente religioso há muito fechado, encerrado em ritos e dogmas, pouca luz e muitos egos inflados a enfermar ainda mais a Cúria Romana.
Comecemos pela maneira como se apresentou ao mundo no dia 13 de março de 2013, quando do balcão da Praça de São Pedro o recém-eleito papa Francisco dispensou a tradicional saudação em latim e optou em cumprimentar os fiéis com um “Buona Sera!” (boa noite em italiano), logo após o anúncio de sua eleição. Na sequência, simplesmente baixou a cabeça e suplicou por orações. E qual a resposta imediata da multidão que assistia a tão importante evento? Todos se curvaram em submissão a Deus e começaram então a orar.
Nos dias seguintes o mundo maravilhou-se a ver a marca da austeridade tomar o lugar da pompa e circunstância, da opulência escandalosamente ostensiva quase sempre associada à figura do Chefe Máximo da Cristandade Católica Apostólica Romana. Esta austeridade logo de impôs quando decidiu continuar usando os mesmos surrados sapatos pretos usados pelo calejado cardeal Bergoglio, manteve a mesma cruz de prata no peito e não a cruz de ouro usada por tantos de seus renomados antecessores no trono de Pedro. Francisco briu mão do espaçoso apartamento papal para ficar numa suíte em uma casa de hóspedes, a Casa Santa Marta.
A sua primeira aparição pública em um veículo também foi premonitório: dispensou a luxuosa limusine papal, uma reluzente Mercedes Benz, há décadas usada pelos pontífices e optou por um singelo automóvel da marca Fiat 1.0, modelo classe média. Mesmo em sua primeira viagem papal, no caso ao Brasil, para a Jornada Mundial da Juventude, Francisco optou novamente pelo uso de um carro simples. Existem encíclicas, documentos, homílias e discursos que tocam corações e mentes, mas existem gestos que não apenas moldam comportamentos como também têm o poder de arrastar multidões.
As relações com a imprensa também foram impactadas pelo Efeito Francisco. O Papa tem decidido por encontros com a imprensa quase sempre marcados pelo improviso. Aqui mesmo no Brasil, tendo o porta-voz do Vaticano ao seu lado, Francisco respondeu a todas as perguntas, sem impor limites, por 1 hora e 22 minutos. Isto marcou um novo precedente, e depois consentiu em conceder cinco entrevistas adicionais. Longe do pesado clima solene a que os Papas sempre estiveram relacionados, Francisco marca suas interações com a mídia com três características – bom humor, franqueza e cortesia. E é com esse estilo afável e tendendo para o bonachão que conquistou a imprensa mundial.
Francisco tem especial carinho e apreço para os doentes. Antes mesmo de celebrar a primeira missa de seu Pontificado, ele parou o Papamóvel e beijou uma pessoa enferma. Este foi um momento emocionante, mas não único. Outros gestos dessa natureza se seguiram nos meses seguintes. Os imigrantes e os refugiados, em número cada vez maior e contados aos milhões, pessoas deslocadas de seus países devido a guerras, fundamentalismo religioso, fome ou graves problemas econômicos, tem sido tema prioritário das atenções do Papa. Em julho de 2013, em sua primeira viagem do pontificado, Francisco foi à ilha italiana de Lampedusa, onde milhares de imigrantes morreram em busca de uma vida melhor. No discurso, o Papa usou palavras muito diretas para expressar sua opinião. E tem sido sempre assim, direto ao ponto. “Com a comida que se joga fora se poderia alimentar todas as pessoas que sofrem de fome no mundo", disse o papa Francisco em uma dura mensagem contra o desperdício de alimentos.
Se a um tempo mantém os olhos focados nos dramas e angústias dos indivíduos, das pessoas, como por exemplo, quando decidiu instalar chuveiros públicos no Vaticano para atender às necessidades de higiene de moradores de rua; por outro lado, tem demonstrado especial atenção ao tênue equilíbrio que mantêm o mundo em paz. Com as negociações sírias na Guerra Civil e a ameaça de um ataque americano, o Papa liderou uma vigília para pedir paz, em meio a milhares de pessoas. E, neste final de novembro de 2014 viajou a Istambul, na Turquia, onde foi lançar as bases para a reunificação de sua Igreja Romana com a Igreja Católica Turca, isso após dez séculos de divisão e isolamento; e ao mesmo tempo abriu janelas para o diálogo com o Islã, repudiando de maneira veemente toda forma de fundamentalismo religioso. Há poucos meses havia declarado: “Os judeus são nossos irmãos mais velhos.”
Temas considerados espinhosos pela Igreja ao longo dos séculos vêm sendo tratados por Francisco com simplicidade, objetividade e sobretudo, clareza. É o caso do homossexualismo. Acerca do tema, aliás como bem pontuou o jornalista Clóvis Rossi "(o Papa Francisco) ao saltar da qualificação para os homossexuais de "intrinsecamente desordenados" para eventuais portadores de "dons e qualidades a oferecer", o Vaticano dá um gigantesco passo, mesmo sem mudar a doutrina (por enquanto) em uma única vírgula." Em outra ocasião inferiu que para a Igreja não existiam prostitutas e sim mulheres, não existiam mães prostitutas e sim mães.
E, provavelmente, caso único na história da Igreja Romana, é um pontífice conectado com as modernas tecnologias. E não faz como a maioria dos mortais, que geralmente é para autopromoção ou para desperdiçar nosso bem vital mais escasso – o tempo. Há poucas semanas Francisco postou em sua conta no Twitter (@pontifex) o poderoso pedido: "Rezem por mim", em inglês e "Orate pro me" em latim. O papa tuíta em mais nove línguas, incluindo além do inglês, latim, árabe e espanhol.
Tem mais de 12 milhões de seguidores. Segui-lo no twitter é uma experiência muito interessante: em tudo se posiciona, nada é dogma, nada parece ser tabu e o que importa mesmo para o Papa é manter esse que é o maior luxo humano – o luxo das relações humanas. Mas não bastaria saber usar a rede social, no caso de Francisco os bons resultados brotam de seu – digamos - estilo, a sua linguagem direta do Papa, as suas atitudes, e o seu estilo de vida bastante despojado para um Papa. O conjunto é que toca em profundidade e suscita um grande interesse, um grande entusiasmo por parte de milhões de pessoas em todo o mundo, católicos ou não, uma vez que a espiritualidade não tem proprietário e nem é marca registrada deste ou daquele credo.
Sem estrelismos pop, sem legalismos boçais e sem pendor pelo exercício puro e simples de qualquer forma de autoritarismo, Francisco parece ter sido permeado pela aura de sinceridade, pureza de intenções, e amor pela justiça, características estas tão associadas à vida de seu xará inspirador, o Santo de Assis.
Durante uma homilia na manhã do dia 9 de novembro de 2014, na casa de Santa Marta, no Vaticano, o papa Francisco afirmou que “a Igreja deve sempre ser reformada porque seus membros são todos pecadores e precisam se converter.” O Papa insiste muitíssimo sobre um Deus que ama, um Deus de misericórdia, um Deus sempre pronto a perdoar a quem se dirige a Ele com humildade. Ele sabe o quanto, frequentemente, nós humanos, somos feridos: feridos por tantas experiências difíceis, por tantas frustrações, por tantas injustiças, por tanta pobreza e tão odiosa marginalização no mundo de hoje. Nessa mesma toada declarou: ‘Todos expressamos extravios, incertezas,dúvidas, quem não experimentou? Todos. Eu também. Faz parte da fé.”
Nada, absolutamente nada, escapa ao imperativo da época em que vivemos: a percepção de que a unificação da espécie humana encontra-se ao nosso alcance. Somos, com efeito, cidadãos e cidadãs de um único e mesmo país – o planeta Terra.
E neste contexto, só pode ser motivo de enorme satisfação para milhões de homens e mulheres de boa vontade perceber que o Efeito Francisco torna ainda mais receptivos corações e mentes para ouvir a sempre aguardada promessa da Paz Mundial, aquela época dourada em que todos os horizontes da humanidade estariam iluminados pela luz da unidade.
02 de dezembro de 2014


Carta Aberta a Bibi Netaniahu – Temos, todos nós, um destino comum a partilhar
Admirar e respeitar o povo judeu não me impede, em absoluto, de levantar minha voz em defesa de seus vizinhos, notadamente aqueles milhares de seres humanos que residem e tocam a suas vidas na Faixa de Gaza
Caro Senhor Bibi,
O senhor não me conhece, nem sabe de minha existência, mas o oposto é mais que verdadeiro – eu o conheço e bem sei de sua existência. Não é de hoje que nutro simpatia ante a ideia de que o povo de Israel tem direito sim ao seu próprio Estado, a ter sua própria constituição e a desfrutar dos sonhos de felicidade que todos os povos livres do mundo - desde sempre - têm o direito.
Essa simpatia antiga surge de um sentimento de viva solidariedade que tenho para com o seu povo, que sobreviveu à sanha nazista que exterminou com requintes de crueldade estimados 6 milhões de judeus nos terríveis anos de 1939-1945, onde se travou a devastadora carnificina humana conhecida como II Guerra Mundial.
Minha admiração e respeito pelo povo judaico é tanta que concedemos a minha filha o nome hebraico de Jordana – "aquela que desce do Céu".
Cidadão brasileiro, não posso deixar de demonstrar orgulho por saber que foi um compatriota meu, o chanceler Oswaldo Aranha que, ao presidir a Assembléia-Geral das Nações Unidas, na tarde do dia 29 de novembro de 1947, aprovou histórica resolução que dividiu a então Palestina Britânica em dois estados, um judeu e outro árabe, 'e que deveriam formar uma união econômica e aduaneira'. E assim, na certidão de nascimento de seu país encontram-se todas as impressões digitais do povo brasileiro.
Admirar e respeitar o povo judeu não me impede, em absoluto, de levantar minha voz em defesa de seus vizinhos, notadamente aqueles milhares de seres humanos que residem e tocam a suas vidas na Faixa de Gaza. São os palestinos. E como povo, têm também o mesmo sagrado direito de sonhar com a felicidade.
Nos últimos anos, senhor Bibi, venho nutrindo especial medida de preocupação pelos palestinos. São seus vizinhos, recebem toda carga de preconceitos, têm que conviver com esse novíssimo muro da vergonha a separar, qual perversa cicatriza, suas duas nações. São manipulados por facções belicosas de seu próprio povo que, muitas vezes, o toma como vistosos escudos humanos. Vivem os palestinos como se estivessem em extensa, precária e pouco usual prisão a céu aberto.
Minha admiração e respeito pelo povo palestino é tanta que concedemos a minha segunda filha o nome árabe de Anísa – "a árvore da Vida".
Entendo que Israel tem tanto direito à sua autodefesa quando a Palestina tem direito a ser um Estado próprio e autônomo. É verdade que desde 1948 até os dias atuais, as terras destinadas à criação do estado palestino foram minguando radicalmente, sendo hoje não mais que magras faixas de terra, resultado de muitas décadas de guerras e conflitos. Essa situação caótica vem se perpetuando porque tem sido dada primazia ao uso da força para resolução de conflitos. E sempre que a força toma o espaço da palavra temos o funcionamento ininterrupto dessa fábricas de cemitérios.
Sim, senhor Bibi, guerras só produzem mais guerras e prolongam a dor e o sofrimento humanos às raias do insuportável. A mesma insuportabilidade que seus antepassados sofreram nos campos da II Guerra, vivendo como povo sem pátria, tentando sobreviver pela ideia de um dia todos se reunirem à sombra da cidade sagrada de Jerusalém.
Todo o capital de solidariedade humana que o povo judeu acumulou ao longo do século XX começa a ser dilapidado rapidamente com os bombardeios que Israel lança sobre os palestinos a pretexto de revidar o lançamento de foguetes por parte de extremistas impiedosos do lado palestino. E cada vez fica mais difícil deixar de ver no atual conflito bélico, neste julho de 2014, as sombras do extermínio judeu conduzido pela Alemanha nazista há pouco mais de 60 anos.
É o momento de escrever a narrativa de uma paz duradoura entre judeus e palestinos. É tempo de se interromper essa velha história de ódios que, acumulados, transbordam de geração a geração. A manter o conflito do sangue que se lava com sangue e de foguetes lançados por palestinos revidados com bombardeios lançados por Israel, em poucos dias já temos estatísticas pavorosas - 768 vítimas fatais palestinas e 36 vítimas fatais israelenses. Mas o ódio que passa a ser cultuado, quase como profissão de fé, por quem tem as vidas de seus familiares interrompidas, essas ultrapassam os números e são como semeaduras de ódio a lavrar o seu futuro comum.
Algumas nações, inclusive o Brasil, denunciaram a desproporcionalidade entre os ataques palestinos e os revides israelenses. O Brasil julgou por bem chamar seu embaixador em Tel Aviv para dar explicações ao seu governo em Brasília. É esse um ato legítimo e é a forma como um país faz conhecer sua posição em meio a guerra envolvendo dois ou mais povos.
Senhor Bibi, a reação de sua diplomacia à decisão soberana do governo brasileiro, foi sobretudo, desproporcional. É desolador ver que este país que tanto fez para que o seu povo tivesse um país-estado tenha sido arrogantemente chamado de "irrelevante", "anão da diplomacia" e que um assunto sério e doloroso em que centenas de vidas humanas foram exterminadas seja tratado por sua chancelaria com aquele tipo de chacota irresponsável que, longe de solucionar um conflito, cria condições para criar novos e inesperados conflitos. Não entendo como um simples jogo de futebol em que o Brasil foi goleado por 7 x 1 pela Alemanha, justamente na Copa do Mundo que realizou no Brasil, possa ser relacionado à terrível escalada de violência que cai sobre a Faixa de Gaza.
Nesse caso, senhor Bibi, temos escancarada a percepção que um país em guerra deixa de ver a floresta em sua totalidade, concentrando-se seu olhar apenas sobre o punhado de árvores que consegue ver. O Brasil pode até ser motivo de bullying de Israel em outras áreas, mas nunca na diplomacia: está entre os 11 países do mundo que mantém relações diplomáticas com a totalidade dos países-membros das Nações Unidas, há mais de 200 anos o Brasil não tem estado em guerra com qualquer outro país, é um dos formuladores do Grupo G-20 e do Grupo BRICS, e recentemente esteve na ponta de frente de uns poucos que buscam solução duradoura para o conflito com viés nuclear que envolve o Irã e o Ocidente. Como, então, ser chamado de anão diplomático? Como, então, ser considerado "país irrelevante" na seara diplomática? E, poderia perguntar, mas sem qualquer intuito de lhe ofender, se o Brasil é um anão e é irrelevante, como então deveríamos considerar o Estado de Israel?
Bem, a conversa está boa e é bom concluí-la antes que deixe de estar boa.
Aproveito para formular votos para que seu governo, a parte-forte do conflito israelo-palestino, interrompa essa insana escalada de violência, convoque uma conferência de paz e lance as bases para a construção de uma narrativa que comece por ver a humanidade como sendo folhas e ramos, folhas e frutos de uma só e única árvore.
Tenhamos, senhor Bibi, a compreensão que queiramos ou não, temos um mesmo destino comum a partilhar.
Atenciosamente,
Washington Araújo
25 de julho de 2014
Brasil goleia mídia e reafirma: “Sim, existe Brasil; cada vez Mais Brasil”
12 análises, 12 constatações, 12 motivos para assegurar que a Copa do Brasil é sucesso absoluto a contagiar o país e o mundo com sua beleza, sua organização, seus muitos feitos futebolísticos
Não preciso esperar para ouvir o apito determinar o término do jogo final no Maracanã, no próximo domingo, 13 de julho, para lhes apresentar o resultado de minhas reflexões, algumas sofridas, outras escritas com a tinta do mais festivo júbilo. Foram 12 análises, 12 constatações, 12 motivos para assegurar que a Copa do Brasil é sucesso absoluto a contagiar o país e o mundo com sua beleza, sua organização, seus muitos feitos futebolísticos. Nessas percepções tenho diante de mim a formidável tarefa de passar a limpo este meu país.
1. Que doeu, doeu. Com essa derrota para a Alemanha, nem eu, nem os brasileiros e menos ainda os alemães, esperavam. Mas que a Copa do Brasil é um sucesso inexcedível, ah, isso lá é verdade! Em meu último artigo no Brasil 247 assinalava a fragilidade física e emocional de nossos atletas se comparados à imagem robusta e um tanto férrea dos seus muitos adversários nesta Copa. E sentia um misto de orgulho com compaixão por vê-los em campo representando o país que é, por todos os motivos, o lar espiritual do futebol mundial. Mas, como milhões de brasileiros, também não sou de deixar companheiros caídos na estrada. Não, vou lá, tento recompô-los, ofereço o braço e o abraço e tento lhes ensinar a caminhar, para que possamos seguir juntos.
2. A vida é uma estrada longa, sinuosa, cheia de altos e baixos, terreno propício a solavancos. Do mesmo jeito que o futebol tem um pouco de tudo, dos sorrisos e emoções de júbilo ante o gol bem marcado ao oceano de lágrimas amargas de acachapante derrota. Sobrevivemos à Croácia, México, Chile e Colômbia, e fomos superados pela Alemanha. Mas não uma "superada" de 2 x 1, ou de 1 x 0, depois da prorrogação e nos pênaltis. Foram imensos, longos e repetitivos 7 x 1. Um jogo decisivo como este merece reflexões decisivas sobre o futebol brasileiro, sobre o Brasil e o sentimento de pertencer ao país.
3. O Brasil começou a perder da Alemanha quando Thiago Silva, ao receber o segundo cartão amarelo no jogo contra a Colômbia, ficou proibido de jogar contra os alemães. Foi o primeiro gol, involuntário, é verdade, da Alemanha sobre o Brasil. Mas o que selou o destino da Seleção brasileira foi a agressão desleal e injustificada do Zuñiga sobre a coluna do Neymar, destroçando-lhe sua terceira vértebra. O Brasil, no jogo do Mineirão, atuou sem seu artilheiro, seu jogador maior e mais carismático (Neymar) e também sem seu Capitão, autor de defesas sempre bem sucedidas e até aguerridas (Thiago Silva).
4. O Brasil confiou demasiadamente no tirocínio e no excesso de autoconfiança de seu técnico Felipe Scolari. Enquanto a grande imprensa lutava com paus e pedras contra a Copa no Brasil, atirava noite e dia contra sua organização e apostava dobrado que nem os estádios nem os aeroportos e obras de mobilidade urbana estariam concluídos até o início do Mundial, a Seleção foi deixada meio de lado, longe do escrutínio da população, seja a favor, seja contra. Felipão deixou-se dominar por seu lado truculento, respostas ríspidas e aquele intragável ar de quem tudo sabe, do dono absoluto das verdades futebolíticas. O que lhe faltou em humildade sobrou em carisma e simpatia. E ninguém avança em uma Copa do Mundo com tais predicados.
5. O Brasil precisava aprender com derrota desse porte a reconstruir, melhor, a reinventar o futebol brasileiro. E isso passa pela reforma da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), dotando-lhe de mais democracia e mais transparência, além de instrumentos assertivos de fiscalização lance a lance, negociação a negociação, investimento a investimento. A verdade é que a CBF se transformou numa grande empresa, com padrão multinacional, onde as questões esportivas foram relegadas a um secundário terceiro plano de atenção. Para a CBF o que vale mesmo são seus contratos milionários com a Nike, a TV Globo e outras empresas que se beneficiam do marketing esportivo por associação com o único futebol pentacampeão do mundo.
6. O Brasil investiu alto na formação de um selecionado extremamente jovem, atletas promissores, mas ainda não craques definidos. Faltou-lhes maturidade emocional e experiência profissional de médio e longo cursos. A Seleção brasileira parecia ser a melhor representante de um futebol mirim, algo entre os "sub-20" e os "adultos imberbes". Faltava entrosamento na equipe, mas havia alto nível de amizade na equipe. Entrosamento é uma coisa, amizade entre pares é outra coisa bastante distinta. A escalação aconteceu muito em cima do Mundial. E lhes faltava o indispensável Plano B – aquele que poderia ter sido estudado e treinado em campo caso perdessem a presença do Neymar em jogo decisivo e classificatório, como aliás, ocorreu.
7. O Brasil ganhou fora dos estádios: temos os mais belos e modernos estádios jamais reunidos em um único país do mundo. Temos aeroportos de chamar a atenção por sua beleza, modernidade, comodidade e eficiência aeroportuária nos quesitos tempo de embarque/desembarque. Diversas obras de mobilidade urbana foram concluídas em diversas cidades-sedes do Brasil, muitas outras encontram-se em fase final de construção. A segurança na Copa tem sido digno de nota, reconhecida por jornais do porte do The New York Times e do Financial Times. Definitivamente o Brasil ganhou de 17 x 0 de sua mídia mais vistosa, aqueles que monopolizam o que é e o que não é notícia, enfeixadas com mão de ferro por seis abastadas famílias que se comprazem em afirmar que podem, a seu bel querer, destruir e construir governos, ministérios, empresas estatais e também elaborar e fazer aprovar leis no Congresso Nacional que lhes garantam o nefando monopolio econômico-financeiro.
8. O Brasil ganhou a Copa que mais importa: soube receber centenas de milhares de turistas de dezenas de países do mundo no mais perfeito congraçamento, trazendo em alto relevo sua hospitalidade característica. O país mostrou em grande estilo seu espírito alegre e irreverente, sua culinária suculenta e convidativa. E viu legiões de visitantes embasbacados com a beleza dos cenários paradisíacos de cidades como o Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus, Natal. Se alguma vez um slogan de Copa do Mundo teve sentido e pode ser cumprido à risca, essa vez aconteceu aqui no Brasil: Somos Todos Um.
9. O Brasil recebeu grande aporte de recursos financeiros em sua economia. As metas para o setor turístico, a rede hoteleria e de bares e restaurantes foram rapidamente cumpridas e superadas. Apenas em Porto Alegre, no extremo sul do país, em duas semanas de Copa do Mundo na capital gaúcha foram contabilizados acréscimo de mais de R$ 1 bilhão injetados na economia local. Nos primeiros dez dias do Mundial circularam pela internet global mais de 1,5 bilhão de imagens do Brasil transmitidas por torcedores apaixonados pela beleza do Brasil e pela qualidade dos jogos aqui disputados. Nunca antes no país ocorreu evento que lhe rendesse tanta mídia mundial e gratuita quanto ao longo desses 30 dias de Copa do Mundo.
10. O Brasil testemunhou uma Copa do Mundo singular, única. E isso se deu também pela quantidade de gols marcados: desde 1958, nenhuma outra Copa do Mundo teve tão imenso festival redes balançando. Estádios lotados em praticamente todas as partidas superaram a média de torcedores presentes em estádios registrados nas últimas Copas do mundo. Uma Copa limpa: em todos os exames antidoping nenhum jogador foi vetado. A luta contra o racismo no mundo, contra o racismo no futebol em particular, foi uma brilhante jogada acertada da FIFA.
11. O Brasil entrou em campo para destroçar esse impertinente complexo de vira lata que vem ao longo de décadas lhe infernizando a vida. E conseguiu. Que ninguém mais se atreva a dizer que não somos capazes de realizar todo o potencial de que fomos dotados. Lutar contra as forças poderosas – midiáticas, econômicas e políticas – que se aglomeraram em verdadeiro complô contra o país não foi nada fácil. A união de pesos pesados como a TV Globo, Editora Abril e Grupo Folha com o Banco Itaú e partidos de oposição ao governo federal mostrou-se coeso: conseguiam potencializar os mínimos atrasos na entrega de obras para a Copa; orquestraram e potencializaram xingamentos à presidenta da República no jogo inaugural no Itaquerão paulista; levaram ao extremo da leviandade campanhas institucionais fracassadas como as "imagina na Copa" e "não vai ter Copa"; difundiram de forma intensiva e excessiva imagens dos black blocs, baderneiros, marginais e coxinhas das mais variadas extrações sociais e partidárias. Tinham um único e mesmo objetivo: desgastar e derrubar o governo. Fracassaram logo na primeira fase da Copa, assim como fracassaram nos estádios as seleções campeãs do mundo Itália, Espanha, Inglaterra e Uruguai.
12. O Brasil viu em campo e fora de campo o exercício da solidariedade e dos melhores atributos que embelezam o caráter humano. No jogo do Brasil com a Colômbia foi emocionante ver David Luiz consolando o craque Jamez Rodrigues, imerso em lágrimas pela desclassificação de seu país. David trocou de camisa com ele, abraçou-o e pediu à multidão que aplaudia o Brasil ao fim do jogo para que aplaudisse o jovem craque colombiano. O alemão Lukas Podolski vem se destacando na Copa do Mundo não apenas pelo futebol, mas pelas demonstrações de carinho e amor ao Brasil e suas belezas naturais. Desta vez, no entanto, o jogador da seleção alemã, mandou uma mensagem de força aos jogadores da seleção brasileira, que foi derrotada nesta terça-feira, por 7 a pela Alemanha de Podolski. "Respeite a amaelinha com sua história e tradição. O mundo do futebol deve muito ao futebol brasileiro, que é e sempre será o país do futebol", ressaltou Podolski em mensagem publicada em seu Twitter oficial. O jogador, dono da camisa 10 da Alemanha, publicou a mensagem em português, como vem fazendo para elogiar as belezas das praias brasileiras. A mensagem veio acompanhada pelos destaques "Levante a cabeça e Brasil te amo" e teve direito até a um coração após a assinatura de Podolski.
https://www.brasil247.com/blog/brasil-goleia-midia-e-reafirma-sim-existe-brasil-cada-vez-mais-brasil
09 de julho de 2014
Meninos do Brasil
Esses nossos meninos da seleção representam nosso Brasil mais profundo, mais sofrido, mais desencantado, mais similar àquela Macondo mágica que nasceu no coração milenar de Gabriel García Marquez
Estava refletindo, pensando, remoendo ideias, revendo sentimentos. O foco: nossa Seleção. E concluo o seguinte: Esses nossos 22 jogadores são meninos de ouro, a vasta maioria vinda das periferias de tantas regiões do país. Vejo o biotipo deles, sua compleição física, o jeito franzino da maioria, magros, às vezes um tanto desengonçados e sinto uma imensa carga de admiração e respeito por cada um deles.
Esses nossos meninos representam nosso Brasil mais profundo, mais sofrido, mais desencantado, mais similar àquela Macondo mágica que nasceu no coração milenar de Gabriel García Marquez. Esses meninos nem bem desabrocharam para a vida, ainda construindo seu extenso repertório de futebol-arte, sua malemolência, aquela inegável habilidade com a bola, esse inacreditável jogo de cintura e um insuspeitado fôlego de sete vidas em qualquer gramado do mundo são logo vendidos a um Barcelona da vida ou a outro grande time espanhol, italiano, francês, inglês. E eles vão, muitas vezes só sabendo falar em inglês ou espanhol parcas palavras soltas como "Buenas noches", "Thank you", "Muchas gracias", "Please!", "Good morning". E ficam por lá, distantes de pai, mãe, irmãos, longe de suas terras, comidas, cheiros, língua-mãe, várzeas, galos, noites e quintais.
Numa terra estrangeira precisam ser mágicos de ofício: em cada jogo realizar ao menos um, dois ou três milagres em campo, recuperar um rasgo de genialidade semi esquecida. A todo momento esses meninos têm que mostrar o valor de suas pernas, astúcia, velocidade, senso de precisão, pelo qual seu passe foi vendido. São como excentricidades a se exibir e tendo que convencer dia a dia cartolas com línguas estranhas e com olhos de cifras, técnicos impacientes, colegas de time facilmente irritadiços e no mais das vezes, apenas invejosos mesmo. E não podem falhar porque seus patrões não perdoam falhas. Muito menos a imprensa de seus novos países.
Penso em tudo isso e sinto uma pontada no coração. Revejo mentalmente o olhar de cada um, o rosto crispado, o semblante tocado pela emoção toda vez que começam a ouvir os primeiros acordes de nosso belo hino "Ouviram do Ipiranga". Há um quê de felicidade reprimida, um chamamento sobrenatural para que personifiquem logo mais no campo os santos católicos de suas devoções, deem vida aos sagrados Orixás. E por isso o Hino Nacional brasileiro repercute neles como se fosse não de um país concreto, real, nas sim de um país feito unicamente de lágrimas, encravado em um continente puramente emocional, etéreo, como é a América do Sul.
E eles fazem o que sabem melhor fazer quando dizem que "vou dar o meu melhor". Há uma ingenuidade potencial em cada um deles. É como se lhes tivessem roubado parte de sua infância, toda a sua adolescência e quase toda a sua juventude. Mas lhe deixaram essa pureza d'alma. E quando penso nos jogadores-tanques-de-guerra que defendem a Itália, a Inglaterra, a Espanha, a Holanda, os Estados Unidos, a França, a Bélgica - sempre jogadores robustos, com o nariz no mais das vezes empinados, musculosos, peitos de pombo, com alturas beirando os dois metros, aí é que me dá ainda mais orgulho, fecho os olhos e suplico a um Deus sempre atento e que ouve e atende as orações que lhes remova todas as dificuldades.
Esses meninos olham para Felipão, não como um técnico, nem como um chefe, eles o olham como um pai atencioso, amigo, cuidadoso, que se preocupa com cada um deles, com seu bem-estar com a preservação desse "meu melhor em campo". E como me dói o coração quando vejo comentaristas da CBN, do SporTV, colunistas de O Globo, Folha de S.Paulo, Veja, Época desmerecendo-os, jogando em suas jovens caras seu profundo mal-estar com a vida, justamente a eles que realmente fazem o melhor que podem, se multiplicam como no milagre dos peixes a preencher cada vazio do gramado, que fazem defesas espetaculares, chutam a gol como se estivessem fazendo a única e impossível jogada de suas vidas. São eles que correm para o abraço, já com os olhos enevoados de lágrimas, eles que choram como crianças há muito tempo proibidas de chorar, celebram um país essencialmente emocional - o Brasil.
Esses meninos trazem consigo todas as veias abertas da América Latina, suas memórias da pobreza e miséria, seus esforços desde muito novos, imberbes ainda, para ajudar financeiramente no sustento de suas famílias.
E é por isso que um David Luiz vai rápido ao encontro do Jamez Rodriguez para lhe consolar, para lhe confortar, para chorar com ele as emoções da sofrida derrota, mesmo sendo ele o vencedor, o ganhador. O desengonçado brasileiro pede que a torcida eufórica que lota o belíssimo estádio de Fortaleza deixe de lhe aplaudir para aplaudir o inconsolável craque colombiano. É que David Luiz bem sabe avaliar a dor de uma derrota, o peso de uma decepção nos gramados de futebol e nas arenas da vida.
Tenho um orgulho imenso dos meninos que se recolhem à granja Comary já de volta à concentração. Antes eles batucavam no ônibus, se compraziam em ostentar pequenos sinais de aparente riqueza, como boas e vistosas chuteiras, excêntricos e coloridos cortes de cabelos, headphones Beats, smartphones e tablets de última geração, relógios possantes, grandalhōes e cheios de luzes.
Esses nossos meninos lutam a cada dia em que jogam na Copa para abater onze leões famintos e desassossegados. Sabem que não podem dar razão a seus muitos detratores. E, por isso, não podem se dar ao luxo de errar.
Na verdade, a nossa Seleção é tão maravilhosa quanto esse nosso país. Um Brasil fantástico que reluta mil vezes antes de se reconhecer como a terra abençoada por Deus, remanescente de um povo alegre, hospitaleiro, festeiro, divertido e imprevisível como só seriam os descendentes de indígenas, pirtugueses e africanos.
Sei o quanto devem estar sofrendo com o drama físico do Neymar, com a saída do seu Capitão no próximo jogo. Eles, são, no conjunto, o melhor grupo de brasileiros a nos representar, com todas as nossas tragédias e todas as nossas glórias. E que bom que seja assim. Eles precisavam receber nesses dias todos os abraços de todas as mães do mundo.
Sigam avante porque vocês são o melhor em humanidade que o Brasil já produziu. E aqueles que melhor nos representam. (Durmam com essa.)
06 de julho de 2014
Copa revela a mãe de todas as verdades incômodas: 'aqui jaz a grande mídia'
Esta Copa revelou como nenhum outro evento no país conseguiu até agora o caráter mesquinho, monopolista e partidarizado com que há muito vem atuando nosos principais veículos de comunicação
A essas horas um grego ainda amarga a dor de não fazer seu país avançar. Tudo porque errou seu pênalty. E fica esse ar de desilusão, esses tantos anos de treinamento intensivo, essa construção interminável de sonhos de campeão. Errou o que não podia errar. Das poucas coisas na vida que não há conserto esse é um deles: o pênalty que se perde depois da prorrogação, a distância que separa as oitavas das quartas-de -final de uma Copa do Mundo.
A essas horas, também, a pequenina Costa Rica se sente embalada pelos anjos dos estádios e poderá sonhar com novos desafios, novas vitórias. Venceu. E a história - sempre foi e sempre será assim - continuará sendo escrita pelos vencedores. E a seleção da Costa Rica, que começou desacreditada, zebra consumada, equipe a ser trucidada por qualquer seleção de seu grupo, todas campeàs do mundo, nos ensinou que muitas vezes a primeira coisa a dar errado é isso que chamamos de senso comum.
A nossa cultura perdoa muitas coisas, por exemplo, ouvir todo o repertório de besteirol do Ronaldo Nazário e do Jabor, continuar lendo Veja e dando audiência ao jornalismo da Globo, mas não perdoa quem bate um pênalty decisivo e erra. No sufoco do jogo do Brasil contra um vigoroso Chile (28/6) tivemos jogadores - Hulk e William - que se deram o luxo de bater e errar seus pênalties. Foi um luxo porque tinham em nosso gol ninguém menos que Julio Cesar. Mas não tinham, absolutamente, direito a esse luxo.
Desperdiçaram oportunidades de ouro em nossa longa e acidentada jornada rumo ao Hexacampeonato. Não tinham o direito de despejar o destino do Brasil em sua Copa na maestria, no tino, na arte, nas mãos e na sorte de nosso Julio Cesar, essa fênix que virou cinzas na despedida do Brasil na Copa da África do Sul (2010) e agora ressuscitou e alçou voo rumo à unanimidade nacional.
Mereceu, Julio Cesar. Huck e William deveriam ficar treinando pênalties como se fosse dízimas periódicas, e treinar até dormindo, pois nunca saberemos o que nos reservam as próximas 3 partidas em que poderemos vir a jogar. E cada um deles já chega com "menos 1 gol" a justificar.
Esta Copa revelou como nenhum outro evento no país conseguiu até agora o caráter mesquinho, monopolista e partidarizado com que há muito vem atuando nossos principais veículos de comunicação. Perderam de goleada em suas predições de que esta copa seria um rotundo fracasso: de público, de futebol, de infraestrutura. E deixou claras verdades incômodas, há muito suspeitadas e finalmente completamente comprovadas em grande estilo, em um Mundial que é motivo de elogios e regozijo em todo o planeta.
A seguir, destaco algumas dessas verdades incômodas:
Mesmo com toda a grande imprensa jogando contra a Seleção Brasileira, dia a dia, minuto a minuto, mesmo que aquela revista americana impressa no Brasil - Veja, dos Civita - continue fazendo cama de pregos para danar nossa Seleção.
Mesmo tendo de aturar Ronaldo Nazário destilando veneno gordo contra nossos canarinhos e comentaristas da CBN se revezando em ridicularizá-la segundo a segundo.
Mesmo observando o esforço descomunal de um combalido Arnaldo Jabor cavando pênalties para derrubá-la a torto e à direita.
Mesmo que exista toda uma equipe do UOL a lhes morder os ombros e tendo que aguentar aquela peça publicitária do Banco Itaú com cara de nota de R$ 3,00 agourando nossos craques.
Mesmo que Merval Pereira seja imortalizado por torcer contra o país, assumindo posto antes ocupado por Mãe Dináh no reino das furadas predições, e pareça incansável em seu característico odor nauseabundo de derrotismo ante a pujança nacional.
Mesmo que William Waack teime, desesperado como ele só, e com a boca torna e o indefectível sorriso cínico, em dar cartão vermelho no Jornal da Globo para nossa Seleção.
Mesmo que todos os salgadinhos de quinta categoria, capitaneados por coxinhas requentadas e recalcitrantes, inisistam em prever o desastre do Brasil - se não hoje, amanhã - seja na Copa, na economia, na educação ou na saúde. De tão infelizes e mal resolvidos na vida essa turma substituiu sua titânica pisada de bola do "Não Vai Ter Copa" por um anêmico e fadado ao fracasso "Brasil Não Vai Ser Campeão".
Mesmo com tudo isso, não titubeio e nem duvido bem por milionésimos de segundos que torço, grito, vibro e boto fé no Brasil, e dobro a aposta sempre, em sua seleção e em seu povo.
Nem somos melhores nem piores que qualquer outra das seleções que jogaram em nossas 12 cidades-sedes. Fato mesmo que se impõe é que as seleções ruins que vieram a essa Copa já foram recolhidas às suas casas: Espanha, Inglaterra, Portugal, Itália, Uruguai.
E depois de tudo, que possamos ouvir o apito final seguido por um catártico grito de O CAMPEÃO VOLTOU!
30 de junho de 2014
Folha: Viúva do caos que não se confirmou torce por apito final
Curtir o Mundial, respirar aliviado, torcer pelo Brasil mesmo... só quando soar o apito final. Esquizofrênicos é pouco. Mas aí a Copa já acabou. E vocês da grande imprensa perderam de goleada
A Folha de S. Paulo, do empresário Otávio Frias Filho, publica, com uma semana de atraso, neste sábado (20/6) um editorial em que exalta o alto nível técnico da Copa e reconhece a boa organização do torneio, a despeito de falhas localizadas. Mas, como não poderia dar todo. Graço a torcer, o que incluíria mãos e cotovelos, o jornalão paulista dos Frias parece ainda acreditar em alguma catástrofe antes do apito afinal em 13 de julho no Maracanã. "Se o país pode se orgulhar da Copa que exibe ao mundo até agora, convém, como o próprio futebol ensina, esperar o apito final para cantar vitória –sobretudo em um torneio tão imprevisível quanto este", adverte Otávio Frias.
Vamos fazer algumas consideraçōes sobre este - mais um! - frustrante editorial da Folha.
1 *** Título: "Torneio de surpresas" ***
Resta saber surpresas para quem. O governo sempre acreditou no sucesso do Mundial. E desde o início a este se referiu, com certo ufanismo, como "A Copa das Copas". Surpresa apenas para os que desde 2012 teimaram em torcer contra, querendo assim politizar o maior evento do futebol mundial. Nesse caso, a Folha teve papel proeminente: sempre destacou qualquer notícia negativa, por menor ou inexpressiva que fosse, envolvendo a realização da Copa do Brasil.
2 *** Copa tem sido melhor que o previsto dentro e fora dos campos, com média elevada de gols e incidência localizada de problemas na organização ***
Há um quê de desolação e de frustração da Folha ao não reconhecer o óbvio que a imprensa mundial vem divulgando dia a dia: a Copa do Brasil não é apenas "melhor que o previsto", ela é a melhor Copa desde o distante mundial de 1958. E é insuperável em número de gols, que o diga os grandes selecionados que sofreram seguidas goleadas no Fonte Nova da Bahia! È sucesso de organização, a nota dissonante é uma torneira que não abriu na Arena da Baixada em Curitiba e duas cadeiras reclináveis que emperraram na Arena Amazônia. Esses são os problemas localizados? Sim, a tromba d'água que caiu sobre Natal em dia de Arena das Dunas lotado. A Folha deveria saber que o temperamental São Pedro não é, como Ronaldo, o oportunista de plantão, contratado da Fifa.
3 *** Já não faltavam motivos para a Copa do Mundo no Brasil ser celebrada como uma das mais empolgantes de todos os tempos, e o próprio presidente da Fifa, Joseph Blatter, afirmou nesta sexta-feira (20) que a qualidade do futebol apresentado na fase de grupos é a melhor da história. ***
A Folha investiu pesado em potencializar as frases contra a organização da Copa desferidas por Jerome Volcke, secretário-geral da Fifa, aquele burocrata que bem merecia um "pé no traseiro". Agora, tem de se curvar ante as falas otimistas do capo do futebol mundial Joseph Blatter. Os estádios estão, todos, absolutamente lotados. A farra é grande e o futebol de alto nível e com inusitadas goleadas. O que sobra de empolgação nos estádios e nos aeroportos, nas cidades-sedes e na mídia estrangeira falta em reconhecimento do êxito por parte da grande imprensa brasileira.
4 *** A média de gols na primeira rodada (3,06 por partida) é a maior desde 1958. Desde 1994, quando começa a série histórica do Datafolha, este Mundial teve o maior percentual de passes certos (86%) e os menores números de desarmes (216,6), faltas (26,6) e cartões amarelos (2,75) por jogo. Menos ênfase na destruição, mais na construção. ***
Surtando nos números e nas estatísticas do futebol em Copas do Mundo, impressiona o desconforto da Folha e sua clara má vontade em não reconhecer o que torna essa copa "A Copa": bastaria retirar de seus olhos as traves político-ideológicas de sua esquizofrênica cobertura do evento e logo veria aqui no Brasil o mais bonito e moderno conjunto de estádios reunidos em um único país-sede de Copa em todos os tempos, com suas linhas arrojadas, características futuristas, beleza e estética insuperáveis; o conjunto de novos aeroportos, amplos, bem equipados, verdadeiros cartões-postais e as dezenas de obras de mobilidade humana de grande envergadura; além do preparo e a prontidão das forças de segurança inibindo - sempre dentro do marco legal - os black blocs mais assanhados nas 12 cidades que sediam esta Copa 2014.
5 *** Problemas localizados, é claro, ocorreram. Em Brasília e Fortaleza, formaram-se filas excessivamente grandes; em algumas arenas, torcedores notaram deficiências no sinal de telefonia e 3G; no jogo entre França e Honduras, uma falha no sistema de som impediu a execução dos hinos nacionais. ***
Se fosse editorialista da Folha sentiria imensa vergonha se tivesse de escrever o parágrafo acima. Falando sério, sistema de som falhando em transmitir hinos, filas grandes e deficiência de sinal de 3G - tais eventos podem mesmo ser alçados à categoria de "problemas localizados" em evento do porte de uma Copa do Mundo? Haja vontade de, qual Indiana Jones do jornalismo, querer encontrar o Santo Graal nas arquibancadas J da arena Pantanal!
6 *** Longe dos estádios, protestos relacionados à Copa felizmente provocaram poucos transtornos. As manifestações, como seria de esperar, têm atraído cada vez menos pessoas, embora ainda se verifiquem alguns confrontos violentos. ***
A palavra deslocada nesse parágrafo. e que não fecha com o trabalho da Folha para inviabilizar a Copa do Brasil, é esta: 'felizmente". É óbvio que a Folha e suas companheiras de infortúnio com o estrondoso sucesso da Copa das Copas apostaram todas as fichas na ocorrência de protestos de monta, protestos com cenas de violência épica bem ao estilo Kill Bill, do mestre da pancadaria explícita Quentin Tarrantino. Mas não houveram. Agora sim, "felizmente".
7 *** Se o país pode se orgulhar da Copa que exibe ao mundo até agora, convém, como o próprio futebol ensina, esperar o apito final para cantar vitória –sobretudo em um torneio tão imprevisível quanto este. ***
É assim que termina o editorial do jornal dos Frias. Deixa entrever que ainda apista na virada da Copa - ainda pode vir a ser o Mundial do Fim do Mundo, com muita violência, pancadaria, estádios desabando, aeroportos despencando, confrontos entre polícia e marginais mascarados gerando centenas de ferdos e de mortos. Afinal, escreve candidamente o editorialista da Folha: '... como o próprio futebol ensina, esperar o apito final para cantar vitória'.
Portanto, curtir o Mundial, respirar aliviado, torcer pelo Brasil mesmo... só quando soar o apito final. Esquizofrênicos é pouco. Mas aí a Copa já acabou. E vocês da grande imprensa perderam de goleada. O Brasil e seus 200.000.000 de cidadãos, seja ou não campeão, ganhou. E também de goleada.
https://www.brasil247.com/blog/folha-viuva-do-caos-que-nao-se-confirmou-torce-por-apito-final
21 de junho de 2014
Resta à grande imprensa lançar 'Em 2016 não vai ter Olimpíadas!'
E se não gostarem pela evidente falta de criatividade, aqui temos outro bordão que eles criaram, festejaram e deu no que deu: Imagina nas Olimpíadas! Quem viver verá.
Sim, é inegável: Nossa Copa é um sucesso total. Sucesso de organização e de segurança. Sucesso de infraestrutura, com aeroportos tendo transtornos normais a qualquer evento extraordinário em que o número de passageiros é quintuplicado. Sucesso esportivo: é a Copa com o maior número de gols de todos os tempos. Excelente nível técnico marca esse torneio mundial de futebol. Mesmo sendo seu êxito praticamente escanteado das primeiras páginas, dos editoriais e do o jeto de atenção dos colunistas, a verdade é que é um êxito celebrado por The New York Times, Olé (da hermana Argentina!), El País, ESPN, Fox, YAHOO! e dezenas de importantes meios de comunicação sediados fora do Brasil.
O caos ocorreu sim. E foi o caos da grande mídia - disseminaram tudo o que poderia para tirar o brilho da copa, diminuir o apoio da torcida ao Brasil, gerar desconfiança quanto ao êxito que estamos testemunhando. E quebraram a cara. A festa verde-amarela poderia ser ainda um pouquinho maior se tivéssemos ao lado da população que torce pelo país-Sede os canais de tv, os jornais, as rádios e as revistas. Mas é didático o que está acontecendo: já não existe um poder midiático capaz de alterar substancialmente a realidade. E assim as pessoas descobrem em quem podem confiar. E fica claro que não se pode mais confiar na grande imprensa brasileira.
Esse foi o verdadeiro caos dessa Copa - a descoberta do quão ultrajante podem ser meios de comuniçação que privilegiam sua agenda própria - a manutenção do monopólio, o poder de pressão contra o estado de direito, o corporativismo cego levado às últimas consequências. Um caos com gosto de goelada às avessas - chuva de gols contras. Arquibancadas não caíram, aeroportos não tiveram problemas em suas torres de controles, e até a tromba d'água que ameaçou a bela Arena das Dunas, em Natal, gerando destruição na cidade do Sol, deixou intacto o estádio e ainda ganhou comentários de satisfação com a qualidade da Arena e o sucesso da Copa de ninguém menos que Joe Biden, o vice-presidente de Barack. Obama. Com certeza fica evidente que os potencializadores do caos inventado para essa Copa 2014 deveriam antes ter combinado com a realidade a possibilidade de ocorrência em sériede eventos de natureza catastrófica.
O lead de matéria desta quinta, 19, do portal Brasil 247 registra em tons suaves a goleada sofrida pelo conservador jornador paulistano: 'Ao escrever nesta quinta-feira sobre "A Copa como ela é", o jornal da família Frias, que vinha enfatizando aspectos negativos da organização do Mundial, já admite que não houve caos algum e que as falhas são episódios localizados; aeroportos funcionam normalmente, torcedores estão satisfeitos e o nível técnico é um dos melhores de todos os tempos, com maior média de gols desde 1958; "O bordão 'Imagina na Copa', repetido antes do Mundial como uma crise na infraestrutura e de possível fracasso do evento, não se concretizou", diz o texto; nesse ritmo, torneio caminha para ser mesmo #acopadascopas.'
Resta à recalcitrante grande imprensa desfraldar seu novo cavalo de batalha:
Em 2016 não vai ter Olimpíadas.
E se não gostarem pela evidente falta de criatividade, aqui temos outro bordão que eles criaram, festejaram e deu no que deu:
Imagina nas Olimpíadas!
Quem viver verá.
https://www.brasil247.com/blog/resta-a-grande-imprensa-lancar-em-2016-nao-vai-ter-olimpiadas
19 de junho de 2014
Copa 2014: capitães-do-mato atiram no pé e atingem o coração
Infelizes por não testemunharem uma Copa destroçada, com tudo dando errado, nossa elite apelou pelo xingamento mais baixo, sem noção e sem razão de ser
E o mundo não acabou. Alegria para uns, tristeza para outros. O mundo não acabou na quinta, 12 de junho e nem dá mostras de exalar um último suspiro no dia 13 de julho. Mas não faltaram avisos avisando que a derrocada do mundo – ao menos como o conhecemos – começaria a desmoronar pelo Brasil, mais exatamente, da zona leste da operosa metrópole de São Paulo. Não acabou.
O que permaneceu firme, inamovível, sólido foi esse monumento ao 'fracassismo' esposado por nossa grande imprensa: as ruas nas grandes cidades que sediam os jogos da Copa 2014 seriam transformadas em imensas praças de guerra; os transportes públicos entrariam em parafuso com greves de trabalhadores muito bem gerenciadas; arquibancadas cheias de torcedores cairiam tão logo soasse o apito do juiz anunciando o início do jogo; torcedores de várias nacionalidades ao invés de olharem o que se passava nas quatro linhas dos gramados ficariam com olhos vidrados para o teto – o medo de cair sobre suas cabeças o reboco de estádios mal construídos e inaptos ao uso humano.
Nada disso aconteceu. Assim como nada aconteceu quando um apagão festejado feericamente por tão longo tempo também não se materializou ante a ignada plebe. E ficou tudo como dantes nesse Brasil que se recusa a ser pautado por fracassomaníacos de todas as extrações – nem a inflação estourou a meta, nem as finanças públicas foram para o espaço, nem o FMI foi chamado às pressas para decidir a (má) sorte de nossa economia.
Apenas dois eventos de natureza catastrófica aconteceram, mas, justamente estes dois, ficaram à margem do interesse jornalístico:
A crise de água em São Paulo se impõe de forma trágica: O nível de água armazenada no Sistema Cantareira recuou 0,2% nesta terça-feira (17/6/) e chegou aos 22,8%, segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). No mesmo período do ano passado, o volume de água era 57,7%.
Para saber dessa verdade incômoda, inconveniente e previsível, é necessário que o cidadão seja socorrido pelo Google. Basta digitar as palavras "Cantareira + Água + Crise". Do contrário ficará apenas a pão, sem água.
A crise de maus modos da elite paulistana que frequenta áreas nobres do estádio Itaquerão e que decidiu - com imenso entusiasmo - desferir palavrões a Dilma Rousseff, inflamando assim arquibancadas contra a presidenta da República, no jogo de abertura do Mundial (12/06), tornou-se o mais formidável tiro no pé dado em toda a Copa do Mundo de 2014.
Inexplicável sob quaisquer ângulos razoáveis de análise, a ala Vip do Itaquerão revela quão odiosa pode ser a elite paulistana. Elite representada por famílias quatrocentonas com cheiro de naftalina, familiares dos donos do Banco Itaú (esse banco que torce no noticiário pelo fracasso de nosso evento planetário em muitas décadas e que, em performance bipolar típica, gasta milhões de dólares para aparecer ao povo brasileiro como como torcedor nº 1 da brasilidade no Mundial); mas também xingamentos engrossados por dúzias de artistas globais, celebridades-miojo (duram não mais que um verão ou inverno) colunistas e "opinionistas" de veículos como TV Globo, Rádio CBN, Folha, Estadão, O Globo, Veja e Época.
Infelizes por não testemunharem uma Copa destroçada, com tudo dando errado –estádios, aeroportos, transportes públicos - e gerando milhares de vítimas país afora, nossa elite apelou pelo xingamento mais baixo, sem noção e sem razão de ser – ao agredir com palavras de baixíssimo calão a figura da Presidenta da República. Deu tudo errado. Eles é que ficaram mal, muito mal, na foto, nas redes sociais, nos milhões de imagens que partiram do Brasil para correr o mundo.
Presidenciáveis que, em um momento de oportunismo explícito, vieram à boca do palco se solidarizar não com a vítima e sim com os autores dessa cafajestagem monumental, logo trataram de se retratar, perceberam que seus instintos mais íntimos não são bom cabos eleitorais quando vêm à luz do dia. Até mesmo um insuspeito ministro Joaquim Barbosa, nunca dado a afagos à presidenta do Brasil, tratou logo de condenar os maus bofes de nossa arcaica elite, com seus truculentos modos de capitão-do-mato – "Foi terrível! Foi terrível!" gritava o controvertido ministro do Supremo Tribunal Federal.
Enquanto isso, a Copa do Brasil cai nas graças de imprensa internacional e passa a ser avaliada como "a melhor dentre todas as Copas do mundo", "a Copa com maior número de gols desde 1958", "a Copa que bem poderia ser exemplo para as que se realizarem no futuro", "a Copa dos estádios mais lindos e modernos".
Resumindo – a Copa do Brasil.
https://www.brasil247.com/blog/copa-2014-capitaes-do-mato-atiram-no-pe-e-atingem-o-coracao
18 de junho de 2014
Copa do Brasil: esta Nação jamais será a mesma!
Futuros estudiosos da antropologia do futebol no Brasil saberão, sem dúvida alguma, reconhecer o impacto desse esporte em nossa vida cultural, econômica e social como delimitada em dois tempos - antes e depois da Copa do Brasil 2014
A arena da Amazônia é de uma beleza e perfeccionismo de encher os olhos! Uma arquitetura arrojada, um design refinado e uma bela cidade. Essa é a receita para ter esse novo templo do futebol.
O futebol, a paixão nacional, até cinco anos passados se celebrava somente em três ou quatro estados brasileiros: Rio, São Paulo, Porto Alegre e Salvador. Com esta Copa 2014 a paixão brasileira do mundo esportivo foi democratizada de forma única e inigualável.
A autoestima do "resto do Brasil", tendo que ser sempre visto como lugares do futebol-refugo, sedes de times menosprezados como de "várzeas", agora está engalanado:
1. Quem iria imaginar que Manaus um dia sediaria jogo oficial de Copa do Mundo reunindo duas campeãs do mundo de futebol com a tradição de Itália e Inglaterra, somando as duas equipes 5 títulos mundiais?
2. Quem imaginaria, também, que um dia o México enfrentaria os Leões Camaronenses no moderno altar do futebol brasileiro que é a sofisticada Arena das Dunas em Natal?
3. E, em meio a um dos mais belos cenários do mundo, no coração do pantanal matogrossense, alguém sonharia em colocar um jogo de Copa do Mundo em Cuiabá, como esse em que o Chile, contando com a impressionante torcida de 20.000 compatriotas que vieram de seu país, daria uma lavada de 3 x 1 na Austrália?
4. Agora, pense bem, você que ora me lê: será que em fins do século XX alguém seria insano a ponto de imaginar que as seleções campeã (Espanha) e vice-campeã (Holanda) da Copa 2010 se enfrentariam na belíssima Fonte Nova de Salvador, em jogo da Copa 2014 e que o vice daria um chocolate saboroso de 5 x 1 na campeã do mundo?
5. Somente um delirante incorrigível, tão insuportavelmente quanto aqueles desbravadores modernos que, ainda nos 1950, vieram à solidão deste Planalto Central, ousaram transferir a capital federal do Brasil da sempre festejada cidade do Rio de Janeiro, poderiam quase 50 anos depois imaginar que Brasília sediaria partida oficial de Copa do Mundo reunindo Suiça e Equador em um dos mais imponentes monumentos ao futebol mundial - o Estádio Nacional Mané Garrincha?
E pensar que há semanas ainda ouvia queixumes vindos do sudeste e sul Maravilha criticando a Copa do Brasil por se atrever a realizar uma Copa da Inclusão no Brasil: como construir arenas e estádios tão bonitos, modernos e imensos em cidades periféricas como Natal, Manaus, Curitiba e Cuiabá?
Certamente são aqueles mesmos que há pouco mais de uma década se negariam a promover a mais formidável inclusão social do Brasil. A receita deles era infalível: primeiro precisamos fazer crescer o bolo e, só então, teremos algo para dividir com o restante do país. E foi isso que gerou esse Brasil assustadoramente desigual, onde uns parecem ser mais brasileiros que outros em termos de direitos, qualidade de vida, educação, saúde, mobilidade e segurança.
Com o futebol se deu o mesmo. Bons jogadores só os que brilhassem no Maracanã e no Morumbi. Futebol-arte só aquele do eixo carioca e paulista. Todos os demais seguiam a perversa casta regionalista do esporte: Rio Grande do Sul com o Grêmio/Internacional; Pernambuco com Náutico/Santa Cruz/Sport; Minas Gerais com o Atlético/Cruzeiro; Bahia com o Bahia/Vitória. Depois os times paranaenses, capixabas, paraenses, pernambucanos, potiguares, manauaras, catarinenses.
Esta Copa do Brasil 2014 trouxe esse legado intangível, esse sentimento de pertencer à brasilidade, essa percepção que não há imprensa-contra, vândalos-mascarados e nem alas vips de Itaquerão - com seu habitual preconceito e ojeriza às massas sofridas de brasileiros anônimos - capazes de impedir que flua por todo o país o sangue vital e generoso do Brasil.
Como, por justiça, deveria ter sido desde todo o sempre.
Este legado - a autoestima rejuvenescida de brasileiros que vivem em Manaus, Cuiabá, Natal, Fortaleza, Recife, Brasília, Curitiba, Salvador - com seus rostos felizes, orgulhosos de serem reconhecidos no mundo todo, de sentir que os olhos, coraçōes e emoçōes de mais de 1 bilhão de seres humanos, ao longo de 90 minutos por partida da Copa, se dirigem às suas cidades, a seus estados, às suas origens ancestrais e... ais seus belos templos do futebol.
Futuros estudiosos da antropologia do futebol no Brasil saberão, sem dúvida alguma, reconhecer o impacto desse esporte em nossa vida cultural, econômica e social como delimitada em dois tempos - antes e depois da Copa do Brasil 2014.
Concluo estas reflexões tomado por esta emoção brejeira e saborosa a me dominar intensamente. Descubro-me, assim, cada vez mais responsável pela felicidade do todo. E é isso o que somos: guardiões da felicidade e do bem-estar de todos. Porque o que traz felicidade à parte passa a trazer felicidade ao todo.
https://www.brasil247.com/blog/copa-do-brasil-esta-nacao-jamais-sera-a-mesma
15 de junho de 2014
O STF se transformou em STJB
Hoje o Supremo Tribunal Federal não passa de órgão extraconstitucional, medíocre e extemporâneo - Supremo Tribunal de Joaquim Barbosa, o STJB
Grande Imprensa, sempre aliada à Casa Grande divulga sem parar "factoide" de segurança 'anônimo' do STF de que o advogado Luiz Fernando Pacheco preso por Joaquim Barbosa em sessão do plenário do STF ocorrida nesta quarta, 11 de junho, estaria bêbado. Foi mais uma "joaquinice", como se diz no meio jurídico. E, sem dúvida, das maiores elencadas nessa baixa categoria.
Menos de 12 horas depois temos a contundente resposta do advogado Luiz Fernando Pacheco, ao Globo:
"Questionado sobre as alegações, Pacheco negou que estivesse embriagado, através de uma mensagem de celular. "Repudio veementemente, até porque todos que me conhecem sabem: não bebo, rigidamente, não bebo! E desafio quem quer que seja a demonstrar o contrário. Fiz o que fiz na maior sobriedade e faria de novo quando e onde se mostra-se a tirania. Joaquim Barbosa, ainda que sóbrio, vive num porre seco", respondeu o advogado do ex-deputado ao GLOBO."
Observemos as manchetes da grande mídia, invariavelmente açoitando e assassinando a reputação de Pacheco. Todos dando manchete à depoimento "anônimo" do esbirro de Barbosa, ao invés de mencionar, na capa, a resposta de Pacheco.
Tem dúvidas sobre o que diz o advogado?
Simples: manda ele soprar o bafômetro. É isso o que faz, de imediato, pessoa de bem, boa índole, cidadão de ilibada conduta e que nada tenha de criminoso a ocultar.
Acusam, por acaso, o advogado de cheirar cocaína?
Simples também: manda fazer bateria completîssina de exames, começando pelo de sangue.
Acusam de o advogado ter agredido verbalmente o JB?
Simples: vasculhem dez minutos no Google/YouTube e encontrarão gracações em áudio e em vídeo de diversas agressões verbais de JB, das mais baixas às que foram proferidas em francês, contra meio mundo: ministros do próprio STF (Gilmar Mendes, Eros Grau, Marco Aurelio Melo, Ricardo Lewandowski, Nelson Jobim), advogados, jornalistas, réus também, Associações de Magistrados, Associações de Advogados.
Resta saber: ministro do Supremo pode agredir, insultar, vociferar e desacatar meio mundo e ficar por isso mesmo e, advogado deve sempre se ater a floreios cerimoniais mesmo presenciando patentes injustiças assacadas contra seus clientes?
A manipulação da Globo e da Folha está mais que escancarada.
E se este tivesse ameaçado o presidente do STF, JB truculento e prepotente como ele só, porque não ordenou que fosse lavrado Boletim de Ocorrência? E porque não prendeu o advogado?
Mas JB optou por uma mentirosa NOTA, feita às pressas, e de olho sempre na repercussão midiática de seu contumaz estrago. Até o blog do Josias da Folha detonou em manchete:
"Joaquim Barbosa não sairá da presidência, ele terá alta"
Em defesa do advogado expulso da tribuna do plenário do STF veio o colega de JB e ex-presidente do STF Marco Aurélio Melo: "Nunca vi isso em 24 anos que estou no Supremo. Foi terrível."
E pensar que o processo que a imprensa nominou como o mais importante julgamento da história do Supremo foi relatado por Joaquim Barbosa, e depois presidido por Joaquim Barbosa e ainda depois, teve Joaquim Barbosa como o "senhor todo-poderoso" responsável pela execução do cumprimento das penas - reduz a quase pó a noção de que sobriedade, responsabilidade, zelo e equilíbrio em busca da justiça tenham pautado a AP-470. Estas qualidades essenciais a qualquer tipo de julgamento, se existiram, passaram muito longe de todo o processo.
O STF bem poderia mudar seu nome para algo mais apropriado da realidade jurídica que vem mostrando ao país.
Hoje o Supremo Tribunal Federal não passa de órgão extraconstitucional, medíocre e extemporâneo - Supremo Tribunal de Joaquim Barbosa, o STJB.
Isto porque os demais dez ministros permitiram que as ilicitudes, o arbítrio e is destemperos absolutistas de apenas um de seus membros passasse sobre eles o rolo compressor de JB, dono dr um ego inflado e de uma vaidade sucumbida âs benesses dos holofotes midiáticos.
12 de junho de 2014
O Brasil que me envergonha não é o da Copa; é sim o da grande mídia
O Datafolha me pergunta se tenho orgulho ou vergonha da Copa. Tenho muito orgulho da Copa. Tenho vergonha - e muita - da "mídia gangster" que nós temos
O Datafolha me pergunta se tenho orgulho ou vergonha da Copa.
Tenho muito orgulho da Copa. Assim como tenho orgulho do Brasil. Entendo que não vivemos no melhor dos mundos, mas é ridículo querer que o Brasil seja melhor sem que nós mesmos nos esforcemos para sermos melhores pessoas, melhores cidadãos, melhores brasileiros. Aqueles que tem vergonha do país provavelmente entendem que o Brasil pode ser melhor apenas por um ato de governo ou mediante simples decreto presidencial, como se 500 anos de atraso fossem apagados em pouco mais de década.
Tenho vergonha - e muita - da "mídia gangster" que nós temos, com os interesses escusos do submundo que ela representa, sufocando a pluralidade de pensamento, agindo como cartel da informação, desestabilizando governos eleitos democraticamente, atuando para manter seu monopólio que trata notícia com mercadoria, negociando favores que nem mesmo pode noticiar, sonegando impostos milionários e nunca atendendo aos muitos pedidos para que apresente o Darf.
Disso tenho vergonha. Muita vergonha mesmo.
Tenho vergonha de gente como Ronaldo, um fenômeno de mau caratismo: passou dois anos lucrando com sua imagem associada à organização da Copa 2014, deu entrevistas muitas, desancou Romário por ser ideologicamente contra a Copa e, assim sem mais nem menos, para continuar faturando com a Globo e a grande imprensa, deu uma de moleque, fazendo o jogo da grande imprensa e dos seus black blocs e grupos do tipo "#nãovaitercopa".
Tenho vergonha da manipulação grosseira e contínua de nossa imprensa que, ao sentir que agora teremos sim uma lei para regular seus excessos, conforme estipula a Constituição de 1988, resolve inviabilizar a Copa do Brasil como jogada política para desestabilizar o Governo.
Disso também tenho vergonha. Muita vergonha mesmo.
Tenho vergonha de pessoas como Luciano Huck por lucrar com a miséria das pessoas que vão buscar seu apoio para mobiliar uma casa, recauchutar um carro velho, conseguir internação em hospitais. Vergonha porque não imagino alguém ser feliz às custas de emoções de gente sofrida. Vergonha por seu senso de oportunismo doentio: vender camisetas com bananas surfando na agressão ao Daniel Alves foi a gota d'água.
Tenho vergonha de uma imprensa venal que idolatra um ministro como Joaquim Barbosa que mostrou ser vingativo, autoritário, preconceituoso, grosseiro, chiliquento e injusto, insultou e agrediu seus pares no Supremo Tribunal Federal, mandou um jornalista honesto ir chafurdar no lixo, desacatou todos os advogados do país e todos os magistrados com decisões absolutamente à margem das leis, interferiu em Vara de Execuções Penais e se deixou ludibriar pelo brilho fugaz dos holofotes, como se ele pudesse pairar acima das leis.
Tenho vergonha (alheia) de Joaquim Barbosa que, ao anunciar sua aposentadoria do STF, obedece apenas ao seu doentio orgulho - não aceita ser presidido por um de seus muitos desafetos na Corte, o ministro Ricardo Lewandowski. E age assim apenas pela certeza que tem que sob qualquer presidência sensata do STF suas decisões ditatoriais terão que ser revogadas de imediato.
Também tenho vergonha de quem nunca se posiciona sobre nada, prefere o conformismo do ficar eternamente em cima do muro e ainda encontra forças para escancarar que quer agindo assim mudar o mundo. A mesma vergonha dos que, desejando estar sempre bem na foto, concordam com tudo e todos, mesmo que tudo e todos representem ideias e pensamentos imensamente distintos.
TOMAR POSIÇÃO É EXTENSÃO DO ATO DE PENSAR.
https://www.brasil247.com/blog/o-brasil-que-me-envergonha-nao-e-o-da-copa-e-sim-o-da-grande-midia
02 de junho de 2014
Meu álbum de figurinhas da Copa
No meu álbum não vejo apenas figurinhas. Não. O que tenho diante de meus olhos é mais que suficiente para ne aguçar a mente: vejo em toda a sua grandeza um sensacional encontro de civilizações
Meu álbum da Copa segue por cima de pau e de pedra, falta de tempo, muitas repetidas, corridas a bancas de jornais, mas faço isso de forma diligente, com gosto de gás e um certo sentimento de missão.
É um paciente e prazeroso trabalho esse de me apresentar a cada figurinha que me olha com um misto de curiosidade e um certo respeito reverencial por virem, dentro de algumas semanas, disputar no Brasil o campeonato mundial de um esporte em que o anfitrião é simplesmente pentacampeão. Que me perdoe Pelé, mas não é ele o sempre autoincensado rei do futebol. O Brasil sim é que é o Rei Absoluto do Futebol.
Play Video
A cada foto que colo no álbum uma nova amizade e a lembrança que o Brasil será anfitrião da cada um deles. Não apenas de seus corpos quase sempre atléticos e disciplinados. O Brasil será anfitrião da histórias de seus países, da vivacidade de suas crenças, da força de suas ideias, dos valores civilizatórios que seus antepassados ergueram ao longo de séculos e milênios.
No meu álbum não vejo apenas figurinhas. Não. O que tenho diante de meus olhos é mais que suficiente para ne aguçar a mente: vejo em toda a sua grandeza um sensacional encontro de civilizações. Desde a dos iranianos, um país que desrespeita cruelmente o direito à liberdade de crença, mas que tem uma história de vários milênios, berço de poetas notáveis como Rumí, Ferdowsí e Hafîz e de gênios absolutos como Avicena... até à Nigéria, país que sofre com o sequestro de suas crianças, mas integra um continente luminoso, berço de campeões na luta como o racismo, como Maulana Karenga, Steve Biko e Nelson Mandela e de onde surgiram luminares dessa ancestralidade como Rosa Parks e Martin Luther King Jr.
No meu álbum promovo um encontro de culturas aparentemente díspares como aquela do consumismo desenfreado dos Estados Unidos com aquela dos excessos da polícia do Reino Unido que matou Jean Charles, mas também a formidável cultura de uma nação que sedia todos os anos a Assembleia-Geral das Naçōes Unidas em New York, com os representantes da mais longeva realeza europeia, a dos britânicos, uma nação em que a sua rainha Vitória recebeu ainda no século XIX a piderosa mensagem divina trazida pelo Prisioneiro de Akká, na antiga Palestina.
No meu álbum celebro diferentes - e nem por isso indiferentes - visões de mundo: desde os gregos que trazem em sua seleção jogadores exímios como Sócrates, Platão, Epícuro e Heráclito de Éfeso... até os alemães que escalam nada nenos que Hegel, Kant, Marx e Nietszche. Jogo duro. Certamente, mas tudo no campo das ideias e na eterna luta do homem para encontrar um sentido para a vida e respostas convincentes às velhas - e ainda muito atuais - questões de todo o sempre: Quem sou? De onde venho? Para onde vou?
No meu álbum da Copa todos os jogadores parecem bem nutridos e todos me pareceram à primeira vista, muito bons de garfo. Também pudera! Eles se deliciam desde a mais remota infância de suas jovens vidas de iguarias singulares, sabores únicos, receitas que passam de geração a geração num infindável procissão de aromas e sabores. É um universo gastronômico que cekebra a beleza da diversidade na culnária humana.
No meu álbum tudo se encontra nos ditames do paladar: acos, tortillas e guacamoles com totopos dos mexicanos; sushi e o sashimi dos japoneses; empanadas e ceviche peruano; sopa de ervilhas holandesa (Erwtensoep); Betchu Kimchi dos coreanos; espaguetes putanesca e o carbonara dos italianos; estrogonofe dos russos; enchilladas colombianas; moussaka grego; dolmêh e o roresht badenjun dos iranianos; paella valenciana e gazpacho dos espanhóis; fricassê de frango e quiche lorraine dos franceses (ulalá!); bacalhau e costeletas de porco à moda do Minho de nossos ancestrais portuguêses; o suflê e o fondue de queijo dos suiços; as empanadas chilenas e suas cazuelas; o carneiro assado com molho de menta e vinagre dos australianos; os 1500 tipos diferentes de wurst (salsicha) alemães. E tudo isso para se reunir nos sabores brasileiros da feijoada carioca, o cozido nordestino, o arroz carretero com o tutu de feijão mineiro e, para fechar a temporada dis anfitriães, o tacacá manauara com um quentíssimo acarajé da Bahia de Todos os Santos. Ah, e não podia faltar o churrasco de nossos hermanos argentinos.
https://www.brasil247.com/blog/meu-album-de-figurinhas-da-copa
20 de maio de 2014
Aproveitamos a chance de sermos felizes
Temos diante de nós um evento planetário que poderá ser uma vigorosa oportunidade de mostrar ao mundo que o melhor do Brasil é o brasileiro
Daqui a exatos 30 dias teremos aquele momento mágico em que será cantado o nosso hino nacional por 11 jogadores da seleção brasileira, adicionado por milhares de vozes de torcedores que lotarão o estádio Itaquerão de São Paulo e ecoando por milhões de vozes de outros brasileiros espalhados país afora e mundo afora. Aquele momento quando a câmera passeia pelos jogadores, quando veremos seus rostos contritos, alguns tensos, outros descansados, alguns cantando e outros apenas balbuciando os versos de nosso hino, veremos rostos negros, morenos, brancos, em sua maioria de jogadores que trazem consigo uma origem humilde, essa origem humilde que vez por outra nos dá vontade de chorar.
O futebol é a maior escola meritocrática que o Brasil tem – só desponta quem tem talento no pé, alma de campeão, hábitos disciplinados e tirocínio rápido para fazer do nada uma jogada excepcional, um momento alto na história do futebol mundial. Por ser um esporte coletivo, o país que se consagra em uma Copa do Mundo o faz devido unicamente ao talento e ao empenho de seus jogadores em campo, em nada importando dados aleatórios como a população do país, a opulência de sua economia, o desenvolvimento de sua ciência, o poderio de sua defesa estratégico-militar. Vale apenas suas habilidades em campo. E nada mais.
Em mais 30 dias todos os relógios de contagem regressiva para o início da Copa do mundo de futebol 2014 serão desativados e, sabe Deus quando, voltarão um dia trabalhar. A depender do malsucedido trabalho de manipulação da imprensa contra a Copa 2014, somente quando o Brasil tornado realidade todos os seus sonhos de um país prospero, inigualável em seu atendimento médico-hospitalar, inveja planetária na qualidade de seu ensino trilíngue (português, inglês e mandarim) e figurar entre os três primeiros lugares dentre as nações mensuradas no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das Nações Unidas.
Naquele ponto perdido no futuro, ocorrerão sim novas manifestações – as pautas é que serão outras, se hoje são extensamente esparsas e variam de menor tarifa de passagem de ônibus até que o Vasco continue na vice-liderança do campeonato carioca, as manifestações do futuro serão enfeixadas em uma única reivindicação - o Brasil precisa sediar, de forma permanente e imutável, todas as futuras edições da Copa do Mundo de Futebol.
Os manifestantes, todos transformados em jornalistas conectados na internet, exporão suas razões para isso: O Brasil dispõe de serviços de saúde de qualidade invejável, com hospitais utilizando equipamentos antes restritos – devido aos elevados custos de aquisição e manutenção - apenas nos hospitais Sírio Libanês e Einstein, ambos em São Paulo; nossos médicos há muito trocaram os grandes centros urbanos por pequenos vilarejos às margens dos rios Negro, Solimões e S. Francisco, e por cidades pequenasem no interior da Bahia, Piauí e Minas Gerais.
E não se cansarão de mencionar grandes conquistas brasileiras nas áreas de cultura e educação: em pouco espaço de tempo o Brasil conquistou nada menos que 5 prêmios Nobel: dois de Literatura (um com Affonso Romano de Sant'anna e outro com Moniz Bandeira), um de Medicina (com Miguel Nicolelis), um da Paz (com Lázaro, o cacique da nação indígena Kiriri) e mais um de Física (com Mario Baibich). O tema "Analfabetismo no Brasil" consta apenas dos livros de História e todas as nossas escolas de ensino fundamental e médio são em tempo integral e o ensino é inteiramente trilíngue - português, inglês e mandarim.
Mas isto é matéria de futuro, ocupemo-nos do presente.
Pois bem, em exatos 30 dias teremos bola rolando no moderno estádio Itaquerão em São Paulo. Brasil e Croácia se enfrentam em jogo inaugural da Copa Mundial de Futebol Fifa 2014. Os que torciam para que a Copa não ocorresse, adeptos que foram do 'quanto pior melhor', puderam perceber que, tão logo a poeira político-ideológica baixou, o volume de recursos investidos na Copa 2014 não foram destinados apenas para os estádios. Muito ao contrário, dos 26 bilhões de reais previstos na matriz da competição, apenas 8 bilhões foram destinados à reforma das arenas. E todo o restante se destinou a obras de infraestrutura e de mobilidade urbana que ficarão como legado em benefício dos brasileiros.
Segundo o estudo Brasil Sustentável - impactos sócio-econômicos da Copa do Mundo de 2014, realizado pela consultoria Ernst & Young em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, bem mais do que um campeonato internacional, a Copa do Mundo de 2014 irá mudar a cara do Brasil nos próximos anos. E não apenas das 12 cidades-sede. Ao contrário, dos 26 bilhões de reais previstos na matriz da competição, apenas 8 bilhões são destinados à reforma das arenas. Todo o restante se destina a obras de infraestrutura e de mobilidade urbana que ficarão como legado em benefício dos brasileiros. E, o que a grande imprensa não divulga é que nem todo o investimento é proveniente de dinheiro público federal. Parte dele é oriundo da iniciativa privada, de governos estaduais e de municípios.
E os desinformados profissionais, estes que difundem a falácia que esta será uma Copa apenas para os ricos verem? A verdade é que milhares de brasileiros já garantiram lugar nos jogos da Copa: O governo conseguiu que a FIFA disponibilizasse 48.000 ingressos para os indígenas e alunos da rede pública de ensino, abrangendo nada menos que 901 escolas públicas participantes do Programa Mais Educação. Porque notícias como essas passam sempre batido na grande imprensa? Quais interesses estão por trás? Que tipo de jornalismo autoreferido independente e apartidário é este que se pratica no Brasil?
No vácuo de respostas exatas sobre que tipo de legado a Copa 2014 deixará para o país cresce o poder de manipulação midiática: tudo é desmesurado, tudo é excessivo, tudo parece ser em vão. Mas não é assim, nem foi assim com outros países que sediaram eventos esportivos como as Olimpíadas ou a Copa do Mundo recentemente. Basta pesquisar na internet os arquivos de jornais como The Guardian e The Sun para verificar que quase 90% dos ingleses eram contra as Olimpíadas em Londres até assistirem ao desembarque triunfal da rainha Elizabeth no Estádio Olímpico ao lado de James Bond. E, ao fim dos jogos olímpicos, pesquisa do "The Guardian" revelou que 82% dos londrinos estavam felizes com os Jogos.
Para quem é curioso pela história do Rio de Janeiro, deve saber que o prefeito da cidade Ângelo Mendes de Morais, verificando a inexistência de um estádio que comportasse um número de público condizente com a importância do evento, pois só havia o estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, de muito menor porte, decidiu pela construção de um novo estádio. Em 1949, foram iniciadas as obras do Maracanã, apesar da forte oposição do político Carlos de Lacerda. O jornalista Mario Filho, do Jornal dos Esportes, foi um dos maiores incentivadores da obra.
É como se Carlos Lacerda se antecipasse no tempo ao papel dos políticos de oposição ao governo federal neste ano de 2014. Foi Lacerda quem criticou a localização escolhida para o estádio – ele defendia que fosse em Jacarepaguá - e ficou rouco de tanto discursar apontando desvios de dinheiro público e elencando que aquele volume de dinheiro melhor seria aplicado se fosse na construção de melhores escolas e hospitais públicos, melhores rodovias, mais segurança para a cidade do Rio de Janeiro. Alguma semelhança com os protestos de junho de 2014? Mas como tudo que é demagógico, foi o mesmo Lacerda, anos depois, já eleito governador, acusado de construir o "maior elefante branco do mundo": o belíssimo Parque do Flamengo, certamente um dos mais belos cartões postais da capital carioca... e do Brasil.
A história homenagearia Mario Filho, após sua morte, dando seu nome ao estádio, e levando mundo afora a fama do Maracanã como símbolo maior do futebol-arte do Brasil e também como templo-maior do futebol mundial. E a verdade é que o Maracanã, é até hoje é orgulho da cidade e palco de grandes momentos dos esportes no Brasil. Quanto a Carlos Lacerda, tudo o que ficou foi seu epíteto de golpista, condenado ao mais completo ostracismo político.
Para esta Copa 2014, quem serão os que seguirão o exemplo de Mário Filho e a quem caberá o papel de triste memória de Carlos Lacerda? A História dará a resposta. E será muito em breve, logo após termos realizado a melhor edição de uma Copa do Mundo em todos os tempos.
Apostando na manipulação de corações e mentes, não faltam colunistas a fazerem o pior balanço possível para o Brasil advindo com a realização da Copa 2014. Mas, em sã consciência, bem o sabemos que não é razoável falar no legado durante a Copa do Mundo ou logo depois dela.
Como podemos, criteriosamente, aferir o salto de qualidade que a imagem do Brasil desfrutará no cenário internacional? Como o mundo se comportará ao descobrir, um tanto tardiamente, que existe potencial e beleza em um gigantesco país que não seja nem europeu nem norteamericano?
Mas, o primeiro – e inquestionável – legado tem a ver com a moderna infraestrutura que o país disporá para o futebol, com arenas modernas e bem equipadas, de fácil acesso e que rapidamente se tornarão autosuficientes financeiramente. Estes novos estádios funcionarão como inegável apelo para o desenvolvimento de talentos futebolísticos em várias regiões do país e não apenas no eixo Rio-São Paulo, com alguns vislumbres no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pernambuco.
O segundo legado tem relação direta com de nossas 12 cidades-sedes. Suas malhas viárias, suas obras de mobilidade urbana, sua capacidade hoteleira jamais serão as mesmas. Porque a realização de uma Copa do Mundo estabelece prazos e metas. E trata também de excelência comparativa com outras cidades do mundo. E, se não fosse escolhido o Brasil em 2007 para sediar evento dessa magnitude, quando o Brasil veria obras dessa amplitude, abrangência e dispersão geográfica se realizando? Nunca. Porque não apenas o governo federal, mas também as administrações estaduais e municipais trabalham melhor se se sentirem pressionados por uma data fixa para a entrega de projetos e obras, não importando quão ambiciosos ou gigantescos sejam.
O terceiro, e não menos importante, legado da Copa 2014 tem a ver com algo subjetivo, imaterial, impalpável, que foge a todo tipo de estatística e quadros comparativos mensuráveis. Tem a ver com autoestima de um povo, uma nação. É certo que ao longo de um mês o Brasil terá sobre si os olhares de quase um bilhão de seres humanos. Boa parte desses olhares terão a curiosidade que um dia tiveram navegadores como Pedro Álvares Cabral que, usando caravelas, bússolas e astrolábios, um dia aqui aportaram, há mais de 500 anos. Eles descobrirão outros significados para a frase: "Este é um país em que se plantando tudo dá".
Sem ufanismo, mas com os pés bem fincados no chão, faço essa minha profissão de fé:
Temos diante de nós um evento planetário que poderá ser uma vigorosa oportunidade de mostrar ao mundo que o melhor do Brasil é o brasileiro. E olha que temos belezas naturais e artísticas inigualáveis como nossas praias, florestas, rios, planícies, pantanal, música, culinária, e uma história há muito marcada pela total ausência de guerras. Que sejamos Cidadãos do Mundo e recebamos de braços abertos todos os que vierem à nosso país para através dos jogos, nos conhecer, gente que virá maciçamente de outros países e continentes, gente que virá de uma a outra região do próprio país.
Que compreendamos que somos todos humanos e temos um destino comum a partilhar. E que nós, brasileiros, somos naturalmente hospitaleiros, alegres e de natureza pacífica, respeitamos a diversidade, as várias religiões, as muitas ideologias, e também amamos os esportes, e dentre estes, em particular, o futebol. Deixemos de lado a política porque esta faz parte da agenda de outro evento - as eleições em outubro. Esta é, antes de ser a Copa do Mundo, a Copa do Brasil. E podemos tornar esses dias algo assim de extraordinário.
Aproveitamos a chance de sermos felizes.
A Copa é um excelente momento para isto.
https://www.brasil247.com/blog/aproveitamos-a-chance-de-sermos-felizes
12 de maio de 2014
Há algo de podre na vinda do jornalista dinamarquês Mikkel Jensen ao Brasil
É bom que ele não volte mesmo. Ao menos com esses olhos parados no ultrapassado paradigma é melhor não vir. Evita assim de replicar ignorância com fartas doses de preconceito
O que pensar de um jovem que dedica alguns meses de sua vida a uma viagem ao Brasil para cobrir o mais festejado de todos os eventos esportivos do mundo?
Bem, em rápido exercício mental, imagino ser um felizardo. E é bafejado pela sorte porque deixa para trás seu pequenino torrão natal, com população de apenas 5.580 mil habitantes, estando aí incluídos 10,4% de imigrantes vindos da Turquia, Iraque, Somália, marcado por diferentes tons de cinza ao longo do ano, com uma população francamente de meia idade e onde as principais políticas públicas tratam de incentivar os jovens a terem filhos.
Mas esse nórdico, apresentando-se sempre como jornalista independente, decide vir ao Brasil cobrir a Copa 2014 e, um megaevento que abarca 12 diferentes cidades-sede, escolhe Fortaleza. Até aí nada demais, afinal o que não falta em Fortaleza são as características maiores do povo brasileiro: hospitalidade, modernidade urbana, culinária exuberante, beleza naturais singulares.
Mas ao sair de Copenhague com destino a Fortaleza com mais de três meses do dia em que será ouvido o apito dando início oficial à primeira partida do mega torneio, sem ter dedicado um par de dias para conhecer o Rio de Janeiro, sede do mais festejado – e cheio de história – estádio de futebol do mundo, o mítico Maracanã, chega a ser completa miopia jornalística. Nessa linha, bem poderíamos perguntar ao dinamarquês porque não dedicou uma semana para conhecer as cidades-sedes do sul, com suas belas arenas em Curitiba e em Porto Alegre ou então, passando tanto tempo em Fortaleza, porque não ir a Natal ou ao Recife, distantes apenas 40 minutos de voos ou 7 horas de carro.
Tivesse um pouco mais de visão jornalística e um temperamento um pouco mais aventureiro, não se entende porque optou por privar seu possível leitorado dinamarquês das características marcantes de duas outras cidades-sedes do mundial – Brasília e Manaus. Mas não. O interesse de Mikkel Jensen foi apenas mais daquele mesmo olhar que o colonizador ao longo dos séculos costuma lançar sobre suas colônias. O olhar arrogante de quem acostumou o espelho a lhe mirar como suprassumo de civilidade e ao que lhe é diverso como obra inacabada, imperfeita e com tudo a ser feito e construído, partindo sempre do zero.
E é nessa postura do mais chamativo nariz empinado que Jensen parece viver em outra realidade, algo paralelo, mais cheio de passado que de presente e futuro. Desconhece, ou faz questão de se firmar no autoengano, que o mundo mudou e com ele mudou ainda mais o Brasil.
Somos uma das sete maiores economias do mundo. Atravessamos olimpicamente a crise que se abateu sobre a sua Europa e aos Estados Unidos nos anos 2008/2010 e enquanto muitos de seus vizinhos geográficos como o Reino Unido e a Espanha amargavam taxas de desemprego superiores a 26,7% ao mês, enquanto a Grécia, 27,1% celebrado berço da civilização ocidental cristã testemunhava diariamente compatriotas de Sócrates e Platão se imolando em praça pública, com as finanças arruinadas e sempre a um passo de ser expulsa da sua Comunidade Europeia, o Brasil festejava, mesmo com o constante mau humor da grande imprensa nacional, a criação de uma formidável e pujante nova classe média, elevando a condição socioeconômica de formidáveis 26 milhões de brasileiros, contingente antes encastelado naquela linha tênue que separa pobreza de miséria, e também podendo ostentar as mais baixas taxas de desemprego do planeta, com a de fevereiro deste 2014 em exatos 5,1% ao mês.
É que Jensen parece não ter feito o dever de casa com o apuro necessário a um bom jornalista: como ir a um país sem um bom plano de cobertura, levantamento e checagem de dados, reconhecimento do terreno, atenção às características sociais, econômicas e culturais sobre o qual pretende escrever? E foi isso que aconteceu.
Veio ao Brasil com a agenda dos século 20, aquela em que estrangeiros aqui chegavam através do antigo Galeão carioca (hoje Aeroporto Internacional Tom Jobim) e de lá seguiam para conhecer aquelas pobres e coloridas e construções "empilhadas" por sobre os morros da Rocinha, Borel, Chapéu-Mangueira, Alemão. Por que essa era a visão do Brasil que hipnotizava as retinas gringas – uma forma de mostrar sua superioridade cultural e econômica e demonstrar quão vitoriosos eram seus "ganhos" civilizatórios.
E então o gringo retorna ao 'podre reino de sua Dinamarca', imortalizada na literatura universal exatamente por essa podridão denunciada por William Shakespeare através de seu emblemático príncipe Hamlet, deitando falação contra o Brasil, denunciando massacre de crianças pobres na periferia de Fortaleza, tratando como engodo pesados investimentos em obras de infraestrutura – rodovias, aeroportos e estádios e desabafando no mais puro estilo adolescente entediado – "não volto mais ao Brasil, foi uma viagem decepcionante!". E é bom que não volte mesmo. Ao menos com esses olhos parados no ultrapassado paradigma é melhor não vir. Evita assim de replicar ignorância com fartas doses de preconceito.
Foi-se o tempo em que, governantes à frente, festejava-se esse nosso arraigado "complexo de vira-latas", de eterno "país do futuro" deitado eternamente em berço esplêndido e povoado massivamente por gente indolente e néscia, incapaz de escrever sua própria história. Mas seria imprudente afirmar que Mikkel Jensen perdeu sua viagem ao Brasil. Soa mais factível que, estando aqui, o descendente dos vikings se tenha contagiado com o ofício de boa parte de seus colegas da grande imprensa, esses que, parecem incansáveis em validar a nova imagem que o país desfruta, com suas muitas conquistas sociais e este momento que tudo tem de "futuro hoje".
Por que para nossos similares nacionais de Mikkel Jensen o Brasil sediar uma Copa do Mundo é de uma desfaçatez descomunal e, apenas dois anos depois, em 2016, sediar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro é rematada tolice de 'nação que, nascida para tamanco, jamais chegaria a ser sapato'.
Isto, para ficarmos com o famoso ditado lusitano, afinal, foi graças ao golpe de sorte de havermos sido descoberto pelos portugueses que mantemos, cinco séculos depois, toda a nossa imensa extensão geográfica e, acima de tudo, desfrutamos uma única e mesma unidade linguística – esse patrimônio maior e imaterial que é a língua portuguesa.
16 de abril de 2014
Gushiken: ideais elevados e pés firmes no chão
Se existiu alguém que, em nossa história política recente, transcendeu em muito os verbos a que todos nós estamos sujeitos: nascer, viver, morrer, esse alguém foi ele
Neste 13 de março, completam-se seis meses que em São Paulo iniciava sua última jornada Luiz Gushiken, o China, o Gushi da Libelu, o aguerrido samurai. E se existiu alguém que, em nossa história política recente, transcendeu em muito os verbos a que todos nós estamos sujeitos: nascer, viver, morrer, esse alguém foi ele.
A diferença marcante entre Luiz Gushiken e os demais contemporâneos é a qualidade de vida que ele escolheu viver: seu protagonismo na construção de um novo Brasil, um país que precisava antes de tudo se reencontrar com o estado de direito, a democracia e as liberdades. E ele fez isso e muito mais. Criou o ambiente para termos reaceso de forma inexorável o orgulho de ser brasileiro, tantas vezes escondido, tantas vezes envergonhado.
Mas quem foi este filho de emigrantes japoneses? Procurei um equilíbrio entre um resumo biográfico factual e um com aspectos humanistas. Porque o China era assim: tinha os pés bem firmes no chão e a cabeça tantas vezes pairando sobre as nuvens, tão encharcado estava de esperanças que somente o Brasil de seus sonhos poderia realizar.
Luiz Gushiken é brasileiro, filho do fotógrafo e violinista Shoei Gushiken, que emigrou da ilha japonesa de Okinawa para o interior paulista nos anos 60. Passou sua infância na cidade pacata de Oswaldo Cruz, com 20 mil habitantes, a 570 quilômetros de São Paulo.
Dono de uma biografia invejável, foi estudante de filosofia, funcionário do Banespa e fez carreira como sindicalista, mas formou-se em administração pela Fundação Getúlio Vargas.
Ainda rapazote, contando apenas 14 anos, imberbe ainda, começa a trabalhar como ajudante e contínuo em uma pequena fábrica local. E desse suor juvenil, provinha parte da renda familiar necessária a ajudar a criação dos irmãos mais novos. Eram tempos difíceis. Tempos em que o Brasil era o país eternamente localizado no futuro, um Brasil arcaico, rural e, gigantesco tanto em suas riquezas quanto em suas mazelas, tragédias sociais.
Em 1967, Gushiken muda-se para São Paulo e mantém assim a tradição de sua geração: despede-se da cidade do interior para estudar e trabalhar no grande centro urbano.
Em 1970, contando meros 20 anos, demonstra sua grande paixão pelo conhecimento, pela cultura. Tem interesses os mais diversificados. E estes o levarão a se aprofundar nas áreas da filosofia, administração, ciência, espiritualidade. Desde muito novo ele percebe que "o conhecimento é um ponto, mas os ignorantes o multiplicaram. Neste ano, Gushiken assiste aulas de administração na Fundação Getúlio Vargas pela manhã e à noite, cursa Filosofia na USP.
Em 1970 também, presta concurso público e ingressa nos quadros do Banespa.
Nesse mesmo 1970, ainda com 29 anos, trava a primeira luta pela saúde ao retirar células cancerígenas que lhe enfermam o corpo. É submetido a um pesado tratamento radioterápico.
Os anseios por justiça social, por salários dignos, jornada de trabalho adequada irá marcar primeiros anos como bancário.
Em 1979, já inteiramente mergulhado no movimento sindical, passa a integrar a diretoria do Sindicato dos Bancários de São Paulo.
E assim tem início uma luta sem tréguas, hercúlea, seja contra a longeva ditadura militar que sequestrara o Brasil de seu povo, seja contra o poderio econômico, elitista e burguês que, já naquela época entronizava como centro de sua devoção o insaciável Deus Mercado. É um tempo em que mais vale ter que ser, mais vale possuir bens materiais que bens culturais.
No governo Geisel, Gushiken foi militante da tendência Liberdade e Luta (conhecida como Libelu), braço estudantil da trotskista Organização Socialista Internacionalista (OSI).
Luiz Gushiken teve também papel fundamental na presidência do Sindicato dos bancários, na década de 80. Mostrou como um sindicato pode ser atuante e politicamente ativo na defesa de sua categoria. Ele enfrentou a classe mais poderosa de nosso país: os banqueiros.
Em 1980, fundou o Partido dos Trabalhadores juntamente com Lula e se tornou presidente do Diretório Nacional do PT de 1988 a 1990.
Foi deputado federal por três legislaturas, de 1987 a 1999, e coordenador das campanhas presidenciais de Lula em 1989 e 1998.
Em 1998 desiste de se candidatar novamente, consegue eleger Ricardo Berzoini como seu sucessor e atua como coordenador da terceira campanha presidencial de Lula.
Sofre um ataque cardíaco em 2001. É aberto, então, um novo campo de lutas. A luta pela saúde, a luta pela vida, ano a no, mês a mês, e depois, dia a dia.
Em fevereiro de 2002, nova luta com a saúde: descobre novo câncer e faz a extração total do estomago. A cirurgia tem complicações e sofre uma septicemia, perdendo 20 quilos em 7 dias.
Em junho desse mesmo ano, porém, é coordenador-adjunto da vitoriosa campanha presidencial de Lula. Novamente é imprescindível dar eco a essas palavras do Lula sobre Gushiken:
"Em 2002, ainda se recuperando de problemas de saúde, você veio para a campanha presidencial por minha insistência e foi um dos responsáveis por nossa vitória com idéias memoráveis..."
Nessas últimas três décadas esteve ao lado do amigo e companheiro de lutas sindicais, Luiz Inácio Lula da Silva, e juntos fundaram o PT e a CUT (Central Única dos Trabalhadores).
Um pouco antes da campanha de 2002, passou por graves problemas de saúde. Um câncer lhe retirou boa parte do estômago, mas Lula não desistiu do amigo e disse:
"Eu boto uma enfermeira ao teu lado e acertamos só dois dias de trabalho semanal no comitê".
O guerreiro topou o desafio – e foi fundamental na campanha vitoriosa.
Para colocar em alto relevo suas qualidades de amizade, companheirismo e hábil estrategista que tanto lhe caracterizaram é oportuno conhecer esse breve depoimento do presidente Lula. Ele escreveu o seguinte:
"...me recordo de sua longa contribuição em momentos tão importantes da nossa trajetória. Não apenas nas vitórias. Você tem sido companheiro de todas as horas e nunca vou me esquecer de sua tranqüilidade nas piores derrotas. Sua visão de longo prazo sempre nos alimentou de um otimismo estratégico. Sabíamos que nossa luta seria vitoriosa e que precisávamos acumular e acumular, com a paciência nipônica que você sempre nos transmitia..."
Gushiken é um dos signatários da "Carta aos Brasileiros", documento que acalmou o mercado e lançou as bases de uma serena transição na economia.
Ao amigo fiel tece elogios e diz: "Lula sempre foi paz e amor. Um radical não teria construído um partido tão amplo e complexo como o PT", lembra Gushiken.
Com efeito, Gushiken torna-se Ministro do Governo Lula em 2003 e, na condição, de Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação e, lança a mais formidável campanha de resgate da autoestima jamais vista em um país. É a campanha: "O melhor do Brasil é o brasileiro", "Sou brasileiro e não desisto nunca".
Consegue a proeza de angariar apoio da classe empresarial, de suas instâncias econômicas, envolve a classe artística e dá vazão a esse sentimento há muito represado: ser brasileiro é ser feliz e é fonte de orgulho.
Em sua gestão à frente da SECOM, o guarda-chuva da comunicação oficial é tremendamente democratizado e centenas de veículos de comunicação, notadamente de cunho regional e mesmo local, sai de sua histórica invisibilidade.
É designado Ministro-Chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, pensa o Brasil até 2022, época em que celebraremos o nosso Segundo Centenário da Independência, 1822-2022.
Gushiken é reputado por muitos como um refinado pensador. Mas como não escreveu livros, é reduzido o número dos seus admiradores que nele reconhecem tais qualidades de humanista em movimento.
Em 2005, é vítima da maior infâmia que pode atingir um homem público. Tem seu nome atrelado pela imprensa ao escândalo político conhecido como "mensalão". A mídia passa a acusá-lo semanalmente durante os seguintes 7 anos e veículos de imprensa sempre referem-se a ele como "condenado". É um tempo de tristeza, amargura e muita dor. Seu nome é objeto de difamação reles, de calúnias baixas, nem sua esposa e seus três filhos são poupados. O preço a pagar por quem não transige com a honra, com princípios éticos e morais, é imenso.
Em 2008, Gushiken sofre novo princípio de infarto e em 2010, com a doença do câncer já em estado metastático, passa por nova cirurgia de 9 horas para retirada de vesícula, parte do diafragma, parte do fígado e partes do intestino.
Mas o samurai está longe de entregar os pontos.
Em outubro de 2012, após 7 anos e 2 meses de incansável acusação pública, é absolvido por unanimidade pelo STF de todas as acusações.
Descobre-se, entre outras evidencias jurídicas, que o Ministério Público deliberadamente negou acesso, durante o curso do processo, a documentos que atestavam sua inocência. Não há qualquer reparação pela mídia.
A mesma fúria acusatória, a mesma virulência do persistente e sórdido ataque à sua honorabilidade não se verificará. O estrago foi feito. O crime, que lhe fora falsamente imputado, terminou se consumando, sendo ele acusado, julgado e condenado pela imprensa.
E, mesmo sem qualquer processo judicial, cumpre sua dolorosa pena por longos e terríveis 7 anos e 2 meses: Gushiken é o inocente levado ao cadafalso das calúnias vis, é o cidadão que tem sua honra pisoteada com requintes de rara crueldade por não menos que 469 semanas ou 3.285 dias consecutivos.
Com a mesma altivez com que viveu a vida, enfrentou a morte, falecendo em São Paulo em 13 de setembro de 2013, aos 63 anos de idade.
As cerimônias fúnebres compareceram dezenas de autoridades, dentre os quais a presidenta da República Dilma Rousseff, o ex-presidente da República e amigo de longas décadas, Luiz Inácio Lula da Silva, além de senadores, deputados, governadores, prefeitos, dirigentes sindicais e muitos, muitos admiradores.
Com sua determinação, engajamento, dedicação às causas justas e, mais que tudo, amor ao Brasil, Luiz Gushiken foi peça fundamental nas conquistas sociais e econômicas que o Brasil teve nesses últimos 30 anos.
https://www.brasil247.com/blog/gushiken-ideais-elevados-e-pes-firmes-no-chao
07 de março de 2014,
STF: arena de egos incandescentes e de donos da verdade
Encaminhando-se para seu desfecho final, a Ação Penal 470 deixa atrás de si longo rastro de imperfeições, imensas clareiras de subjetividades levadas a extremo, enormes interrogações
Dentro do STF, o ministro Joaquim Barbosa há muito vem sendo reconhecido por seu perfil desagregador. Perfil facilmente conquistado por sua ojeriza a ouvir críticas e qualquer forma de reparo à sua atuação como ministro do STF que, aliado a sua opção de tratar com o fígado o que melhor seria ser tratado com o cérebro, o deixou isolado dentro da Corte.
E um juiz do STF quando se vê isolado na Corte onde atua é facilmente seduzido por posturas monocráticas, autoritárias e ditatoriais como contraponto a não se sentir aceito pelos pares e, agora na função de presidente, usa e abusa de seu poder, esticando a corda ao máximo possível e sempre confiante que cabe aos demais a tarefa – inglória, diga-se – de manter um possível bom nome que a Corte tem desfrutado ao longo de sua história.
Play Video
Não conseguindo angariar o respeito de renomados juristas do país e nem ao menos a simpatia de metade dos integrantes da Corte sobrou a Joaquim Barbosa buscar a fugidia legitimidade concedida pelos meios de comunicação, veículos que têm sua própria agenda e credo ideológico.
E quanto mais Barbosa nada de braçada no mar de intrigas e maledicências que, com inaudita eficácia, atraiu para seu entorno, mais se sente impelido a produzir conflitos. Conflitos por ele criados com o intuito de desmerecer e desqualificar seus colegas do STF, como veremos mais adiante, e conflitos que se avolumam por onde passa, seja em férias no exterior ou não, seja adquirindo imóvel no exterior ou não, seja em sua recusa de receber advogados em audiências ou a expelir desaforos a presidentes de entidades representativas de advogados.
Em meio a recentes informações vazadas para a imprensa por seu colega Marco Aurélio Melo dando conta que Joaquim Barbosa estaria analisando a possibilidade de se candidatar à presidência da República, no dia 11/2/2014 o presidente do STF ultrapassou todos os limites ao revogar decisões monocráticas do ministro Ricardo Lewandowski, tomadas durante suas férias na Europa com direito a diárias pagas pelo STF. E agindo assim fez ouvidos de mercador ao próprio regimento interno da suprema corte.
É que no artigo 317 do regimento do STF. nenhuma decisão tomada por outro ministro de forma monocrática pode ser revogada também de maneira individual por meio de agravo de instrumento. Isso somente ocorreria em decisão das turmas ou mesmo do plenário do Supremo Tribunal Federal. A possibilidade de um ministro derrubar uma decisão de outro, por meio de agravo, só poderia ser admitida, conforme o regimento interno, após a opinião do ministro que tomou a decisão originária, o que não aconteceu neste caso.
JB tem estado sempre com os nervos à flor da pele, do contrário não desacataria seus colegas da Corte com tantas e tão variadas grosserias e leviandades. Valho-me de um artigo que aqui escrevi em para melhor ilustrar o jeito folgado, desabrido e francamente destemperado exibido pelo ministro Joaquim Barbosa:
* 15 de agosto de 2008, espinafrando o ministro Eros Grau por haver concedido Habeas Corpus para Humberto Diaz, braço direito do banqueiro Daniel Dantas:
"Como é que você solta um cidadão que apareceu no Jornal Nacional oferecendo suborno?", perguntou Joaquim.
Eros respondeu que não havia julgado a ação penal, mas se havia fundamento para manter prisão preventiva. Joaquim retrucou dizendo que "a decisão foi contra o povo brasileiro". Em outro round, depois que Joaquim Barbosa deu Habeas Corpus para garantir a Daniel Dantas o direito de não se auto-incriminar em uma Comissão Parlamentar de Inquérito, Eros, em tom de gozação, comentou que esse HC repercutira mais que o dele. JB enfureceu-se. A partir daí, o exercício de pancadaria verbal foi longe. Joaquim só não agrediu Eros porque foi contido. Ele chamou o colega de velho caquético, colocou sua competência em questão, disse que ele escreve mal "e tem a cara-de-pau de querer entrar na Academia Brasileira de Letras". Eros retrucou lembrando decisões constrangedoras de JB que a Corte teve de corrigir e que ele nem encontrava mais clima entre os colegas. O clima azedou a ponto de se resgatar o desconfortável boletim de ocorrência feito pela então mulher de JB, tempos atrás: "Para quem batia na mulher, não seria nada estranho que batesse em um velho também", afirmou.
No dia seguinte, Joaquim Barbosa ao encontrar Eros Grau na sala de lanches do STF, disse elevando o tom de voz: "O senhor é burro, não sabe nada. Deveria voltar aos bancos e estudar mais." "Isso penso eu e digo porque tenho coragem. Mas os outros ministros também pensam assim, mas não têm coragem de falar. E também é assim que pensa a imprensa".
* 22 de abril de 2009, em sessão plenária do STF, lancetando Gilmar Mendes:
"Vossa Excelência está destruindo a Justiça deste país e vem agora dar lição de moral a mim? Saia à rua ministro Gilmar, saia à rua, faz o que eu faço", disse. O presidente então disse que está na rua, no que foi rebatido duramente por Barbosa. "Vossa Excelência não está na rua não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do Judiciário brasileiro". O ministro ainda pediu respeito a Mendes, dizendo que ele não estava falando com seus "capangas do Mato Grosso".
*20 de abril de 2012, em sessão de despedida do ministro Cesar Peluso do STF:
Joaquim Barbosa atribuiu a Peluso informações plantadas na imprensa sobre suas dores na coluna – numa atitude que classificou como "supreme bullying" (sic). Disse ainda que Peluso era "pequeno", "brega" e não apaziguou o tribunal, mas "incendiou o Judiciário inteiro com a sua obsessão corporativista".
Ele acusou Peluso de manipular julgamentos "inúmeras vezes", "criando falsas questões processuais" para não proclamar resultados contrários ao seu pensamento. Lembrou, como exemplo, as "horas de discussões inúteis" sobre a Ficha Limpa, quando Peluso votou duas vezes no mesmo caso. Barbosa acusou o colega também de cometer "a barbaridade e deslealdade" de aproveitar uma viagem sua aos Estados Unidos para "invadir" sua seara – ele era relator do processo.
Perguntado se Peluso deixava algum legado, Barbosa atacou: "Nenhum. A não ser deixar a imagem de um presidente do STF conservador, imperial, tirânico, que não hesita em violar as normais quando se tratava de impor à força sua vontade."
*5 de agosto de 2012, logo nos primeiros minutos do julgamento da AP-470, quando o ministro revisor, Ricardo Lewandowski, votava favoravelmente ao desmembramento do processo pedido pela defesa foi abruptamente interrompido pelo ministro relator, Joaquim Barbosa:
"Me causa espécie vossa excelência se pronunciar pelo desmembramento do processo quando poderia tê-lo feito Há seis ou oito meses. É deslealdade".
* 28 de setembro de 2012, espinafrando Marco Aurélio:
"Se o Collor não fosse presidente, com certeza, o seu primo o Ministro Marco Aurélio Mello não seria... deixa para lá, vocês entenderam.
"Um dos principais obstáculos a ser enfrentado por qualquer pessoa que ocupe a Presidência do Supremo Tribunal Federal tem por nome Marco Aurélio Mello. Para comprová-lo, basta que se consultem alguns dos ocupantes do cargo nos últimos 10 ou 12 anos."
"Ao contrário de quem me ofende momentaneamente, devo toda a minha ascensão profissional a estudos aprofundados, à submissão múltipla a inúmeros e diversificados métodos de avaliação acadêmica e profissional. Jamais me vali ou tirei proveito de relações de natureza familiar".
Ao longo de 2013 inúmeras foram as altercações de Barbosa, diversos os desaforos proferidos contra seus colegas em debates no plenário, ocasiões em que o STF poderia deixar patente ante a Nação - uma vez que estas sessões são transmitidas ao vivo pela TV Justiça para todo o país – como é realizado julgamento em nosso mais elevado foro jurídico, julgamento que altera substancialmente o rumo de vidas, julgamento que pode ou não subtrair de qualquer cidadão brasileiro o acesso ao mais fundamental dos direitos humanos – o direito à liberdade, o direito de ir e vir, o direito de usufruir de todas as benesses que tão somente o estatuto da Cidadania pode conferir e outorgar a um seu nacional, seja nato, seja naturalizado.
Agora, encaminhando-se para seu desfecho final, a Ação Penal 470 deixa atrás de si longo rastro de imperfeições, imensas clareiras de subjetividades levadas a extremo, enormes interrogações quanto à quimera que pode ser a luta por uma Justiça justa. É o momento de julgar os embargos infringentes, requerido por vários dos condenados e conferidos pela Suprema Corte.
Novamente, o país tem diante de si espetáculo de truculência inaudita protagonizado pelo ministro-presidente Joaquim Barbosa: demonstra à larga sua intransponível dificuldade para enfrentar pensamentos, opiniões, ideias e teses divergentes da que esposa, atropela com sutileza de bulldozer alemão a serenidade com ministros se esforçam para proferir o seu voto, ministros cujos votos têm o mesmo peso e valor que o voto do próprio ministro-presidente.
Neste dia 26 de fevereiro de 2014, durante a apresentação equilibrada, professoral, serena, e paciente do voto do ministro Luis Roberto Barroso, observamos embasbacados o comportamento da presidência da Corte:
1. Joaquim Barbosa interrompe duas vezes o ministro Barroso que profere o voto e, nestas, retruca de forma ríspida e rude;
2. Barbosa volta a intervir durante o voto do colega: "Isso é manipulação";
3. "É muito fácil fazer discurso político", volta a interromper Barbosa, insinuando que o ministro age da forma como boa parte dos mais renomados juristas brasileiros reputam como modo de proceder do ministro Barbosa;
4. "O sr. fez um rebate da decisão do Supremo", insiste o presidente da corte, censurando com voz colérica o direito comezinho de qualquer dos demais 10 ministros do Supremo, qual seja, o direito de atuar dentro do marco legal e votar contrariando decisão antes esposada pela Corte;
5. "Isso é inaceitação do outro", definiu Barroso o vitupério de Barbosa, com fleugma de teólogo dominicano, absolutamente sem perder a calma, atributo que desde sempre lhe é de todo peculiar;
6. "Eu darei provimento aos embargos", disse a ministra Carmen Lúcia, com a lhaneza de voz e de gestos que lhe é característica, em apoio a Barroso;
7. "Não sejamos hipócritas", disse Barbosa, atalhando novamente vez o voto de Barroso;
8. "V. Excelência não está deixando o colega votar", reclama Dias Toffoli; - "Mas ele está adiantando o resultado", retrucou Barbosa, a título de justificativa do comportamento insólito;
9. "Só porque o sr. discorda?", devolve Toffoli a Barbosa;
10. "Considero, com todas as vênias de quem pense diferentemente, que houve uma exacerbação nas penas aplicadas de quadrilha ou bando", conclui inalterável ante a contrariedade visceral expressa por um Joaquim Barbosa absolutamente descompensado, para dizer o mínimo.
11. Carmem Lúcia, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski atalham o presidente solicitando que a sessão se extenda por não mais que 15 minutos e assim o assunto seja inteiramente concluído ainda nesta data, evitando a convocação de sessão extraordinária da Corte para o dia seguinte;
12. Joaquim Barbosa bate o pé, voltando a declarar que "a sessão está encerrada".
E assim é concluído mais um triste exemplo de como não deve ser sessão de julgamento do Supremo Tribunal Federal brasileiro.
Arena de egos incandescentes e de donos da verdade, espaço onde a vaidade humana prolifera qual plantação de cogumelos e praga ede gafanhotos no Egito antigo, o Supremo Tribunal Federal jamais será o mesmo depois de Joaquim Barbosa. E levará um bom tempo para se recuperar dos conflitos, rompantes e desavenças e desafetos por ele gerados e nutridos com raro zelo e maestria.
O temperamento, digamos mercurial, do ministro do STF Joaquim Barbosa coloca em xeque algumas premissas há muito consagradas no direito brasileiro.
Sobriedade de magistrado é uma destas.
E a pergunta que melhor galvaniza o presente momento no imaginário dos que frequentam o meio jurídico brasileiro é esta:
- "Será que o STF sobreviverá à presidência de Joaquim Barbosa?"
https://www.brasil247.com/blog/stf-arena-de-egos-incandescentes-e-de-donos-da-verdade
27 de fevereiro de 2014
Torço para termos uma Copa fantástica
Muitas coisas boas ficarão no país. E destas, os 12 estádios/arenas modernos e belíssimos serão apenas alguns parcos detalhes
Desde antes de 2007 torci para que o Brasil sediasse a Copa neste 2014 e o Rio as Olimpíadas de 2016. Continuo torcendo para que sejam eventos super coroados de sucesso.
Não sou ingênuo para acreditar que os R$ 8 bi gastos com os 12 estádios seriam suficientes para acabar com a pobreza, a miséria, a seca no NE, transformar os hospitais brasileiros em sucursais nota dez do Sírio Libanês ou do Einstein e, menos ainda, compro a manipulação tosca que entende que um país só pode ter Copa e Olimpíadas se não houver neste mais pobreza ou transporte público capenga. Afinal o que representa R$ 8 bi se em outubro de 2013 o Produto Interno Bruto do Brasil já era superior a inéditos R$ 2,19 trilhões?
Play Video
Semana passada a Fifa deu um susto no Paraná, que se esmera em não concluir a arena da Baixada e foi um corre-corre. Governo, prefeitura de Ctba, ONGs, sindicatos, todos se apressarão em afiançar que a bela capital paranaense não aceitava ser excluída da Copa. E então?
Os protestos têm mais é um forte viés partidário, ideológico e muitas vezes (mas não 100%) replicam um sentimento de elite muito perturbado pelas mudanças na base da pirâmide social brasileira.
Basta aprofundar um pouco sobre o perfil dos que posam de "#NãoVaiTerCopa". Integram um pacotaço: são contra o ProUni, o Mais Médicos, o Bolsa Família, as Cotas para acesso de negros e índios nas universidades públicas, cadeira do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, contra a transposição das águas do velho Chico para acabar com a seca que infelicita parte do país. E POR AÍ VAI.
É a galera "mimimi". 2014 não será o fim do mundo. E como todos os anos, também passará. Muitas coisas boas ficarão no país. E destas, os 12 estádios/arenas modernos e belíssimos serão apenas alguns parcos detalhes.
A propósito nessa semana sairão dois novos artigos meus bem no clima raso do fla x flu do momento. Contra os 'black blocs'. E a favor das manifestações, desde que pacíficas. Os dois, novamente, para ser coerente, são favoráveis à Copa.
A beleza da democracia é o respeito ao diverso, ao contraponto, à pluralidade de pensamento, né?
https://www.brasil247.com/blog/torco-para-termos-uma-copa-fantastica
25 de fevereiro de 2014
