Nações e multilateralismo
A Pérsia que continua caminhando dentro do povo
Um olhar poético e jornalístico sobre o Irã que existe além das manchetes e que a memória divina não abandona


O que hoje se ergue nas ruas do Irã não é um súbito desejo de ruptura, tampouco uma inclinação para o caos. É o cansaço acumulado de uma vida que deixou de ser vida. A moeda se esfarela nas mãos, o trabalho já não compra dignidade, a palavra virou risco e o silêncio foi decretado virtude obrigatória.
Esperar tornou-se suspeito. Sonhar, delito. Ainda assim, o Irã permanece. Porque o Irã não começou com esta crise, nem terminará com ela.
Essa permanência não nasce da teimosia, mas da profundidade histórica. Antes de ser Estado, o Irã foi civilização. Chamou-se Pérsia quando o mundo ainda aprendia a organizar o poder e a nomear a justiça. Foi ali que Ciro, o Grande (c. 600 a.C.–530 a.C.), gravou em argila uma ideia revolucionária: povos distintos podiam coexistir com respeito, a fé não precisava de espada, governar não era esmagar. Nenhum regime apaga cinco milênios de memória.
Pode desligar a internet, mas não desliga a história. Pode calar vozes, mas não silencia a poesia.
É justamente na poesia que a identidade persa aprendeu a se proteger. Ferdowsi (c. 940–1020), ao escrever o Shahnameh, salvou a língua quando tudo conspirava para sua dissolução. Rumi (1207–1273) deslocou o conflito do campo da força para o da consciência ao lembrar que, além das ideias de certo e errado, existe um campo onde a humanidade ainda pode se encontrar. Hafiz (1315–1390), com sua lucidez embriagada, ensinou que o poder teme mais um verso verdadeiro do que um exército armado. Cada geração iraniana aprendeu a sobreviver escondendo liberdade na metáfora.
Essa sensibilidade não ficou restrita aos livros. Ela moldou cidades inteiras. Isfahan, com suas cúpulas de turquesa e caligrafias infinitas, parece ter sido desenhada para lembrar que o céu também pode ser arquitetura. Yazd domou o deserto com torres de vento, provando que inteligência e beleza caminham juntas. Persépolis, mesmo em ruínas, continua falando de um império que compreendia a grandeza como harmonia, não como medo imposto.
Quando meus olhos se voltam para o Irã — meu coração, teimosamente, insiste em permanecer em Shiráz — fico boquiaberto com as conquistas desse povo na longa noite dos tempos.
Enquanto europeus e americanos ainda se balançavam nas árvores, como naquela comédia sobre o casamento grego, Aristóteles e Platão já caminhavam pela Acrópole filosofando sobre a vida; e, do outro lado do mundo, Rumi contemplava o céu estrelado de Shiráz e escrevia versos que ouvidos humanos jamais tinham escutado. A história, às vezes, tem um senso de humor refinado.
O mesmo refinamento aparece à mesa, onde a história se serve em silêncio. O arroz perfumado com açafrão, o ghormeh sabzi preparado com paciência ancestral, o fesenjan, onde romã e nozes equilibram acidez e doçura — tudo ali é tempo, cuidado e memória.
Cozinhar sempre foi um gesto político discreto: preservar sabores quando tentam padronizar a alma. E, diante de uma xícara de chá persa em casa de amigos, qualquer tipo de estranheza se desfaz: somos folhas e ramos de uma mesma árvore, somos ondas de um mesmo mar.
Não surpreende, portanto, que essa terra tenha produzido mentes que iluminaram séculos. Avicena (980–1037) redefiniu a medicina quando a Europa ainda buscava seus fundamentos científicos. Al-Biruni (973–1048) mediu a Terra com precisão admirável. Omar Khayyam (1048–1131) reformou o calendário e escreveu quartetos que continuam interrogando o sentido da existência. O Irã sempre pensou, calculou, observou estrelas e corpos, mesmo quando o dogma tentou impor cegueira.
Essa herança intelectual sempre caminhou lado a lado com a palavra poética como refúgio moral. Há versos que atravessam séculos como se fossem escritos para este instante. Hafiz (1315–1390) sussurra que “mesmo depois de todo este tempo, o sol nunca diz à terra: você me deve”, lembrando que a generosidade é a verdadeira medida do poder. Attar de Nishapur (c. 1145–1221), em A Conferência dos Pássaros, ensinou que a travessia é interior, que aquele que se reconhece atravessa desertos sem perder a alma. São palavras que sustentam um povo quando o chão político desaba e a esperança precisa aprender a respirar em silêncio.
A essa tradição se soma a voz de Bahá’u’lláh (1817–1892), que, nas Palavras Ocultas, oferece uma ética sem violência e sem medo: “Ó filho do espírito! Meu primeiro conselho é este: possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna.” Não é um chamado à submissão, mas à dignidade humana como fundamento da vida coletiva.
Estou convencido de que, quando o Irã se levanta, ele o faz ancorado nessa herança ética e espiritual.
Por isso, o que hoje se move no Irã não é apenas revolta; é lembrança. Um povo que se recorda de quem é torna-se indomável. Impérios vieram com fogo — gregos, árabes, mongóis — e todos passaram. A língua ficou. A poesia ficou. A identidade ficou. Governos caem. Civilizações permanecem.
A nós, jornalistas, acadêmicos, escritores e pacifistas, cabe não o silêncio, mas o reconhecimento: admirar a civilização persa e ser testemunhas dos valores morais e espirituais que ela carrega na construção paciente de um outro mundo possível, tecido com paz, dignidade e unidade. Porque o Irã não é este governo. O Irã é o seu povo — antigo, ferido, erguido — e ele se lembra.
E mesmo que, um dia, o povo persa venha a esquecer parte do que sofreu, mesmo que o tempo suavize as memórias mais duras, ainda assim restará um consolo supremo: nenhuma dor foi invisível, nenhum sofrimento passou despercebido. Deus não esqueceu nenhuma de suas lágrimas, nenhum de seus pesares, nenhuma das noites atravessadas em silêncio.
A história humana pode falhar na justiça, mas a memória divina permanece inteira.
https://www.brasil247.com/blog/a-persia-que-continua-caminhando-dentro-do-povo
A China real começa onde os estereótipos terminam
Durante décadas, clichês substituíram dados, história e realidade, projetando ansiedades ocidentais, num país complexo, raramente estudado com seriedade
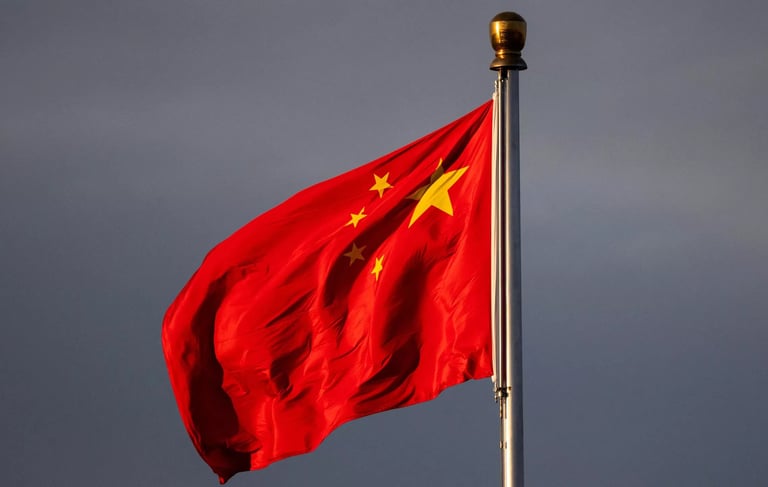

Durante meio século, parte expressiva do Ocidente cultivou um hábito confortável: falar da China sem estudá-la. Criou-se um vocabulário automático — ameaça, cópia, massa obediente, regime opaco — repetido como mantra por políticos, colunistas e comentaristas que raramente se dão ao trabalho de investigar dados, história ou vida cotidiana.
Não se trata de ignorância casual, mas de preguiça intelectual sistemática, aquela que transforma preconceito em opinião e estereótipo em análise. Esse vício não é neutro. Ele desumaniza. Ao reduzir 1,4 bilhão de pessoas a uma caricatura funcional — “eles” —, o discurso estereotipado autoriza o desprezo moral e dispensa o rigor factual.
Tudo o que a China faz vira suspeito por definição. Se cresce, é “ameaça”. Se inova, é “cópia”. Se planeja, é “conspiração”. Esse padrão não descreve a China; denuncia a pobreza analítica de quem o utiliza.
Os números, porém, não se deixam intimidar por slogans. Desde 1978, quando se iniciam as reformas econômicas, o crescimento médio anual do PIB chinês girou em torno de 9% a 10% por várias décadas, segundo o Banco Mundial. Isso não é um detalhe estatístico: é uma transformação estrutural que alterou o comércio global, a logística, a indústria e o padrão de consumo de dezenas de países. Crescimento dessa magnitude não se sustenta com improviso, muito menos com “truques”.
Mais contundente ainda é o dado social que desmonta qualquer discurso desumanizante. O Banco Mundial registra que quase 800 milhões de chineses saíram da pobreza extrema entre o fim dos anos 1970 e 2020 — cerca de 75% de toda a redução da pobreza extrema no planeta nesse período. Não é retórica: é gente que passou a comer melhor, estudar, viver mais. Negar isso não é ceticismo; é cinismo social.
A melhoria material aparece de forma brutalmente objetiva na saúde. A expectativa de vida na China alcançou cerca de 78 anos em 2023, mais que o dobro da registrada em meados do século XX. Esperança de vida é um indicador implacável: ela resume saneamento, vacinação, renda, alimentação e acesso a serviços. Quem insiste em chamar esse resultado de “propaganda” está, na prática, negando a realidade empírica.
Outro clichê recorrente — o de que a China “só copia” — entra em colapso quando confrontado com ciência e inovação. Em 2023, o escritório chinês recebeu 1,68 milhão de pedidos de patentes de invenção, segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Isso representa mais de 40% dos pedidos globais. Patente não é medalha moral, mas é um termômetro claro de esforço inventivo.
Continuar repetindo “eles só copiam” diante desses números é má-fé intelectual.
O mesmo vale para infraestrutura, um tema tratado com desdém por críticos apressados. A China construiu, em poucas décadas, a maior rede de trens de alta velocidade do mundo, com cerca de 48 mil quilômetros em operação até 2024. No mesmo ano, investiu mais de 850 bilhões de yuans em ativos ferroviários. Para o leitor: yuan, também chamado de RMB (Renminbi), é a moeda oficial da China, assim como o dólar é dos EUA ou o euro da União Europeia. Nada exótico. Nada obscuro. Apenas economia real.
Obras como a ponte Danyang–Kunshan, com 164 quilômetros, ou o sistema Hong Kong–Zhuhai–Macao, com 55 quilômetros de extensão combinando pontes e túneis submarinos, não são “ostentação”. São engenharia em escala continental. Chamar isso de “excesso” antes de entender sua função logística é outra forma de desprezo disfarçado de crítica.
No campo tecnológico, a China também rompeu uma dependência histórica. O BeiDou — frequentemente citado sem explicação — é o sistema chinês de navegação por satélite, equivalente ao GPS dos Estados Unidos ou ao Galileo da União Europeia. Ele entrou em operação global em 2020 e hoje sustenta aplicações em transporte, agricultura de precisão, logística, defesa civil e telecomunicações.
Traduzindo: a China deixou de depender de sistemas estrangeiros para algo tão básico quanto localização e sincronização de dados. Isso é soberania tecnológica, não propaganda.
Na inteligência artificial, os dados são ainda mais incômodos para os estereotipados. O AI Index de Stanford aponta que a China respondeu por mais de 60% das patentes globais em IA em 2022. É legítimo discutir governança, privacidade e uso ético dessas tecnologias. O que não é legítimo é fingir que esse avanço não existe porque ele incomoda narrativas confortáveis.
Até no cotidiano, o preconceito falha. Em 2024, os sistemas de pagamento digital chineses processaram transações equivalentes a centenas de trilhões de yuans. A China tornou-se uma das sociedades mais avançadas do mundo em pagamentos móveis, integração digital e serviços urbanos. Isso muda hábitos, tempo de vida, organização social. Não é ideologia; é prática.
Por fim, o preconceito revela seu esgotamento cultural quando tenta explicar fenômenos como o TikTok apenas como manipulação geopolítica. Criado pela empresa chinesa ByteDance, o aplicativo tornou-se uma das plataformas culturais mais influentes do planeta. Pode — e deve — ser regulado. Mas reduzi-lo a caricatura é repetir o velho erro: confundir desconforto com análise.
O ponto central é simples e incômodo: os estereótipos contra a China dizem mais sobre as inseguranças do Ocidente do que sobre a China em si. Eles funcionaram por décadas como muletas cognitivas, evitando comparações, evitando autocrítica, evitando dados. Mas muletas não levam longe.
O povo chinês carrega uma rara continuidade civilizacional: aprende com o passado sem se aprisionar a ele. Forjou uma ética do esforço, do estudo e da paciência histórica, do confucionismo às ciências contemporâneas. Valorizou o coletivo sem anular o engenho individual, planejou séculos, construiu pontes e ideias, alfabetizou massas, salvou vidas, inovou tecnologias. Sua cultura combina disciplina e imaginação, resiliência e curiosidade, produzindo conquistas que atravessam dinastias, revoluções e futuros possíveis com rigor humano duradouro.
A exigência do nosso tempo é outra: pesquisa livre e independente da verdade, baseada em fatos, números e história — não em preconceitos herdados. Quem insiste em olhar a China apenas pelo espelho quebrado dos estereótipos não está fazendo jornalismo, nem análise, nem crítica. Está apenas defendendo a própria recusa em aprender e erguendo monumentos vazios a própria ignorância.
https://www.brasil247.com/blog/a-china-real-comeca-onde-os-estereotipos-terminam
Acordo ganha forma, mas ainda não sai do papel
O tratado entre União Europeia e Mercosul entra na fase mais delicada, sob risco de veto parlamentar e contestação judicial europeia


Um parto humano costuma durar cerca de nove meses, tempo suficiente para preparar o corpo, a expectativa e o risco. Um parto comercial entre dois blocos continentais obedece a outra lógica e a outra escala histórica. O acordo entre a União Europeia e o Mercosul levou 27 anos para chegar a este ponto — quase como se cada um dos 27 países sentados à mesa europeia tivesse exigido um ano inteiro de negociação, ajustes e concessões. Não se trata de lentidão burocrática, mas da própria natureza de pactos que envolvem soberanias, interesses nacionais e pressões políticas internas. A autorização concedida em 10 de janeiro de 2026 não equivale ao nascimento do tratado, mas às primeiras contrações claras de um processo longo, complexo e ainda vulnerável. O trabalho de parto começou, mas o desfecho permanece aberto.
Foi esse sinal que veio de Bruxelas quando os embaixadores dos 27 Estados-membros autorizaram a presidente da Comissão Europeia a assinar o acordo de livre comércio com os países do Mercosul. O gesto encerra simbolicamente um ciclo iniciado em 1999, mas não conclui o processo. Ao contrário, marca a entrada na fase mais sensível de todo o percurso: aquela em que o entusiasmo político passa a ser testado pelas engrenagens institucionais europeias.
O tratado cria a maior zona de livre comércio do mundo, reunindo entre 700 e 780 milhões de consumidores. Prevê a eliminação de tarifas sobre cerca de 91% das mercadorias e incide sobre um intercâmbio comercial que, apenas em 2024, alcançou aproximadamente 111 bilhões de euros.
Estimativas da Comissão Europeia indicam que, uma vez plenamente em vigor, o acordo poderá elevar esse volume de comércio de forma significativa ao longo da próxima década, com impacto acumulado de centenas de bilhões de euros em fluxos adicionais de bens, serviços e investimentos.
Do lado europeu, os estudos oficiais apontam para um aumento potencial de até 39% nas exportações para a América do Sul, com efeitos diretos sobre cadeias industriais, logística, energia e serviços. Para os países do Mercosul, a abertura gradual do mercado europeu representa não apenas ganhos comerciais imediatos, mas também maior previsibilidade regulatória, atração de investimentos e integração a cadeias globais de maior valor agregado.
Dito isso vemos que o efeito econômico do acordo não se limita a tarifas, vai além, projeta-se como estrutural e de longo prazo.
A celebração, contudo, exige cautela. No sistema europeu, a autorização para assinatura representa maturidade política, não validade jurídica. A assinatura é um compromisso internacional, não a entrada em vigor do acordo. Esse detalhe explica por que governos comemoram hoje um tratado que ainda pode levar meses — ou anos — para produzir efeitos concretos na economia real.
O próximo teste ocorre no Parlamento Europeu. É ali que o acordo enfrentará seu debate mais ruidoso. Deputados de diversos países levantam preocupações com o impacto sobre agricultores europeus, com a suficiência das cláusulas ambientais e com a capacidade real de fiscalização das regras acordadas. A resistência é liderada pela França, acompanhada por países onde o setor agrícola tem peso econômico e político significativo.
Uma rejeição total não é o cenário mais provável, mas o risco de atraso é real. O Parlamento é fragmentado, sensível a pressões internas e atravessado por disputas ideológicas. Mesmo uma eventual aprovação pode ocorrer por margem estreita, condicionada a compromissos políticos adicionais destinados a reduzir a oposição doméstica.
Superada essa etapa, o acordo ainda pode enfrentar um freio jurídico. Estados-membros ou grupos parlamentares podem recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia para questionar a compatibilidade do tratado com o direito comunitário. O tribunal não decide com base em conveniência política, mas em legalidade. Pode apontar falhas de competência, inconsistências regulatórias ou fragilidades nas salvaguardas ambientais.
Um parecer desfavorável não anula o acordo por vontade política, mas pode impedir sua aplicação até que ajustes sejam feitos. Na prática, isso significa atrasos prolongados, renegociações técnicas e a possibilidade concreta de esfriamento do impulso econômico que hoje sustenta o entusiasmo diplomático.
A divisão em torno do tratado revela um dilema mais amplo. Parte da Europa vê no acordo uma ferramenta estratégica para diversificar mercados, reduzir dependências externas e reafirmar o multilateralismo. Outra parte teme os efeitos sobre setores sensíveis, metas climáticas e a própria autonomia regulatória do bloco.
O acordo entre União Europeia e Mercosul, portanto, é mais do que um tratado comercial. Tornou-se um teste institucional sobre como a Europa decide, ratifica e legitima compromissos econômicos de grande escala.
A verdade mesmo, o que há de factual é que essa autorização para assinatura representa um avanço histórico após quase três décadas de negociações, mas não garante o desfecho.
Como em todo parto longo, o momento mais crítico vem depois das primeiras contrações. O nascimento ainda não ocorreu. E até que ele aconteça, o acordo continuará exposto a vetos, atrasos e disputas capazes de redefinir — ou comprometer — um projeto que promete movimentar cifras históricas, mas que ainda precisa atravessar o mais difícil dos caminhos: o da legitimidade política e jurídica plena.
https://www.brasil247.com/blog/acordo-ganha-forma-mas-ainda-nao-sai-do-papel
Shoghi Effendi tem a leitura mais lúcida do colapso contemporâneo
Em meio a guerras, radicalizações e crises sistêmicas, a obra de Shoghi Effendi oferece chaves intelectuais raras para compreender a exaustão do modelo político atual
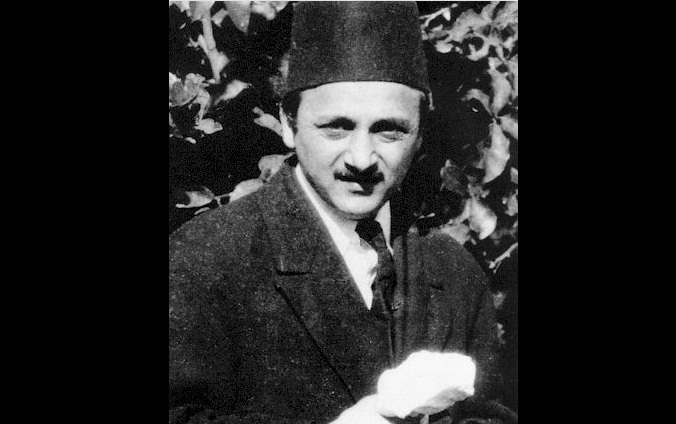
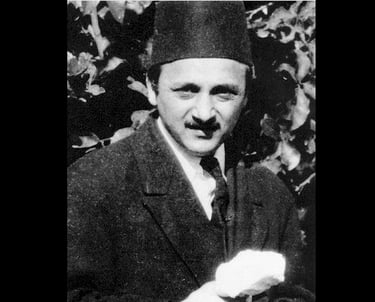
O nosso tempo já não admite ambiguidades confortáveis. O mundo perdeu o direito à ingenuidade política. Não existem mais periferias seguras nem conflitos distantes capazes de serem ignorados sem custo. Crises armadas, colapsos institucionais e radicalizações ideológicas deixaram de ser episódios regionais para se tornarem manifestações de um sistema global em fratura. A História apertou o cerco: tudo acontece perto, tudo cobra preço alto, tudo exige posicionamento.
Essa aceleração dos acontecimentos já havia sido identificada com notável clareza por Shoghi Effendi (1897-1957), ao observar que “os acontecimentos do mundo estão se desenrolando de forma perturbadora e com rapidez desconcertante; o turbilhão das paixões humanas tornou-se veloz e alarmantemente violento; as nações estão sendo gradualmente enredadas nas crises recorrentes e nas controvérsias ferozes que afligem a humanidade”. Trata-se menos de uma previsão pontual e mais de um diagnóstico estrutural do nosso tempo.
É justamente para compreender esse ponto de inflexão que suas reflexões ganham atualidade. Sua leitura do século XX não foi impressionista nem retórica. Partiu da observação precisa de sistemas políticos em desgaste, de impérios em mutação e de uma humanidade empurrada para a interdependência sem o correspondente amadurecimento moral. Ao olhar para os conflitos do seu tempo, não descreveu apenas eventos, mas identificou padrões que hoje se repetem em escala ampliada.
Ao antecipar um mundo atravessado por crises recorrentes e tumultos políticos, Shoghi Effendi não cedeu ao fatalismo. Indicou que somente a cooperação entre povos, o diálogo franco sobre o poder e a aceitação consciente da unidade humana poderiam sustentar um novo ordenamento civilizatório. Para ele, a unidade não era ideal abstrato nem consolo espiritual, mas exigência funcional diante do colapso de modelos baseados na fragmentação, na força e na competição permanente.
Esse diagnóstico ajuda a compreender o esgotamento de uma lógica antiga. A soberania absoluta, exercida como licença para agir sem consequências externas, tornou-se anacrônica. No cerne dessa tensão está aquilo que ele descreveu como “uma ordem política fundada na doutrina obsoleta da soberania absoluta, em flagrante desacordo com as necessidades de um mundo já reduzido a uma vizinhança”, cujas provações acabam por “purgar concepções anacrônicas e preparar os povos para formas mais elevadas de organização coletiva”.
O século avança enquanto parte da política insiste em respostas herdadas de um mundo que já não existe — um mundo em que fronteiras funcionavam como escudos e oceanos como garantias. Hoje, essas proteções simbólicas ruíram, mas a mentalidade que as sustenta persiste, alimentando decisões míopes e instabilidade crônica.
É nesse descompasso que a violência retorna. Não como exceção apenas trágica, mas como instrumento recorrente de governos incapazes de lidar com interdependência, diversidade e limites. Quando o poder se recusa a reconhecer vínculos, passa a produzir instabilidade como método, não como acidente. A força substitui a política, e o improviso ocupa o lugar da estratégia.
Há, portanto, uma falha ética profunda no centro da crise contemporânea. Não por acaso, Shoghi Effendi advertiu que “as perturbações das quais o mundo hoje sofre irão se multiplicar, e a sombra que o envolve se tornará mais densa, enquanto perigos imprevisíveis e jamais imaginados ameaçam as nações por dentro e por fora”. A instabilidade deixa de ser surpresa e passa a ser consequência previsível.
O mundo não sofre por falta de recursos, mas por excesso de poder mal orientado e pela ausência de critérios éticos capazes de conter sua própria brutalidade. Onde a ética recua, a barbárie reaparece com linguagem técnica e aparência de normalidade.
Ainda assim, a História não se move apenas em linha de ruína. Ela avança por processos simultâneos e contraditórios. Como ele observou, “o mundo atravessa um processo simultâneo de desintegração e reorganização; estruturas antigas estão sendo gradualmente corroídas, enquanto novas formas de associação internacional começam a emergir sob intensa pressão histórica”. Esses movimentos opostos caminham lado a lado e moldam o curso dos acontecimentos globais.
Nenhuma sociedade permanece fora desse campo de forças. A ciência encurtou oceanos, a economia dissolveu fronteiras e a tecnologia transformou crises locais em choques globais instantâneos. A ilusão do isolamento ruiu. Participar do mundo deixou de ser escolha moral e passou a ser condição objetiva de sobrevivência política. A alternativa à cooperação não é autonomia, mas vulnerabilidade crescente.
Há uma imagem simples que ajuda a compreender esse momento histórico. Imagine uma longa estrada construída por várias comunidades, cada uma responsável apenas pelo trecho que passa diante de suas casas. Durante anos, cada vila cuidou do próprio pedaço, certa de que os buracos mais adiante não eram problema seu. Quando surgiam rachaduras no asfalto distante, diziam tratar-se de falhas alheias. Com o tempo, os danos se acumularam, os trechos começaram a ceder e a estrada inteira tornou-se praticamente intransitável. Uns culparam a chuva, outros o excesso de tráfego, outros o acaso. Apenas um observador percebeu o essencial: não era possível manter um trecho em boas condições se o caminho inteiro estava sendo abandonado. A estrada era uma só — e sua ruína também.
O século chegou a esse ponto. Ou se reconhece que a estrada é comum, que o destino é compartilhado e que a reconstrução exige coordenação, ética e coragem política, ou continuaremos chamando de fatalidade aquilo que é, na verdade, escolha consciente. Persistir na lógica da força não é sinal de realismo. É optar, com lucidez assustadora, pela continuidade do colapso.
Fim de uma era: Pequim corta financiamento indireto ao déficit americano
Retirada chinesa de mais de US$ 500 bi em títulos dos EUA revela limites fiscais de Washington diante de déficits persistentes


Durante décadas, a águia americana voou alto, alimentada pelo crédito do mundo, enquanto o dragão chinês crescia em silêncio, acumulando força no chão. Agora, a águia sente o peso das próprias asas, carregadas de dívida, e o dragão, sem atacar, recolhe o alimento que oferecia. Não há choque no ar, apenas a mudança do equilíbrio entre voo e terra, poder e paciência, que redefine silenciosamente o jogo global atual.
Não se trata de imagem poética deslocada da realidade, tampouco de alegoria gratuita. O que os números mostram, de forma objetiva, é que a relação financeira entre China e Estados Unidos entrou em uma fase distinta. A redução contínua da exposição chinesa à dívida pública americana não é episódica nem ideológica.
Trata-se de uma decisão técnica, repetida mês após mês, que já se tornou estrutural e carrega implicações diretas para o funcionamento do sistema monetário internacional.
Em 2013, no auge do ciclo de expansão do comércio global, Pequim mantinha cerca de 1,32 trilhão de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Era o maior credor externo de Washington, posição conquistada ao longo de anos de superávits comerciais e reciclagem sistemática de dólares. Uma década depois, esse estoque caiu para a faixa de 760 a 800 bilhões de dólares, segundo dados oficiais. A redução acumulada ultrapassa meio trilhão de dólares — uma mudança de escala que não pode ser tratada como ajuste marginal.
Para compreender o alcance desse movimento, é necessário voltar à arquitetura monetária construída no pós-guerra. A centralidade do dólar, consolidada a partir de 1944, sobreviveu ao fim do padrão-ouro porque oferecia liquidez, previsibilidade institucional e um mercado de títulos profundo o suficiente para absorver reservas globais.
Durante décadas, esse sistema funcionou porque os grandes detentores de dólares acreditavam que seus ativos estavam protegidos de interferências políticas diretas. Viram, nos últimos anos, que não estavam, e as placas tectônicas do poder financeiro global começaram a se mover. Estamos apenas no início.
Essa percepção começou a se deteriorar quando o sistema financeiro passou a ser usado de forma explícita como instrumento de coerção geopolítica. O congelamento de aproximadamente 300 bilhões de dólares das reservas russas após a invasão da Ucrânia representou um ponto de inflexão. A mensagem foi clara: ativos soberanos denominados em dólar não são politicamente neutros. A partir desse momento, a gestão de reservas deixou de ser apenas uma decisão financeira e passou a incorporar, de forma central, o risco geopolítico.
Para a China, que administra reservas internacionais em torno de 3,2 trilhões de dólares, essa mudança de contexto exigiu resposta. Não houve venda abrupta dos títulos americanos, o que desvalorizaria os próprios ativos ainda em carteira. Houve, em vez disso, uma redução gradual da exposição e uma diversificação deliberada das reservas, preservando liquidez e minimizando impactos de mercado.
Essa diversificação se materializa de forma concreta na política de ouro. Entre 2022 e 2024, o Banco Popular da China adquiriu oficialmente mais de 300 toneladas do metal, elevando suas reservas para cerca de 2.260 toneladas. Em valores atuais, isso representa algo próximo de 150 bilhões de dólares. Parte das compras ocorre fora dos canais de reporte imediato, o que sugere que o volume real pode ser ainda maior. Não se trata de nostalgia monetária, mas de busca por um ativo fora do alcance de sanções e decisões unilaterais.
O movimento chinês se insere em uma tendência mais ampla. Em 2022, os bancos centrais compraram 1.082 toneladas de ouro, o maior volume anual desde a década de 1960. Em 2023, as aquisições permaneceram acima de 1.000 toneladas. Países emergentes, produtores de energia e economias fora do eixo tradicional do Ocidente passaram a reavaliar, de forma simultânea, a composição de suas reservas.
Em paralelo, Pequim acelerou a redução do uso do dólar em seu comércio exterior. Em 2010, menos de 5% das transações internacionais chinesas eram liquidadas em moeda local. Em 2024, esse percentual ultrapassou 25%. O avanço ocorreu por meio de acordos bilaterais, swaps cambiais e maior uso do yuan em contratos de energia e commodities, diminuindo a dependência operacional do sistema financeiro americano.
O desenvolvimento de sistemas alternativos de pagamento e compensação segue a mesma lógica. Eles não substituem as infraestruturas dominantes do sistema global, mas funcionam como redes de redundância. Em um ambiente internacional mais fragmentado, reduzir pontos únicos de falha tornou-se prioridade estratégica, não gesto simbólico.
Apesar disso, não há base factual para a narrativa de colapso iminente do dólar. A moeda americana ainda responde por cerca de 58% das reservas globais, sustenta o maior mercado financeiro do planeta e continua sendo o principal meio de liquidação do comércio internacional. O estoque de dívida negociável dos Estados Unidos supera 27 trilhões de dólares e ainda encontra demanda relevante.
O problema central, porém, não é de confiança retórica, mas de aritmética fiscal. Os Estados Unidos operam com déficits anuais superiores a 1,5 trilhão de dólares e uma dívida pública total acima de 34 trilhões. Esse passivo precisa ser rolado continuamente. Quando grandes credores externos deixam de ampliar posições, o ajuste ocorre por juros mais altos ou por maior intervenção do banco central.
Entre 2020 e 2022, o balanço do Federal Reserve saltou de 4 trilhões para quase 9 trilhões de dólares para sustentar o mercado de títulos, evidenciando a tensão entre política monetária e financiamento fiscal.
Nesse contexto, a redução chinesa da dívida americana não anuncia o fim do dólar, mas encerra uma ilusão confortável: a de que o sistema pode operar indefinidamente sem custos crescentes. A centralidade monetária depende da disposição de terceiros em financiar déficits alheios. Quando essa disposição diminui, mesmo lentamente, o centro do sistema perde margem de manobra.
Quando este período for analisado no futuro, a queda de mais de 500 bilhões de dólares na exposição chinesa aos títulos do Tesouro provavelmente não será lembrada como gesto hostil nem como ruptura dramática. Será registrada como um marco técnico e político: o momento em que a principal potência emergente do século decidiu que financiar o núcleo do sistema deixou de ser automático.
Não houve anúncio, não houve espetáculo, não houve choque. Houve números.
E, na economia internacional, quando os números mudam de direção, o poder costuma seguir logo depois.
O que eles esperam em 2026 — Krugman, Friedman, Žižek e Sachs
Mais que previsões, os sinais já visíveis de um mundo que chega a 2026 menos ingênuo, mais tenso e perigosamente adaptado ao improviso político global


Não é comum que economistas, filósofos e analistas geopolíticos tão distintos convirjam no diagnóstico de um mesmo horizonte histórico. Mas é exatamente isso que ocorre quando se lê, em sequência, as reflexões recentes de Paul Krugman, Thomas L. Friedman, Slavoj Žižek e Jeffrey Sachs. Vindos de tradições intelectuais diversas, publicados em plataformas igualmente diferentes — de newsletters autorais a fóruns globais de opinião —, eles desenham, cada um à sua maneira, um mesmo ponto de chegada: 2026 não será apenas mais um ano do calendário, mas um marco de exaustão política, econômica e moral.
O que se esgota não é apenas um ciclo econômico ou um mandato presidencial. O que entra em colapso silencioso é a crença de que o mundo ainda opera sob ajustes automáticos, correções graduais e consensos minimamente estáveis. As previsões para 2026, lidas em conjunto, formam um retrato inquietante: instituições cansadas, sociedades polarizadas, guerras prolongadas, tecnologia acelerada e uma perigosa normalização do improviso.
Paul Krugman, agora escrevendo com mais liberdade fora do New York Times, tem sido talvez o mais contido — e, por isso mesmo, o mais revelador. Em seus textos recentes, ele evita o alarmismo fácil. Não fala em colapso iminente nem em crise financeira clássica. Sua previsão para 2026 é mais sutil e mais corrosiva: uma erosão progressiva da confiança pública, especialmente nos Estados Unidos. Para Krugman, o problema central não será a inflação em si, nem o crescimento do PIB, mas a sensação difusa de que os números “não conversam” com a vida real. Custos de moradia, saúde, educação e energia continuarão pressionando a política, mesmo que os indicadores macroeconômicos sugiram estabilidade.
Krugman aponta ainda um risco pouco debatido: o impacto político do boom da inteligência artificial sobre o emprego qualificado e sobre a política monetária. A promessa de produtividade convive com ansiedade social, e essa tensão tende a se manifestar com força nas eleições de meio de mandato de 2026. Sua previsão é clara: não será um ano de rupturas espetaculares, mas de desgaste acumulado, aquele tipo de desgaste que mina governos e abre espaço para soluções simplistas.
Thomas L. Friedman, por sua vez, observa 2026 a partir do tabuleiro global. Em entrevistas e ensaios publicados fora de sua coluna regular, ele sustenta que o mundo caminha para uma fase de pragmatismo cru, quase cínico. A ideia de uma ordem liberal guiada por valores universais perde força, substituída por alianças funcionais, temporárias e negociadas caso a caso. Para Friedman, 2026 será o ano em que as potências deixarão de fingir que compartilham um mesmo projeto civilizatório.
Nesse cenário, conflitos como o do Oriente Médio, a guerra prolongada no Leste Europeu e a rivalidade sino-americana deixam de ser “crises”, no sentido clássico, e passam a ser condições estruturais. Friedman não prevê uma explosão global, mas um mundo permanentemente tenso, em que líderes se especializam mais em administrar riscos do que em construir futuros. O resultado é um sistema internacional menos ideológico, porém também menos confiável, no qual a improvisação se torna política de Estado.
É Slavoj Žižek, como era de se esperar, quem leva esse diagnóstico às últimas consequências simbólicas. Em seus textos recentes no Project Syndicate e em sua newsletter, o filósofo esloveno sugere que 2026 pode marcar a consolidação de um novo “normal” autoritário, ainda que sem ditaduras explícitas. Crises climáticas, escassez de água, emergências sanitárias e guerras prolongadas criam o ambiente perfeito para a suspensão contínua de direitos em nome da sobrevivência coletiva.
Žižek não fala em golpe clássico nem em retorno aos totalitarismos do século XX. Sua previsão é mais perturbadora: o autoritarismo do cotidiano, aceito sem choque, incorporado à rotina administrativa. Estados passam a decidir quem pode circular, consumir, migrar ou protestar com base em algoritmos, emergências e exceções permanentes. Para ele, 2026 será menos o ano do choque e mais o ano da resignação. O mundo seguirá funcionando — mas com menos ilusões sobre democracia, liberdade e escolha.
Jeffrey Sachs, por fim, oferece a leitura mais frontal e mais normativa. Em artigos recentes publicados fora da grande imprensa tradicional, Sachs trata 2026 como um prazo-limite. Seus textos falam abertamente em bifurcação histórica. Ou a comunidade internacional avança até lá em acordos concretos — especialmente em controle nuclear, clima e governança global —, ou entrará numa década de instabilidade sistêmica.
Sachs chama atenção para um dado pouco presente no debate público: a expiração ou fragilização de tratados estratégicos entre 2025 e 2026, especialmente na área nuclear. A ausência de novos acordos, combinada com a proliferação tecnológica e a deterioração da confiança entre potências, cria um ambiente propício a erros de cálculo. Para ele, 2026 pode ser lembrado como o ano em que o mundo escolheu a inércia — e pagou por isso.
Apesar das diferenças de tom e método, há convergências evidentes entre os quatro autores. Todos rejeitam a ideia de que 2026 será um ano de “retorno à normalidade”. Todos percebem que as instituições estão mais frágeis do que aparentam, mesmo quando seguem operando formalmente. E todos apontam, direta ou indiretamente, para a substituição de grandes projetos por gestão contínua de crises.
As divergências, contudo, são igualmente instrutivas. Krugman aposta no desgaste gradual; Friedman, no pragmatismo sem ilusões; Žižek, na normalização da exceção; Sachs, na urgência de decisões estruturais. Juntos, eles não oferecem uma profecia fechada, mas um alerta multifacetado: o mundo de 2026 exigirá mais lucidez e menos autoengano.
Talvez o traço mais inquietante dessas previsões seja justamente a ausência de surpresa. Não há aqui o anúncio de um evento cataclísmico único, mas a descrição de um processo em curso, visível, quase banal. O risco não está no imprevisto, mas na acomodação. Se 2026 marcará o fim de algo, não será o fim da história, mas o fim da ingenuidade. E isso, como a história costuma ensinar, é sempre um momento perigoso — e decisivo.
https://www.brasil247.com/blog/o-que-eles-esperam-em-2026-krugman-friedman-zizek-e-sachs
E se Jesus tivesse nascido em Gaza?
Do jugo romano sobre Belém antiga ao controle militar israelense em Gaza, a história revela como impérios repetem métodos de dominação


Há mais de dois mil anos, Belém era uma vila pobre submetida ao jugo do Império Romano. Soldados vigiavam ruas estreitas, censos, impostos esmagavam famílias, e o medo organizava a vida cotidiana. Foi nesse cenário de dominação e penúria que um casal deslocado, Maria e José, percorreu portas fechadas até que uma manjedoura improvisada, entre animais, se tornasse abrigo. O nascimento celebrado pelo cristianismo não ocorreu no centro do poder, mas à margem dele. Não havia lugar para eles nas estalagens — havia controle, vigilância e exclusão
A força dessa narrativa não reside apenas na dimensão religiosa, mas na sua perturbadora atualidade.
O Natal nasce como denúncia silenciosa: a vida insistindo em existir quando a ordem estabelecida decide que não há espaço para os frágeis. O presépio é, antes de tudo, uma cena política. Ele expõe um sistema incapaz de acolher quem não produz, quem não “serve”, quem não se encaixa no fluxo normalizado do mundo.
Hoje, a cerca de 70 quilômetros dali, Gaza devolve essa imagem em chave trágica e contemporânea. Antes da guerra iniciada em outubro de 2023, o território abrigava cerca de 2,3 milhões de pessoas; desde então, estimativas apontam para uma população em torno de 2,1 milhões, não porque a vida tenha encolhido, mas porque foi interrompida, ferida, arrancada de seus lugares. Quase toda essa população foi deslocada ao menos uma vez, muitas vezes repetidamente, numa geografia onde a ideia de “lar” se tornou provisória, frágil, desmontável.
Quando se fala em Gaza, os números costumam falhar por excesso de hábito: viram estatística, painel, argumento. Mas eles carregam um peso moral incontornável. Indicam a escala de uma vida coletiva empurrada para fora de si. Hospitais atingidos, bairros reduzidos a escombros, famílias inteiras em deslocamentos sucessivos, crianças nascendo em tendas improvisadas, sem água potável, eletricidade ou medicamentos. Em vez de discutir apenas “zonas”, “alvos” e “operações”, a pergunta decisiva permanece intocada: onde está o lugar humano quando tudo o que deveria protegê-lo se converte em risco?
Belém, por sua vez, é hoje uma pequena cidade com cerca de 30 mil habitantes, inserida num Estado altamente militarizado, onde a presença constante de forças armadas e controles rígidos molda o cotidiano. O turismo definha, a economia local encolhe, e o Natal acontece em tom contido, quase sussurrado. A cidade onde nasceu o símbolo maior da esperança cristã celebra cercada por um mundo em convulsão.
É nesse ponto que o Natal deixa de ser rito e se torna pergunta moral.
Não há coerência em celebrar a manjedoura enquanto se normaliza a morte de crianças como ruído inevitável do mundo. A espiritualidade, quando existe, não é fuga: é responsabilidade. É recusar a anestesia que transforma dor em abstração. É chamar as coisas pelo nome, não para inflamar ódios, mas para impedir que a linguagem seja cúmplice do apagamento.
E então a reflexão chega sem ornamento, como deve ser: e se Jesus tivesse nascido em Gaza nos últimos três anos?
Teria sobrevivido aos bombardeios? Em que rua haveria abrigo?
Em qual hospital haveria incubadora?
Teria havido tempo para o nome antes da sirene?
Essas perguntas não buscam efeito retórico; medem a distância entre a história que veneramos e o presente que aceitamos. Se o nascimento do Príncipe da Paz ocorreu entre portas fechadas e precariedade, o mínimo que se exige de nós é não transformar a precariedade alheia em paisagem distante, consumível, descartável.
Neste Natal, escolho estar atento e forte. Não confundo tolerância com conivência, nem silêncio com paz. Que a mesa seja simples, a palavra responsável e o gesto consequente. Que a esperança não seja ornamento, mas prática cotidiana. E que a alegria — se vier — nasça do compromisso com a vida inteira, indivisível e comum a todos, não somos todos “ondas de um mesmo mar, estrelas de um mesmo céu?”
https://www.brasil247.com/blog/e-se-jesus-tivesse-nascido-em-gaza
O homem que vigia o mundo nuclear
A New Yorker expõe como inspeções, relatórios e diplomacia calibrada sustentam a paz nuclear num planeta onde guerras cercam usinas e tratados enfraquecem


Leio há muitos anos, com certa regularidade, os principais artigos da revista The New Yorker, fundada em 1925 e desde então convertida em uma das colunas mestras da cultura intelectual norte-americana. Ao longo de um século, a revista não apenas acompanhou o seu tempo: ajudou a interpretá-lo, tensioná-lo e, muitas vezes, antecipá-lo. Foi ali que vozes como J. D. Salinger, Truman Capote e John Updike encontraram espaço para amadurecer uma escrita que cruzava literatura, jornalismo e pensamento crítico. Não é casual que seus textos circulem com igual peso em redações, universidades e centros de pesquisa. A New Yorker construiu uma tradição em que a reportagem longa não se limita a informar, mas organiza o mundo em camadas históricas, morais e políticas. É dentro desse legado — exigente, sofisticado e globalmente influente — que se insere o artigo de Robin Wright.
Em Going Nuclear Without Blowing Up (Algo como “Lidando com o nuclear sem provocar uma explosão”), Wright não escreve apenas sobre energia nuclear. Ela escreve sobre poder, fragilidade institucional e risco civilizatório. Ao acompanhar a rotina e as decisões de Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o texto revela um mundo em que a estabilidade global depende menos de grandes discursos e mais de inspeções técnicas, relatórios precisos e negociações conduzidas no limite da exaustão política e, em alguns casos, do perigo físico real.
Grossi surge como personagem central de uma era marcada pela erosão do multilateralismo. A AIEA foi concebida para um contexto de Guerra Fria, em que dois grandes blocos mantinham canais previsíveis de negociação e controle. O cenário atual é radicalmente distinto. Hoje, o risco nuclear não se concentra apenas nos arsenais declarados, mas na disseminação silenciosa de capacidades, no acúmulo opaco de material físsil e na combinação explosiva entre instabilidade política, conflito armado e infraestrutura nuclear sensível.
O episódio da usina de Zaporizhzhia, no coração da guerra entre Rússia e Ucrânia, ocupa lugar simbólico no artigo. Pela primeira vez na história, uma grande central nuclear se transforma em território disputado militarmente. Grossi e sua equipe atravessam zonas de combate para tentar preservar sistemas mínimos de segurança, conscientes de que um erro, um ataque mal calculado ou uma falha prolongada de energia poderia produzir uma catástrofe transnacional. Não se trata mais de prevenção técnica em tempos de paz, mas de contenção nuclear em ambiente de guerra aberta.
Robin Wright deixa claro que Grossi compreende algo essencial: a ameaça nuclear contemporânea não se resume à proliferação vertical, ao aumento do número de ogivas em países que já as possuem. O risco maior está na proliferação horizontal, na possibilidade de que múltiplos Estados alcancem rapidamente o limiar tecnológico necessário para produzir armas nucleares. Esse cenário, menos visível e mais difuso, é potencialmente mais desestabilizador do que as antigas corridas armamentistas.
O Irã aparece como um dos pontos mais delicados dessa equação. Sob a liderança de Grossi, a AIEA apontou falhas graves de transparência e inconsistências em declarações oficiais, sem afirmar a existência de um programa ativo de armas nucleares. Essa distinção, aparentemente técnica, é politicamente explosiva. Cada palavra de um relatório pode justificar sanções, negociações ou ações militares. Grossi atua, portanto, em um campo minado linguístico, onde precisão não é virtude acadêmica, mas instrumento de contenção geopolítica.
O texto também revela a solidão estrutural da AIEA. A agência depende da cooperação dos Estados que inspeciona, mas não dispõe de meios coercitivos. Pode verificar, relatar, advertir — mas não impor. Sua autoridade é técnica e moral, não militar. Em um sistema internacional cada vez mais fragmentado, essa limitação se torna evidente. Grossi reconhece, com discrição diplomática, que o sistema ONU sofre de um déficit crescente de capacidade executiva. As normas existem; o cumprimento, nem sempre.
Há, ainda, uma dimensão humana que a reportagem explora com inteligência. Grossi é apresentado como alguém disciplinado, metódico, fisicamente ativo, ligado à família e à vida comunitária. Não como adorno narrativo, mas como contraponto à carga psicológica de lidar diariamente com cenários de risco extremo. A gestão do perigo nuclear não é feita apenas por algoritmos, sensores e protocolos, mas por indivíduos capazes de resistir à pressão política sem ceder ao alarmismo nem à complacência.
Ao final da leitura, fica evidente que Going Nuclear Without Blowing Up é mais do que um perfil. É um retrato do nosso tempo. Um tempo em que a paz nuclear depende de detalhes invisíveis ao grande público, de relatórios técnicos lidos com lupa por chancelerias e comandos militares, de visitas feitas sob escolta armada a instalações que jamais deveriam estar em zonas de guerra. Rafael Grossi aparece menos como herói e mais como guardião de um equilíbrio precário, sustentado por instituições que resistem, apesar de tudo, ao desgaste do mundo contemporâneo.
É por isso que esse artigo importa. Ele não fala apenas de energia nuclear. Fala da fragilidade da ordem internacional, da sobrevivência do multilateralismo técnico e da fina linha que separa controle e colapso. A New Yorker, fiel à sua melhor tradição, não nos entrega respostas fáceis. Nos obriga a encarar a pergunta mais incômoda de todas: o que acontece quando a racionalidade técnica se torna a última barreira entre o mundo que conhecemos e o desastre que insistimos em flertar.
https://www.brasil247.com/blog/o-homem-que-vigia-o-mundo-nuclear
A Europa em queda livre
Estagnação econômica, dependência tecnológica e irrelevância diplomática empurram a Europa para um rebaixamento histórico


Michel Houellebecq nunca escreveu para consolar. Romancista francês conhecido por transformar o mal-estar ocidental em matéria literária, ele construiu, ao longo de três décadas, uma obra atravessada pela ideia de declínio. Em 2014, sintetizou seu diagnóstico com brutal clareza: “A França desistiu do progresso”. Para Houellebecq, a Europa não apenas envelheceu — transformou seus próprios cidadãos em turistas, espectadores dóceis de uma civilização cansada de si mesma e cada vez menos disposta a disputar o futuro
Hoje, essa leitura deixou de ser provocação literária e passou a funcionar como chave interpretativa do presente europeu.
O crescimento econômico do continente, já frágil há anos, aproxima-se perigosamente da estagnação. Até a Alemanha, motor industrial da Europa no pós-guerra, perde fôlego e previsibilidade.
O dinamismo europeu foi substituído por dependências estruturais difíceis de disfarçar: a tecnologia vem majoritariamente dos Estados Unidos; os minerais estratégicos e cadeias críticas passam pela China.
Qualquer analista minimamente imparcial há de concordar que a Europa produz menos futuro e administra melhor sua paisagem — convertida, com eficiência, em vitrine turística global.
Convém evitar caricaturas fáceis.
A União Europeia não precisa criar um Vale do Silício nem competir em escala demográfica com superpotências asiáticas.
Ainda assim, considero ser impossível ignorar o processo de “provincialização” do continente — conceito formulado por Hans-Georg Gadamer, um dos mais influentes filósofos alemães do século XX, para designar sociedades que perdem centralidade histórica sem perceber plenamente as consequências.
As negociações sobre a guerra na Ucrânia escancararam esse deslocamento: a Europa observa, acompanha, comenta — raramente decide. É como se o velho continente tivesse lutado pelo protagonismo para, neste 2025, ter que se contentar com a função de mero figurante.
Esse rebaixamento incomoda, mas não precisa ser vivido como tragédia civilizatória.
Um acerto de contas com o declínio europeu — econômico, político e cultural — pode produzir algo raro na política contemporânea: lucidez.
Depois de um século exercendo poder global com resultados ambíguos, talvez seja hora de abandonar a obsessão pela liderança permanente e aceitar uma condição menos grandiosa, porém mais honesta e sustentável. Querendo ou não, esta deve ser a única saída possível. Melhor perder os anéis mas conservar os dedos. O que vocês acham?
Ao menos Bruxelas já não opera sob negação absoluta. O reconhecimento mais explícito veio de Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu, figura central na preservação do euro após a crise financeira de 2008. Em relatório recente, Draghi listou falhas estruturais profundas: baixa produtividade, perda de competitividade, atraso tecnológico e incapacidade crônica de investimento estratégico. O diagnóstico é sólido; o receituário político que o acompanha, contudo, permanece tímido, fragmentado e excessivamente cauteloso.
As respostas políticas disponíveis pouco ajudam.
A extrema direita oferece isolamento identitário e fechamento de fronteiras como solução mágica para problemas estruturais.
O centro aposta em discursos genéricos sobre remilitarização e inovação tecnológica, quase sempre desconectados de uma estratégia industrial consistente.
A esquerda oscila entre denunciar o excesso de ambição europeia ou aceitar o recuo como destino histórico inevitável.
Falta o que o historiador britânico Eric Hobsbawm, referência mundial na análise das crises do capitalismo, chamou de uma verdadeira “política do declínio”: realista, estratégica, sem nostalgia imperial nem resignação confortável. E a expressão do velho ditado, repaginado ao avesso: a boca entortou o cachimbo, e não o contrário.
Internamente, isso exige romper com o fetiche da austeridade que domina a política econômica europeia desde os anos 1990. O historiador econômico Adam Tooze, professor da Universidade Columbia e uma das vozes mais respeitadas da análise macroeconômica global, foi mordaz ao definir os tecnocratas europeus como “o Talibã do neoliberalismo”.
Convenhamos: flexibilizar regras fiscais, coordenar investimentos e recuperar capacidade produtiva não é radicalismo ideológico — é pragmatismo tardio diante de um mundo que já mudou.
No plano externo, a promessa de autonomia em relação aos Estados Unidos revelou-se ilusória. A dependência apenas se aprofundou. Comprar armas, energia e tecnologia americanas em larga escala não recoloca a Europa na vanguarda industrial; apenas cristaliza sua posição subordinada em um sistema internacional que ajudou a desenhar, mas já não controla.
A soberania proclamada virou retórica; a dependência, prática cotidiana. Não conseguem resolver o problema da segurança do continente, e a guerra na Ucrânia mostra isso de forma contundente. Não conseguem nem mesmo fechar o maior acordo comercial do planeta, que seria aquele que se arrasta há 26 anos de tentativas frustradas para obter algum consenso entre a Europa e o Mercosul.
Reinventar-se exigirá pensamento heterodoxo, inclusive na relação com a China. A integração crítica tornou-se inevitável. A cooperação climática é indispensável, sobretudo porque Pequim lidera hoje grande parte da transição energética global. Submissão estratégica, porém, é inaceitável. Engajar-se com critérios claros, salvaguardas comerciais e interesses definidos é mais realista do que o confronto retórico vazio ou o alinhamento automático.
A experiência britânica serve como advertência histórica.
No pós-guerra, o Reino Unido — potência imperial em declínio — optou por alinhar sua política externa e econômica aos Estados Unidos, trocando autonomia por uma chamada “relação especial”.
Ganhou previsibilidade, perdeu margem de decisão.
A Europa não precisa repetir esse roteiro nem insistir em fantasias de grandeza tardia que já não encontram lastro material.
Em geopolítica e clima, o continente pode cumprir metas sem ser protagonista absoluto. Melhor buscar estabilidade estratégica — o “meio da tabela”, como dizem os ingleses no futebol — do que insistir em liderar um campeonato cujas regras mudaram sem pedir autorização a Bruxelas.
O problema europeu, no fundo, não é apenas econômico ou institucional. É histórico, cultural e mental.
Durante séculos, a Europa confundiu poder com virtude, domínio com civilização, centralidade com destino natural. Essa soberba produziu impérios, guerras e ruínas — e, mais recentemente, acomodação. O continente habituou-se primeiro a mandar, depois a aconselhar, agora a comentar.
E, enquanto não encarar, sem indulgência nem nostalgia, que o mundo já não gira ao seu redor, a Europa seguirá em queda livre: elegante, bem preservada, eficiente como museu vivo — e progressivamente irrelevante como força histórica.
O plano americano pressiona a Europa — o planeta, porém, clama por uma agenda de humanidade
Enquanto a Casa Branca exige mais gastos militares europeus, campos de refugiados crescem e a fome se alastra, lembrando que viver é mais urgente que vencer


O retorno do ouro ao centro do debate monetário internacional não é fruto de nostalgia nem de especulação retórica. É consequência direta de decisões políticas tomadas na última década — e aceleradas a partir de fevereiro de 2022, quando a Rússia foi parcialmente excluída do sistema SWIFT após a invasão da Ucrânia. A partir daquele momento, um recado ficou claro para dezenas de países: reservas em dólar e acesso à infraestrutura financeira ocidental deixaram de ser garantias técnicas e passaram a ser variáveis geopolíticas.
É nesse contexto que os países do BRICS, com destaque para China e Rússia, intensificaram a acumulação de ouro físico e a reorganização de seus mecanismos de comércio exterior. Dados do World Gold Council indicam que, entre 2020 e 2024, os bancos centrais compraram mais de 4.800 toneladas de ouro — o maior volume desde o fim do padrão-ouro — e mais de 50% dessas compras foram realizadas por economias emergentes, especialmente China, Rússia, Índia e países do Oriente Médio.
A China é hoje o maior produtor mundial de ouro, com produção anual estimada entre 360 e 380 toneladas. Pequim, no entanto, divulga apenas parte de suas aquisições oficiais. Em 2023 e 2024, o Banco Popular da China declarou compras modestas, enquanto relatórios de mercado e análises de fluxo sugerem volumes significativamente superiores adquiridos por canais estatais paralelos. O resultado é uma política deliberada de opacidade, que dificulta a mensuração exata das reservas, mas reforça sua função estratégica.
A Rússia segue trajetória semelhante. Antes das sanções, o Banco Central russo já vinha reduzindo sistematicamente sua exposição a títulos do Tesouro americano. Entre 2018 e 2021, Moscou praticamente zerou sua carteira de Treasuries e elevou a participação do ouro em suas reservas para patamares superiores a 20%. Mesmo com ajustes recentes para garantir liquidez interna, o metal permanece como ativo central de proteção contra bloqueios financeiros.
Quando se observa o conjunto ampliado do BRICS e países associados — incluindo África do Sul, Irã, Cazaquistão e Uzbequistão —, o peso estrutural se torna evidente. Esses países respondem por algo próximo de metade da produção física global de ouro, segundo estimativas consolidadas de mercado. Não se trata de controle formal, mas de capacidade de influência sobre a oferta real, em contraste com os mercados financeiros ocidentais, fortemente baseados em derivativos e contratos de papel.
O comportamento dos bancos centrais reforça essa inflexão. Em 2022 e 2023, as compras oficiais de ouro superaram 1.000 toneladas anuais, patamar que não era observado desde os anos 1960. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos mantiveram suas reservas estáveis em cerca de 8.133 toneladas, enquanto países europeus adotaram postura defensiva. A Alemanha, por exemplo, só conseguiu repatriar integralmente parte de seu ouro armazenado em Nova York e Londres após um longo processo iniciado em 2013, concluído apenas em 2017 — um episódio que alimentou questionamentos sobre soberania monetária.
O contraste com o final dos anos 1990 é revelador. Entre 1999 e 2002, o Reino Unido vendeu aproximadamente 395 toneladas de ouro sob autorização do então chanceler Gordon Brown. O preço médio girava em torno de US$ 275 por onça. Em 2025, o mesmo volume equivaleria a mais de US$ 50 bilhões. Não foi um erro isolado. O Acordo de Washington sobre o Ouro, assinado em 1999 por 15 países europeus, buscou conter vendas desordenadas após anos de desvalorização deliberada do metal.
O que mudou foi o ambiente político. O ouro voltou a cumprir uma função que o sistema financeiro global tentou neutralizar: servir como ativo fora do alcance direto de sanções, congelamentos e bloqueios unilaterais. Não por acaso, Rússia e China liquidam hoje a maior parte de seu comércio bilateral em yuan e rublo. A União Econômica Eurasiática faz o mesmo. A Índia avança com cautela, pressionada por déficits comerciais assimétricos, especialmente no setor energético.
É nesse cenário que surge o projeto conhecido como Unit. Não se trata de uma moeda única do BRICS, nem de um substituto imediato do dólar. Trata-se de um instrumento digital experimental de liquidação comercial, lastreado por uma cesta composta por cerca de 40% de ouro físico e 60% de moedas nacionais. O projeto-piloto foi apresentado em outubro de 2024 por um instituto ligado à Academia Russa de Ciências, com emissão simbólica inicial. Seu valor não está no volume, mas no sinal político.
A mensagem é inequívoca: o dólar não perdeu sua centralidade, mas perdeu exclusividade. O ouro, longe de representar um retorno ao passado, passou a operar como âncora de credibilidade em um sistema fragmentado. Para os BRICS, não é ideologia. É cálculo. Um ajuste estrutural diante de um mundo em que a moeda dominante deixou de ser neutra. E, quando a confiança se torna condicional, os Estados recorrem ao que não pode ser bloqueado com uma assinatura.
https://www.brasil247.com/blog/ouro-no-centro-do-experimento-monetario-dos-brics
O plano americano pressiona a Europa — o planeta, porém, clama por uma agenda de humanidade
Enquanto a Casa Branca exige mais gastos militares europeus, campos de refugiados crescem e a fome se alastra, lembrando que viver é mais urgente que vencer


A nova estratégia externa divulgada pelos Estados Unidos em 5 de dezembro de 2025 mira a Europa com bisturi afiado. O documento não adota meias-palavras: diagnostica uma Europa envelhecida, hesitante, acomodada em políticas sociais que teriam perdido eficiência diante de crises econômicas e migratórias. Oferece cooperação, mas condicionada a reformas profundas — mais gasto militar, menos dependência, integração produtiva e reação imediata ao risco de perda de competitividade global.
Em seu tom, ecoa o receituário clássico das grandes potências quando percebem que seu parceiro não acompanha o ritmo da História.
Washington — a capital, não este Washington que digita — espera uma Europa musculosa, disposta a pagar sua parte na OTAN e a parar de fingir que o guarda-chuva americano é brinde de hotel cinco estrelas. Há, no texto, algo de advertência e algo de estratégia.
Mas, ao analisá-lo com atenção, sinto que ele revela algo ainda maior — não apenas sobre o Velho Continente, mas sobre a condição alarmante de um mundo que já não sabe para onde caminha.
Entre os pontos mais enfáticos do documento, a imigração aparece como uma das razões do que o governo norte-americano enxerga como declínio europeu. Mas discordo dessa interpretação. Nenhuma civilização se degradou por acolher gente, mas muitas se perderam quando viraram o rosto para o sofrimento humano.
Migrar é tão antigo quanto o fogo. Quando o primeiro grupo humano deixou cavernas frias para seguir o rastro de animais, não buscava aventura, mas sobrevivência. E, se havia um bem sagrado na rotina ancestral, era manter aceso o fogo do lar — porque, em noites geladas, um braseiro era a diferença entre a continuidade da vida e sua extinção. A espécie humana migrou quando a lenha rareou, quando a caça sumiu, quando o inverno prolongado matou plantações.
Movimento não é opção: é condição vital. O instinto de caminhar para onde se pode viver é tão natural quanto proteger uma chama contra o vento.
Hoje não fugimos da Era Glacial, mas das suas equivalências contemporâneas: guerras, fome, colapso político, violência armada. Segundo o ACNUR, mais de 123 milhões de pessoas estavam deslocadas em 2024, o maior número já registrado.
Não é a imigração que explica o colapso — é o colapso que explica a imigração.
E, se um refugiado foge de Gaza bombardeada, do Sudão devastado ou de Beirute — onde o desemprego ultrapassa 30% e a inflação destrói salários como fogo em palha seca — ele apenas repete o gesto ancestral daqueles que protegiam brasas na palma da mão para recomeçar em outro vale.
Ao apontar falhas europeias — lentidão, burocracia, baixa natalidade, desequilíbrio fiscal — o documento parece olhar apenas o espelho alheio. No entanto, a decadência atravessa continentes.
Os Estados Unidos convivem com 770 mil pessoas em situação de rua, segundo o HUD, número que cresce ano após ano. Cresce também o extremismo interno, o desencanto com a democracia, a violência armada. Se a Europa se desgasta pelas bordas, os EUA se desgastam por dentro.
E não estão sozinhos.
A fome avança na África e no Oriente Médio com números que lembram eras pré-industriais. Na América Latina, a desigualdade produz êxodos silenciosos. O planeta respira guerras, pandemias, desastres climáticos, manipulação digital, autoritarismos reciclados. A sensação de declínio é global — não europeia.
O documento sugere um mundo reorganizado por blocos estratégicos e interesses imediatos. Mas vejo nisso um risco profundo: o esgotamento do multilateralismo, justamente quando ele é indispensável. Problemas globais não se resolvem com fronteiras fechadas. Mudanças climáticas atravessam oceanos, o tráfico ignora alfândegas, vírus não pedem visto. O planeta precisa de coordenação, não de cercas, muros, isolacionismo.
Carrego comigo uma convicção: não sobreviveremos como civilização se continuarmos pensando como arquipélago. Se cada país cuidar apenas de si, o mundo se desmancha como muralha antiga. É preciso reconstruir solidariedade, não como gesto piegas ou caridoso, mas como instinto de autopreservação coletiva.
Não proponho utopias ingênuas. Proponho lucidez. A única saída está no reconhecimento de que somos uma só família humana. Fóruns multilaterais precisam ser fortalecidos — ONU, COPs, acordos regionais — porque a alternativa é o caos.
Guerras começam quando portas se fecham. A paz nasce quando elas se abrem. Será novidade essa minha última afirmação?
Se a Europa deve rever modelos, que o faça. Se os EUA reivindicam liderança, que assumam também responsabilidade ética, moral, espiritual até. Mas o essencial é outro: nenhum projeto civilizatório será sustentável enquanto milhões lutarem para existir.
O documento norte-americano pode oferecer pistas para reformas pragmáticas, mas é preciso enxergar além do cálculo geopolítico. A pergunta não é como salvar a Europa, mas como salvar o mundo de nós mesmos. O refugiado que bate à porta não ameaça civilizações — ele as lembra de que ainda existe humanidade.
A Terra é nossa única casa. E casa nenhuma permanece quente se apagarmos o fogo que protege a vida.
A estratégia recente dos EUA evidencia o quanto o planeta precisa de uma agenda de humanidade
O plano dos EUA reforça OTAN e contenção, mas ignora que a maior urgência mundial é proteger pessoas, não muros, e reconstruir pontes de humanidade


A nova estratégia externa divulgada pelos Estados Unidos em 5 de dezembro de 2025 mira a Europa com bisturi afiado. O documento não adota meias-palavras: diagnostica uma Europa envelhecida, hesitante, acomodada em políticas sociais que teriam perdido eficiência diante de crises econômicas e migratórias. Oferece cooperação, mas condicionada a reformas profundas — mais gasto militar, menos dependência, integração produtiva e reação imediata ao risco de perda de competitividade global.
Em seu tom, ecoa o receituário clássico das grandes potências quando percebem que seu parceiro não acompanha o ritmo da História.
Washington — a capital, não este Washington que digita — espera uma Europa musculosa, disposta a pagar sua parte na OTAN e a parar de fingir que o guarda-chuva americano é brinde de hotel cinco estrelas. Há, no texto, algo de advertência e algo de estratégia.
Mas ao analisá-lo com atenção, sinto que ele revela algo ainda maior — não apenas sobre o Velho Continente, mas sobre a condição alarmante de um mundo que já não sabe para onde caminha.
Entre os pontos mais enfáticos do documento, a imigração aparece como uma das razões do que o governo norte-americano enxerga como declínio europeu. Mas discordo dessa interpretação. Nenhuma civilização se degradou por acolher gente, mas muitas se perderam quando viraram o rosto para o sofrimento humano.
Migrar é tão antigo quanto o fogo. Quando o primeiro grupo humano deixou cavernas frias para seguir o rastro de animais, não buscava aventura, mas sobrevivência. E se havia um bem sagrado na rotina ancestral, era manter aceso o fogo do lar — porque em noites geladas, um braseiro era a diferença entre a continuidade da vida e sua extinção. A espécie humana migrou quando a lenha rareou, quando a caça sumiu, quando o inverno prolongado matou plantações.
Movimento não é opção: é condição vital. O instinto de caminhar para onde se pode viver é tão natural quanto proteger uma chama contra o vento.
Hoje não fugimos da Era Glacial, mas das suas equivalências contemporâneas: guerras, fome, colapso político, violência armada. Segundo o ACNUR, mais de 123 milhões de pessoas estavam deslocadas em 2024, o maior número já registrado.
Não é a imigração que explica o colapso — é o colapso que explica a imigração.
E se um refugiado foge de Gaza bombardeada, do Sudão devastado ou de Beirute — onde o desemprego ultrapassa 30% e a inflação destrói salários como fogo em palha seca — ele apenas repete o gesto ancestral daqueles que protegiam brasas na palma da mão para recomeçar em outro vale.
Ao apontar falhas europeias — lentidão, burocracia, baixa natalidade, desequilíbrio fiscal — o documento parece olhar apenas o espelho alheio. No entanto, a decadência atravessa continentes.
Os Estados Unidos convivem com 770 mil pessoas em situação de rua, segundo o HUD, número que cresce ano após ano. Cresce também o extremismo interno, o desencanto com a democracia, a violência armada. Se a Europa se desgasta pelas bordas, os EUA se desgastam por dentro.
E não estão sozinhos.
A fome avança na África e no Oriente Médio com números que lembram eras pré-industriais. Na América Latina, a desigualdade produz êxodos silenciosos. O planeta respira guerras, pandemias, desastres climáticos, manipulação digital, autoritarismos reciclados. A sensação de declínio é global — não europeia.
O documento sugere um mundo reorganizado por blocos estratégicos e interesses imediatos. Mas vejo nisso um risco profundo: o esgotamento do multilateralismo, justamente quando ele é indispensável. Problemas globais não se resolvem com fronteiras fechadas. Mudanças climáticas atravessam oceanos, o tráfico ignora alfândegas, vírus não pedem visto. O planeta precisa de coordenação, não de cercas, muros, isolacionismo.
Carrego comigo uma convicção: não sobreviveremos como civilização se continuarmos pensando como arquipélago. Se cada país cuidar apenas de si, o mundo se desmancha como muralha antiga. É preciso reconstruir solidariedade, não como gesto piegas, caridoso, mas como instinto de autopreservação coletiva.
Não proponho utopias ingênuas. Proponho lucidez. A única saída está no reconhecimento de que somos uma só família humana. Fóruns multilaterais precisam ser fortalecidos — ONU, COPs, acordos regionais — porque a alternativa é o caos.
Guerras começam quando portas se fecham. Paz nasce quando elas se abrem. Será novidade essa minha última afirmação?
Se a Europa deve rever modelos, que o faça. Se os EUA reivindicam liderança, que assumam também responsabilidade ética, moral, espiritual até. Mas o essencial é outro: nenhum projeto civilizatório será sustentável enquanto milhões lutarem para existir.
O documento norte-americano pode oferecer pistas para reformas pragmáticas, mas é preciso enxergar além do cálculo geopolítico. A pergunta não é como salvar a Europa, mas como salvar o mundo de nós mesmos. O refugiado que bate à porta não ameaça civilizações — ele as lembra de que ainda existe humanidade.
A Terra é nossa única casa. E casa nenhuma permanece quente se apagarmos o fogo que protege a vida.
Nações prósperas criam políticas que resistem às alternâncias de poder
OO século XXI pertencerá às nações que planejam com estratégia e executam com precisão


Nações que planejam o amanhã vencem o hoje. Com planejamento institucional e inteligência estratégica, China, Brasil e Singapura forjaram progressos históricos. O Brasil tem lições do passado para guiar seu futuro. Curioso para saber como políticas de Estado podem mudar tudo?
A história contemporânea ensina uma lição cristalina: nações que florescem transcendem os ciclos eleitorais, forjando políticas de Estado que superam a efemeridade dos governos. O planejamento institucional e a inteligência estratégica não são meros recursos administrativos — são o alicerce de uma governança visionária e do progresso nacional duradouro.
Ascensão chinesa e meio século de transformação planejada
O milagre chinês ilustra o poder da estratégia bem orquestrada. Em 1978, com 962 milhões de habitantes, IDH de 0,423 e renda per capita de US$ 156, a China era um gigante adormecido. Hoje, com 1,409 bilhão de pessoas, ostenta IDH de 0,768 e PIB per capita de US$ 12.720 — um salto de mais de 8.000% na renda individual.
Entre 1979 e 2018, o PIB chinês cresceu a uma média anual de 9,5%, o que o Banco Mundial classificou como “o mais rápido crescimento econômico sustentado de um grande país na história”. Esse avanço tirou 800 milhões de pessoas da pobreza extrema, evidenciando o impacto transformador de políticas de Estado.
Esse êxito não foi fortuito. A China estruturou planos quinquenais que aliam visão de longo prazo a uma execução implacável. Cada plano define metas precisas para setores como infraestrutura, educação e tecnologia. O resultado? Uma economia que, de US$ 150 bilhões em 1978, atingiu US$ 17 trilhões em 2021, consolidando-se como a segunda maior do mundo.
A estratégia chinesa revela a distinção entre políticas de governo e de Estado. Governos são transitórios; o Estado é perene. A China ergueu instituições que sustentam projetos de décadas, garantindo coerência estratégica, independentemente de quem esteja no comando.
Brasil e os ciclos virtuosos de Vargas e JK
O Brasil já viveu eras em que o pensamento de Estado prevaleceu sobre o imediatismo. Na Era Vargas (1930-1945 e 1951-1954), o país lançou seu primeiro grande projeto de nação. De 1930 a 1950, a população cresceu de 33 para 52 milhões, o PIB per capita avançou 2,5% ao ano, e a industrialização ganhou raízes sólidas.
Pense no Brasil como uma orquestra: cada setor econômico é um grupo de instrumentos, cada política pública, uma partitura. O Estado, como maestro, harmoniza essas vozes ao longo de décadas. Vargas foi o pioneiro nessa regência, criando a Companhia Siderúrgica Nacional (1941), a Petrobras (1953) e as bases da indústria brasileira. Ele via o Brasil como um projeto de nação, não como um palco eleitoral.
Juscelino Kubitschek (1956-1961) ampliou essa visão com o Plano de Metas, prometendo “50 anos em 5”. Com 61 milhões de habitantes, o Brasil viu o PIB total crescer 7% ao ano, com o PIB per capita subindo cerca de 30% no período. A indústria automobilística nasceu, e Brasília foi erguida.
Os frutos dessas políticas ecoam: em 1950, o IDH brasileiro era de 0,345; em 1980, alcançou 0,549. Hoje, com 216 milhões de habitantes, o país tem IDH de 0,760 e PIB per capita de US$ 11.351, ocupando a 87ª posição no ranking global de desenvolvimento humano.
Vargas e JK compartilhavam uma convicção: o Brasil era um Estado, não apenas um governo. Criaram instituições perenes, bases industriais robustas e transformações que moldaram gerações.
Singapura e o modelo euro-asiático de planejamento
Singapura é outro farol de planejamento estratégico. Em 1965, recém-independente, tinha 1,9 milhão de habitantes, IDH de 0,613 e uma economia ancorada no comércio portuário. Com disciplina e visão, transformou-se radicalmente.
Seu plano diretor, revisado a cada década, projeta 50 anos à frente, um exemplo raro de foresight. Hoje, com 5,9 milhões de habitantes, Singapura exibe IDH de 0,949 (9º no mundo) e PIB per capita de US$ 88.429, entre os mais altos do planeta.
O desenvolvimento seguiu etapas claras: trabalho intensivo nos anos 1960, exportações nos 1970, competitividade nos 1980 e inovação nos 1990. De 1965 a 1990, o PIB per capita saltou de US$ 516 para US$ 11.900 — crescimento de mais de 2.000% em 25 anos.
Planos quinquenais de pesquisa e inovação, com 2% do PIB investido em P&D entre 2021 e 2025, posicionaram Singapura como líder asiático em inovação, segundo o Global Innovation Index. O país prova que limitações geográficas podem ser superadas por estratégias inteligentes.
Urgência de pensar como estado
A diferença entre governar e construir um Estado está no horizonte temporal e na continuidade. Governos gerenciam o agora; Estados arquitetam o amanhã. Nações prósperas criam políticas que resistem às alternâncias de poder.
Planejamento institucional e inteligência estratégica são pilares da governança responsável. Não se trata de autoritarismo, mas de consensos nacionais sobre prioridades de longo prazo. É construir instituições que pensem e ajam em décadas, imunes às turbulências políticas de curto prazo.
O século XXI pertencerá às nações que planejam com estratégia e executam com precisão. A China mostrou que é possível. Singapura provou que tamanho não é obstáculo. O Brasil já trilhou esse caminho. A questão é: teremos a lucidez para retomá-lo?
O Brasil atravessa o campo de gravidade instável da Casa Branca e não perde o eixo
O Brasil venceu ao não se impressionar com anúncios apocalípticos, reconhecendo que a tempestade anunciada frequentemente é apenas vapor político destinado a alimentar manchetes de curto prazo.


Negociar com a Casa Branca de Donald Trump lembra caminhar por um campo de gravidade instável: o chão se desloca, as forças mudam de direção sem aviso, e até o ar parece alterar densidade a cada gesto presidencial. Quem tenta se apoiar em regras fixas se perde. Quem mantém o centro de gravidade, vence. O Brasil fez isso — e derrotou uma das investidas mais ruidosas da diplomacia americana recente.
Trump decidiu punir Brasília com uma sobretaxa que elevava para 50% o custo de certas exportações brasileiras. O gesto nasceu menos do comércio e mais da irritação: a prisão iminente de Jair Bolsonaro e a firmeza brasileira frente às Big Techs dos EUA. Era política emocional, travestida de estratégia comercial.
Lula, no entanto, não correu para a mesa de negociação. Preferiu reforçar a independência do Judiciário, manter a agenda regulatória e deixar claro que o país não seria chantageado por surtos tarifários embalados em melodrama presidencial. Ao agir assim, preservou soberania e ainda ampliou popularidade interna.
Enquanto isso, nos EUA, pesquisas revelavam deterioração do humor do eleitorado. Os preços nos supermercados pressionavam famílias e encurralavam o próprio Trump. A ala econômica da Casa Branca entendeu que manter tarifas agrícolas era suicídio político. O cálculo doméstico pesou mais que qualquer disputa com Brasília.
O recuo veio sem cerimônia: as sobretaxas desapareceram como se nunca tivessem existido. Um reconhecimento tácito da vitória brasileira.
Esse episódio é útil para compreender algo maior: Trump raramente age com estratégia coerente. Seus instintos vêm primeiro; seus assessores tentam convertê-los em geoeconomia agressiva depois. A ordem internacional, sob sua influência, deixa de ser sistema e passa a funcionar como um território instável, onde cada movimento responde a impulsos e não a doutrinas.
A Casa Branca mistura política, cultura, retaliação e vaidade em doses equivalentes. Nada é estável. Nada é linear. Tarifas viram instrumentos de vingança ou recados pessoais. Diplomacia vira espetáculo. A lógica lembra mais um corretor de imóveis brigando pela esquina mais iluminada de Manhattan do que o chefe de Estado da maior potência militar do planeta.
Nesse ambiente caótico, distinguir objetivos, estratégias e táticas é questão de sobrevivência. E Trump, por mais barulhento que seja, possui uma fragilidade evidente: suas táticas não são convicções. São ferramentas descartáveis. Se funcionam, ele as repete. Se não, abandona sem olhar para trás.
Daí a sigla TACO — Trump Always Chickens Out (Trump Sempre Amarela), piada que se tornou chave interpretativa de sua política externa. O presidente que promete furacões e entrega garoa.
O Brasil compreendeu essa dinâmica. Enfrentou em vez de bajular. E se posicionou ao lado do grupo que inclui a China — que respondeu a Trump com firmeza e obteve resultados — e longe do comportamento submisso de países que tentaram apaziguá-lo com presentes e recuos unilaterais.
A resistência brasileira enviou ao mundo algo maior que um recado comercial: mostrou que governos que confundem o próprio reflexo com o tamanho do trono podem ser enfrentados. E expôs o quanto a estabilidade institucional de Brasília contrasta com o improviso emocional da Casa Branca.
Hoje, capitais europeias discutem a “fórmula brasileira”. Governos africanos observam com interesse. Países asiáticos tomam notas. A lição é universal: soberania não se protege abaixando a cabeça — protege-se mantendo o eixo quando o outro lado tenta inclinar o campo.
E aqui está a verdade mais incômoda para Washington: o Brasil não apenas atravessou a zona de gravidade instável criada pela Casa Branca; fez isso sem perder o equilíbrio e expôs, diante do planeta, que intimidadores só prosperam quando encontram quem treme.
A volta do Barão
O espírito do Barão do Rio Branco retorna ao centro da diplomacia: enfrentar Trump com método, conter abusos tarifários e reafirmar que o Brasil negocia sem se curvar


Os números contam a história com brutal simplicidade: das tarifas de 50% impostas por Donald Trump em julho de 2025, mais da metade já caiu. Não houve retaliação, não houve bravata. Houve diplomacia — daquela que o Brasil domina desde que aprendeu, há mais de um século, que a força da razão costuma atravessar paredes que a força bruta apenas arranha.
A reversão anunciada no dia 20 de novembro — que retirou a sobretaxa de mais de 200 produtos brasileiros, incluindo café, carne bovina, cacau, frutas e açúcar — reorganizou o tabuleiro comercial entre os dois países. Produtos que até ontem estavam punidos com 50% de sobretaxa voltaram a pagar apenas a tarifa-base americana, que varia entre 0% e 10%.
Segundo dados atualizados do MDIC, a fatia da pauta exportadora brasileira sujeita ao pacote tarifário excepcional caiu de 35,9% para aproximadamente 12%. É um avanço concreto, com impacto imediato em cadeias produtivas inteiras. Mas não é o ponto final. Motores industriais, autopeças, máquinas e parte do setor metalmecânico continuam sob tarifas elevadas, além dos produtos afetados por regras americanas de segurança nacional, como aço e alumínio.
O contencioso foi reduzido, não encerrado.
Para entender o que está em curso, é preciso revisitar o momento em que a diplomacia brasileira adquiriu a musculatura que a distingue no mundo. José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco (1845–1912), transformou a política externa em ofício rigoroso: estudava até a exaustão, cruzava mapas, revisava arquivos coloniais e articulava fatos com precisão de relojoeiro. Suas conquistas territoriais — Acre, Amapá, Pirara — foram fruto de método, não de sorte. Ele dizia que “a diplomacia é a defesa dos interesses nacionais pela força da razão”. E acrescentava: “O Brasil deve ser firme, mas jamais agressivo.”
O Brasil volta a respirar esse método.
Não houve, nos últimos quatro meses, qualquer gesto de improviso. Ao contrário: diante das tarifas punitivas aplicadas pela Casa Branca, o governo montou uma frente integrada entre Itamaraty, MDIC, Fazenda e Casa Civil. Em vez de reagir com retaliações precipitadas — que apenas elevariam tensões — o país optou pelo caminho que Rio Branco chamaria de “altivez serena”: firmeza sem espalhafato, convicção sem hostilidade.
E essa escolha produziu efeito. O aumento de preços nos supermercados americanos, resultado direto da tarifa sobre alimentos, gerou pressão política interna. Importadores, redes de varejo e setores industriais passaram a argumentar que manter o pacote tarifário prejudicava mais consumidores americanos do que exportadores brasileiros. Trump recuou. Parcialmente, mas recuou.
O Brasil, fiel à sua tradição diplomática, não humilhou, não comemorou em excesso, não transformou o recuo em espetáculo. Apenas avançou. É assim que se faz política externa eficaz: com método, e não com ruído.
A razão pela qual a diplomacia brasileira alcança resultados está na estrutura que a sustenta. O Itamaraty é uma instituição de Estado, não de governo. Seus quadros estudam história, geografia, comércio internacional, direito, línguas, tratados e precedentes. Sabem negociar porque foram treinados para isso — em um país onde, felizmente, diplomatas ainda são valorizados por conhecimento, e não por alinhamentos ideológicos passageiros.
Essa postura técnica, somada a princípios consolidados, explica o respeito global conquistado pelo Brasil:
— profissionalismo rigoroso, que produz argumentos sólidos e confiáveis;
— autonomia estratégica, que permite dialogar com todos sem submissão;
— firmeza sem agressividade, que impede escaladas desnecessárias;
— apego ao direito internacional, que oferece proteção normativa num mundo volátil;
— busca da paz como instrumento, não como ornamento retórico.
Essa fórmula — discreta, lógica, consistente — foi lapidada por Rio Branco. E, neste momento, reaparece com rara nitidez.
Com a redução das tarifas, inicia-se agora a etapa mais delicada: a remoção completa das barreiras remanescentes. O Itamaraty trabalha em várias frentes simultâneas, seguindo um roteiro que combina técnica, estratégia e cálculo político.
Entendo serem esses os próximos passos da diplomacia brasileira:
1. Ampliar a coalizão internacional.
Unir países igualmente afetados aumenta o custo político de manter tarifas sem justificativa econômica.
2. Usar o G20 e a OMC como arenas de legitimidade.
Sem confronto direto, o Brasil enquadra as tarifas como distorções que afetam cadeias globais de suprimentos.
3. Mobilizar setores econômicos americanos.
Importadores, distribuidores e indústrias norte-americanas sabem que a tarifa encareceu preços internos e prejudicou sua competitividade.
4. Negociar diretamente com o USTR e agências regulatórias.
Um trabalho silencioso, técnico, baseado em dados, mostrando onde as tarifas elevam custos para consumidores americanos.
5. Isolar o custo político das tarifas no Congresso dos EUA.
À medida que parlamentares americanos percebem a pressão inflacionária interna, cresce a tendência de rever tarifas punitivas.
Esse é o mapa. Um mapa que não promete vitórias fáceis, mas promete vitórias possíveis. E, sobretudo, vitórias duradouras.
Rio Branco costumava dizer que “a paz é a vitória da inteligência sobre a precipitação”. Em 2025, essa frase volta a ter corpo, carne e conteúdo. O Brasil não caiu na armadilha da reação impensada, não devolveu agressão com agressão, não buscou holofotes enquanto o problema exigia discrição.
Optou pelo método. E quando o Brasil escolhe o método — o método de Rio Branco — quase sempre avança.
O país não encerrou o contencioso. Mas está resolvendo-o com a ferramenta que mais o honra no mundo: diplomacia com rigor, diplomacia com serenidade, diplomacia com história.
https://revistaforum.com.br/opiniao/2025/11/22/volta-do-baro-192685.html
A barraca não caiu – virou centro comercial global - Por Washington Araújo
Trump tentou derrubar o Brasil com tarifas políticas; 134 dias depois, o país saiu maior, mais diversificado e com a dignidade absolutamente intacta


Imagine uma barraca de feira montada com capricho, frutas brilhando, aromas de café no ar, gente passando, escolhendo, conversando — essa coreografia simples e civilizada da vida cotidiana.
Agora imagine alguém chegando chutando o pau da barraca, espalhando caixas, impondo gritos, intimidando o feirante como se a feira lhe pertencesse. Tinha tudo para dar errado, tanto na coreografia escolhida quanto no conteúdo que não parava de pé.
Foi exatamente isso que Donald Trump fez ao Brasil quando, em 9 de julho de 2025, enviou ao presidente Lula uma carta agressiva, acusatória e diplomática apenas na aparência. Afirmou, sem provas, que o Brasil promovia “ataques insidiosos contra Eleições Livres e contra os direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos”, e anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros.
Transformou comércio em arma e esperou submissão.
Errou no diagnóstico e errou no cálculo.
Publiquei ao longo dos últimos meses uma série de artigos alertando: quando tarifas se tornam instrumentos de coerção política, o mundo escorrega para um terreno perigosamente inclinado.
É que não se trata apenas de economia — trata-se de civilização. Argumentei que esse tipo de escalada tarifária não corrige desequilíbrios, apenas os amplia. E que o unilateralismo que Trump reviveu é uma forma de subversão da ordem internacional, já lamentavelmente defeituosa, mas ainda assim essencial para impedir que divergências cresçam até virar abismos.
A resposta do Brasil foi a de um país que conhece o valor de suas instituições. O governo Lula não recuou. O Supremo Tribunal Federal não alterou um milímetro do julgamento de Jair Bolsonaro e de seus cúmplices no atentado ao Estado democrático de direito. E o Itamaraty, sempre seguindo o exemplo luminoso do Barão do Rio Branco, sempre eficiente, manteve a mesa posta, mesmo enquanto o visitante chutava cadeiras.
A coordenação entre Executivo, Judiciário e diplomacia operou como sinfonia discreta, porém decisiva: firmeza política, independência constitucional e clareza estratégica. Mas que economia, a real é que Trump não podia ultrapassar uma linha vermelha chamada soberania. Simples assim.
Os danos iniciais foram reais.
Em agosto, as exportações brasileiras para os EUA despencaram 18,5%, segundo The Brazilian Report. O café sofreu seu tombo mais dramático: 53% de queda em setembro, totalizando 333 mil sacas enviadas, segundo a Exame. A carne bovina enfrentou projeção de perdas de até US$ 1 bilhão, de acordo com estimativas da Reuters. O aço viu contratos suspensos e embarques represados, conforme levantamento da Agência Brasil. E a laranja entrou em renegociação forçada, afetando margens e logística. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil calculou perdas médias de 22% nos três primeiros meses das tarifas, afetando diretamente pequenos e médios produtores.
Mas, enquanto Trump acreditava ter encurralado o Brasil, o país saiu pela porta ao lado — aquela que ele não sabia que existia.
O México, por exemplo, ampliou suas compras de carne brasileira e tornou-se o segundo maior destino, ultrapassando os Estados Unidos, segundo a Reuters. A China absorveu mais suco de laranja e mais café; a CitrusBR relatou crescimento de 14% nas remessas de suco, enquanto o Cecafé registrou alta de 11% de vendas de café ao Sudeste Asiático. A União Europeia abriu janelas emergenciais de importação, e o Japão aumentou a demanda por cortes premium.
O Brasil transformou constrangimento em estratégia e crise em oportunidade. Você leitor lembra da velha lição dos chineses? A palavra crise serve tanto para perigo quanto para oportunidade. Seguimos essa lição à risca. E produziu seus efeitos em somente 134 dias, de 9 de julho a 20 de novembro.
Enquanto isso, crescia o desconforto entre produtores americanos, especialmente os setores dependentes de insumos brasileiros. A tarifa de 50% não apenas prejudicou o Brasil — prejudicou importadores dos próprios EUA, aflitos com aumento de custos.
A retórica política chocou-se com a realidade do mercado, que sempre cobra faturas mais altas de quem distorce suas regras. Fato.
Foi nesse contexto que, em 6 de outubro, Trump telefonou para Lula. O tom já era outro: menos imposição, mais necessidade política. Hoje, a Ordem Executiva 14.323, assinada pessoalmente por Donald Trump na Casa Branca, formalizou o gesto que ele vinha ensaiando havia semanas: a retirada da tarifa adicional que sufocava café, carne bovina, suco de laranja, banana, açaí e castanha de caju.
No texto oficial, Trump afirma que sua decisão se baseia “no andamento das negociações e nas boas relações recentes com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva”.
A justificativa contrasta com o teor beligerante da carta enviada em julho e revela o que já se percebia nos bastidores: o blefe não funcionou, o custo político interno se tornou alto e a diplomacia brasileira mostrou, novamente, que a firmeza silenciosa produz resultados duradouros.
Esse episódio revela algo que venho escrevendo há tempos: quando um país poderoso tenta usar tarifas como marreta política, o mundo desce um degrau rumo a um vale-tudo econômico global, onde a lei vira exceção e a exceção vira método. A Organização Mundial do Comércio perde autoridade, parceiros deixam de confiar, e a previsibilidade se dissolve — substituída por um ruído perigoso que corrói o comércio internacional por dentro.
O Brasil recusou essa lógica. Com instituições sólidas, diplomacia experiente e postura serena, preservou seus princípios. Não barganhou sua Constituição. Não negociou seu sistema jurídico. E não permitiu que pressão externa reescrevesse sua agenda interna.
Por isso, o episódio não termina na retirada das tarifas. Termina na transformação da metáfora inicial:
A barraca brasileira, aquela que tentaram derrubar pelo pau, não apenas permaneceu de pé: ela se expandiu. Modernizou-se. Conectou-se ao mundo. Abriu novas portas. E ergueu-se como um shopping center moderno, claro, plural e aberto a todas as nações que desejem negociar sem gritos, sem blefes e sem ameaças — apenas com respeito mútuo, regras claras e a dignidade que nenhuma tarifa consegue comprar.
Nenhum Planeta B
A ONU alertou: o planeta passou do aquecimento para a ebulição


Belém do Pará. A cidade onde o rio abraça a floresta tornou-se, nestes dias, o coração simbólico da Terra. É daqui que o Brasil propõe o Tropical Forests Forever Facility (TFFF) — o Fundo das Florestas Tropicais Para Sempre. Um projeto que busca algo inédito: transformar a floresta viva em ativo financeiro duradouro, e não em recurso condenado à extração. Uma aposta de civilização: é melhor a floresta em pé que a floresta deitada.
O TFFF não é uma doação, tampouco um gesto de filantropia. É um fundo de investimento internacional, com aportes públicos e privados, capaz de gerar retorno financeiro a quem aplica — e garantir benefícios a quem preserva. O mecanismo é simples e revolucionário: aplicar recursos em projetos sustentáveis, colher lucros e repartí-los entre investidores e países que mantiverem suas florestas em pé.
Mais de 50 nações já manifestaram interesse em participar. O fundo Tropical Forests Forever Facility (TFFF) já soma US$ 6,5 bilhões em compromissos anunciados. A Noruega confirmou um aporte inicial de US$ 3 bilhões; a França, € 500 milhões; e a União Europeia prometeu reforçar o capital do fundo em até € 1 bilhão até 2030. Outros países — China, Reino Unido, Alemanha, Japão, Canadá e Emirados Árabes — estudam suas contribuições. O Brasil, por sua vez, inaugura o movimento com US$ 1 bilhão, tornando-se o primeiro país a investir recursos próprios na iniciativa que propõe.
O presidente Lula resumiu o espírito do projeto com clareza poética: “A floresta em pé vale mais do que qualquer pasto. Quem preserva a vida, cria futuro; quem destrói, cava o próprio buraco.”
Lula não fala apenas como estadista, mas como homem que enxerga o chão onde pisa. Sua frase ecoa como antídoto à lógica que transformou árvores em cifras e rios em fronteiras.
O vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xuexiang, resumiu em Belém o espírito que o mundo precisa reencontrar: “A humanidade está numa nova encruzilhada.” Defendeu o verdadeiro multilateralismo, a solidariedade e a ação coordenada entre as nações. Apoiou a proposta de Lula de fazer da COP30 a COP da implementação, lembrando que promessas só valem quando se tornam ação concreta.
A disputa invisível: o mundo que aquece e hesita - Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), três nações concentram quase metade das emissões globais de gases de efeito estufa: China, Estados Unidos e Índia. A China responde por cerca de 32% das emissões; os Estados Unidos, por 14%; e a Índia, por 7%. Os números, contudo, escondem nuances: a China polui mais por volume industrial; os EUA, por estilo de vida e consumo energético per capita — um norte-americano médio emite quase duas vezes mais carbono que um chinês.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, foi direto em Belém:
“A era do aquecimento global terminou; começou a era da ebulição global.”
A frase, que parece hipérbole, é constatação científica. O planeta já aqueceu 1,2 °C desde a Revolução Industrial — e o limite de 1,5 °C se aproxima com a velocidade dos furacões que ele mesmo engendra. Guterres completou: “Não há mais espaço para hesitação. Cada minuto de inércia é uma sentença assinada contra as próximas gerações.”
O silêncio que se seguiu não foi de protocolo — foi de consciência.
Ausências eloquentes, presenças decisivas - Belém também foi palco de ausências que falam alto. Donald Trump, fiel ao seu negacionismo climático, não veio. E foi melhor assim. Sua presença teria o poder corrosivo de arrastar consigo governos negacionistas e travar negociações. “Trump passa, mas as mudanças climáticas permanecem” — observou um dos diplomatas europeus. E havia um consenso discreto nos bastidores: é mais fácil avançar sem ele do que com ele contra todos.
Vladimir Putin tampouco compareceu — não por desinteresse, mas por impossibilidade. O Tribunal Penal Internacional mantém contra o presidente russo mandado de prisão por crimes de guerra na Ucrânia. Sua ausência não é diplomática, é judicial — e revela que os ventos da história já não sopram para quem desdenha da lei, nem da vida.
Enquanto isso, a China surpreendeu. Enviou oitenta autoridades e diplomatas de alto escalão, lideradas por seu vice-primeiro-ministro. O país que mais emite carbono também é o que mais investe em energias renováveis — líder mundial em painéis solares, turbinas e veículos elétricos. Pequim enxerga a transição verde não como sacrifício, mas como nova fronteira econômica. Ali onde o Ocidente vê custo, a China vê oportunidade.
A Europa reencontra seu papel - A União Europeia chegou a Belém com a firmeza dos que sabem que o tempo é curto. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi recebida como voz de autoridade moral e técnica. Em seu discurso, disse: “O Brasil mostra liderança. A floresta amazônica é um tesouro para o planeta, e o planeta precisa do Brasil.”
Suas palavras soaram como reconhecimento e desafio. Logo depois, completou com um aviso velado: “A neutralidade de carbono não é um sonho europeu; é uma obrigação civilizatória.”
A presença de Emmanuel Macron reforçou o coro: “Não há economia próspera num planeta devastado. A bioeconomia é o caminho mais racional entre a esperança e o realismo.”
E quando o príncipe William, herdeiro do trono britânico e patrono de projetos ambientais, tomou a palavra, trouxe o tom pessoal que faltava: “O que deixarmos de fazer agora será cobrado pelos filhos de nossos filhos.”
Cada uma dessas frases abriu um breve silêncio — o intervalo exato em que o auditório respirou o óbvio: não há herança possível num planeta em ruínas.
Os números da esperança - O TFFF nasce com meta de US$ 25 bilhões em aportes públicos até 2030, capazes de atrair mais US$ 100 bilhões da iniciativa privada. No total, US$ 125 bilhões para financiar ações de conservação, reflorestamento, energia limpa e desenvolvimento sustentável de comunidades tradicionais. O modelo inspira-se na lógica dos grandes endowments internacionais: o capital não se esgota, rende e se multiplica. Os rendimentos anuais serão aplicados em políticas públicas de controle do desmatamento, proteção de biomas e transição energética local.
O economista Carlos Eduardo Young, da UFRJ, sintetiza o espírito do projeto: “O TFFF une duas forças raramente conciliadas — a rentabilidade e a regeneração.”
Entre a floresta e a imagem - Belém é agora metáfora e espelho. O espelho da humanidade que, ao olhar a Amazônia, enxerga o próprio futuro. Ou o próprio fim. Porque é melhor a floresta em pé que a floresta deitada — não apenas por economia, mas por sabedoria. A floresta em pé regula as chuvas, abriga povos, filtra o ar e ensina o mundo a respirar. A floresta deitada é ruído de motosserra, promessa de lucro breve e deserto depois.
Na floresta em pé, o homem ainda dialoga com a Terra. Na floresta deitada, fala sozinho — e ninguém responde.
Belém 2025. A COP30 será lembrada talvez não pelos discursos, mas pelo instante em que o mundo compreendeu que preservar é a forma mais inteligente de progredir. E que o futuro — se ainda houver — brotará das raízes que decidirmos manter vivas.
Em Kuala Lumpur, o Brasil mudou o cardápio
Com 23% das reservas mundiais de terras raras e novos mercados, o Brasil tornou-se o elo indispensável entre recursos estratégicos e inovação global.


O encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald J. Trump, neste domingo (26/10/2025), em Kuala Lumpur, não foi apenas mais um ato diplomático entre dois líderes de temperamentos opostos. Foi um encontro de épocas — o velho mundo das potências que impõem e o novo mundo dos países que propõem.
Lula chegou com dados, serenidade e o tipo de poder que não precisa de armas para ser respeitado: recursos e legitimidade. Trump chegou com pressa, pressionado pela inflação que cresce nos Estados Unidos desde a imposição das tarifas de 50% sobre o café, a carne e a soja brasileiras — tarifas que pretendiam punir, mas acabaram punindo o próprio consumidor americano.
Sob o véu das formalidades, o encontro expôs uma realidade que Washington há tempos tenta evitar: o poder está migrando para onde estão os recursos essenciais.
A diplomacia da matéria-prima
O Brasil, que durante décadas foi visto como fornecedor de grãos e metais, agora ocupa o centro das negociações sobre o que realmente define a nova economia: as terras raras. Esses 17 elementos químicos — base de semicondutores, satélites, painéis solares, turbinas e equipamentos militares — são o sangue invisível da era digital.
Os números falam por si. A China controla 48% das reservas globais, os Estados Unidos apenas 2%, enquanto o Brasil detém 23% — a segunda maior reserva do planeta. É nesse dado que repousa o nervo do encontro em Kuala Lumpur. Para os EUA, que buscam reduzir sua dependência de Pequim, a aproximação com Brasília deixou de ser opção e passou a ser questão de sobrevivência estratégica.
Trump chegou ao diálogo tentando recuperar o tom autoritário de outrora, mas percebeu que o roteiro havia mudado. Lula não pedia concessões: oferecia parcerias com propósito, diálogo entre iguais. “As equipes começam a trabalhar imediatamente”, disse o presidente brasileiro, ao lado do secretário do Tesouro americano e do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Um Brasil que aprendeu a negociar
Nos bastidores, o tom foi firme. O presidente brasileiro deixou claro que o país não aceitará a lógica de sanções unilaterais, como as impostas recentemente a ministros do Supremo Tribunal Federal. “O Brasil respeita o devido processo legal. O que não respeita é a interferência disfarçada de diplomacia”, teria dito, segundo relatos da delegação.
A questão de Jair Bolsonaro surgiu apenas de forma lateral, em uma pergunta de jornalistas, mas Lula a transformou em argumento de soberania. Reafirmou que o sistema judicial brasileiro agiu dentro das leis e que a aplicação da chamada Lei Magnitsky foi uma injustiça que ameaça o equilíbrio entre as nações.
O gesto mais simbólico, porém, foi outro: Lula ofereceu-se para mediar o diálogo entre Washington e Caracas. Um aceno a Nicolás Maduro, mas também uma mensagem a Trump — o Brasil não é vassalo nem satélite, é ponte e ator.
A hora e a vez do Sul Global
A leitura global é inequívoca. O Brasil, ao lado de China, Índia e África do Sul, consolida o BRICS como eixo de poder alternativo, capaz de reconfigurar fluxos de comércio e inovação. A entrada de países árabes e africanos nesse bloco amplia ainda mais o alcance político dessa nova ordem.
Enquanto isso, os Estados Unidos lutam para preservar sua hegemonia industrial diante da escassez de insumos estratégicos. Sem acesso às terras raras e pressionados por uma inflação que já ultrapassa 5,2%, o país de Trump precisa negociar.
O Brasil percebeu esse momento e age com cálculo. Ao ampliar mercados com a Ásia e fortalecer acordos bilaterais na América Latina, transforma dependência em influência. Em Kuala Lumpur, Lula não discursou sobre ideologia — falou de logística, cadeias produtivas e tecnologia verde. Foi ouvido com atenção.
O subsolo como poder e metáfora
As terras raras — ítrio, lantânio, neodímio, gadolínio — são mais do que minérios: são o passaporte da autonomia industrial. Ter 23% dessas reservas é deter a capacidade de decidir quem avança e quem estagna na corrida tecnológica.
O Cerrado, tantas vezes ameaçado pela ignorância, pode tornar-se a espinha dorsal da economia do futuro. E é essa consciência que muda o tom da política externa brasileira. O país, que já se ajoelhou diante do capital financeiro, agora se ergue sobre o valor real da sua geologia e da sua biodiversidade.
Em Kuala Lumpur, o que parecia uma simples reunião bilateral foi, na verdade, uma demonstração pública de que o século XXI já não obedece ao compasso de Washington. O poder não se mede apenas por PIB, mas por relevância material. E o Brasil tem o que falta aos outros: energia, alimentos, estabilidade política e minerais estratégicos.
O planeta está sendo redesenhado — não por tratados, mas por necessidade. E, dessa vez, o Brasil não entrou no jogo como convidado. Entrou como indispensável.
https://www.brasil247.com/blog/em-kuala-lumpur-o-brasil-mudou-o-cardapio
É o planeta que é raro
Chamamos de raras as terras que mineramos, mas ignoramos a verdadeira raridade: um planeta capaz de sustentar vida, beleza e consciência em delicado equilíbrio


Enquanto governos disputam minérios estratégicos para turbinar a economia verde, esquecemos o óbvio: vivemos sobre o recurso mais precioso e insubstituível de todos —
um planeta habitável.Chamamos de “terras raras” um conjunto de dezessete elementos químicos — neodímio, lantânio, térbio, disprósio e outros nomes que parecem vir de um livro de ficção científica — dos quais depende quase tudo que chamamos hoje de progresso. Eles estão nos motores de carros elétricos, nas turbinas eólicas, nas telas que hipnotizam nossos olhos, nos satélites que vigiam fronteiras, nas comunicações militares de longo alcance e até nos mísseis de precisão cirúrgica.
Esses minerais discretos são os alicerces da promessa energética do século XXI. São apresentados como a ponte para um planeta mais limpo. Mas há um detalhe inconveniente nessa narrativa salvadora: para chegar a essa “sustentabilidade”, abrimos crateras na crosta terrestre, devastamos bacias hidrográficas, geramos resíduos radioativos e deslocamos comunidades inteiras. A modernidade limpa nasce, quase sempre, de uma extração suja.
Essa disputa já está redesenhando a geopolítica. China, Estados Unidos, Austrália, Brasil, Vietnã e vários países africanos se movem como jogadores de xadrez experientes, mas o tabuleiro é subterrâneo. Não se trata apenas de mineração: trata-se de soberania tecnológica, de controle de cadeias produtivas, de definir quem dita o ritmo da transição energética e quem será condenado à obediência estratégica. Quem controla o minério controla o futuro — esse é o idioma real do nosso tempo.
Por trás desse jogo, mora uma contradição que chega a ser moralmente indecente. Chamamos esses elementos de raros, mas tratamos como descartável aquilo que os contém: a própria Terra. A pressa por terras raras expõe outra verdade que quase ninguém narra, porque ela irrita acionistas e governos: não existe “substituto de planeta”. Vidas humanas continuam sendo vidas humanas, não componentes trocáveis de um projeto industrial.
A Terra é, ela mesma, um bem estratégico de valor incalculável. E não estou falando de romantismo ambiental. Estou falando de física, química e estatística cósmica. A combinação de atmosfera respirável, temperatura moderada, presença líquida de água, biodiversidade autorregenerativa e ciclos bioquímicos que convertem luz em alimento é algo tão improvável que, até agora, só apareceu uma vez no universo observável: aqui.
Essa é a ironia cruel da nossa era. Enquanto mineramos metais que permitem construir satélites capazes de mapear exoplanetas a anos-luz de distância, destruímos o único planeta conhecido onde existe uma criança respirando enquanto dorme. A busca tecnológica pelo amanhã está sendo financiada pela incapacidade ética de cuidar do hoje.
É impossível discutir terras raras sem discutir esta pergunta: de que adianta vencer a corrida tecnológica se, ao cruzar a linha de chegada, não restar ar decente para respirar? Estamos transformando montanhas em pó para alimentar turbinas que prometem “energia limpa”, mas esquecemos que não há nada limpo em transformar um vale inteiro em rejeito tóxico. Esse é o ponto em que nossa retórica verde tropeça na lama.
Existe também um erro conceitual profundo na forma como fomos educados a pensar sobre riqueza. Valorizamos o disprósio na bolsa, mas não contabilizamos o preço de um rio vivo. Celebramos o neodímio porque ele garante torque, aceleração, magnetismo, mas ignoramos que nada em nossa economia humana sobrevive três minutos sem oxigênio, e nenhum mercado global produz oxigênio sob encomenda. O planeta oferece, e nós anotamos como se fosse infinito.
Há um detalhe incômodo que raramente entra no discurso oficial: cada nova jazida “estratégica” anunciada como solução econômica costuma significar, para quem vive sobre ela, poeira, contaminação, ruído, expulsão e promessa vazia de prosperidade. A linguagem é sempre a mesma — “progresso”, “empregos”, “soberania” — mas o cheiro é o mesmo desde o século XIX: o cheiro da terra aberta à força.
Aqui está o ponto decisivo: as terras raras revelam que nossa crise não é apenas ambiental. É civilizatória. Continuamos agindo como se a Terra fosse uma mina com rodapé de custo e não um organismo vivo do qual somos parte. Só que ela não é “recursos naturais”. Ela é condição de possibilidade. E condição de possibilidade só existe enquanto existe planeta.
No fundo, a pergunta que nos espreita é brutal e simples: vamos mesmo insistir em tratar um planeta raro como se fosse um insumo barato?
Porque, convenhamos, o milagre já aconteceu. Nós já estamos no único lugar conhecido onde a matéria aprendeu a pensar, onde a árvore conversa com o pulmão, onde o rio imita a artéria, onde uma floresta inteira respira como se fosse nosso corpo ampliado. O que falta agora não é tecnologia, nem mais metal estratégico. É lucidez.
E lucidez, hoje, é admitir o óbvio: não adianta disputar o controle das terras raras se perdermos a única raridade absoluta — a Terra.
Trump ligou para Lula e a diplomacia voltou a respirar
Entre o ruído das guerras e o risco nuclear, do unilateralismo e das tarifas arbitrárias, Brasil e Estados Unidos escolhem o som mais raro da política: o da diplomacia em voz baixa, educada e eficaz.


Em tempos de impulsos e ruídos, um telefonema entre Lula e Trump devolve à política externa seu tom original: o da paciência, do método e do respeito.
O telefonema partiu de Washington. Do outro lado da linha, no Palácio da Alvorada, Lula ouviu a voz de Donald Trump. Foram trinta minutos de conversa cordial, sem câmeras, sem vazamentos, sem bravatas. O simples fato de não ter vazado — em tempos de celulares tagarelas e diplomacia de postagens — já foi o primeiro sinal de que algo havia mudado. A prudência voltou a ocupar o lugar da pirotecnia.
E sim: a ligação foi de Trump para Lula, o primeiro contato desde o encontro breve entre ambos na Assembleia-Geral da ONU, em setembro. O gesto, aparentemente trivial, tem densidade simbólica. É o tipo de telefonema que não busca manchete, mas conserta fissuras.
Lula destacou a importância de restaurar as relações amistosas entre Brasil e Estados Unidos — “as duas maiores democracias do Ocidente”, como fez questão de frisar. Recordou que o Brasil é um dos poucos países do G20 com quem os EUA mantêm superávit comercial e pediu a revisão da sobretaxa de 40% sobre produtos brasileiros, além do fim das medidas restritivas contra autoridades nacionais.
Trump, por sua vez, respondeu em tom amistoso. Disse que gostou da conversa, manifestou interesse em visitar o Brasil e sugeriu que o próximo encontro poderia ocorrer tanto em Washington quanto em Brasília. Lula, sempre diplomático, reiterou o convite para que Trump participe da COP30, em Belém (PA), e aventou a possibilidade de uma nova reunião durante a Cúpula da ASEAN, na Malásia.
A linha direta
Ao final da conversa, Trump e Lula trocaram seus números pessoais de telefone.
Não foi um gesto protocolar — foi um sinal de confiança.
Em tempos em que líderes preferem comunicar-se por redes sociais e discursos públicos, a decisão de manter contato direto entre dois presidentes representa uma aposta rara na diplomacia de bastidor. É o retorno da conversa privada como instrumento de aproximação política.
Essa troca de números, embora pareça um detalhe, simboliza algo maior: a reabertura de uma ponte que, há poucos meses, estava desmoronada. É a lembrança de que a diplomacia, quando genuína, começa com uma voz humana dizendo “alô”.
Do lado brasileiro, acompanharam a ligação o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, o assessor especial Celso Amorim e Sidônio Palmeira. Nenhum detalhe vazou — e talvez justamente por isso tenha dado certo.
Os números por trás da serenidade
Em julho, quando Trump anunciou o tarifaço de 40%, analistas previram o pior. Houve quem calculasse uma perda de até 0,5 ponto percentual do PIB, o equivalente a US$ 11,8 bilhões. As estimativas mais moderadas falavam em 0,2 ponto percentual, algo próximo de US$ 4,7 bilhões — ainda suficiente para abalar cadeias produtivas e exportadores.
Mas o que se viu foi um Brasil que reagiu com serenidade e engenho. O país abriu novos mercados na Ásia e na África, criou linhas de crédito emergenciais de R$ 40 bilhões para exportadores e manteve um superávit comercial de US$ 2,99 bilhões em setembro, mesmo com queda de 41,1% no saldo em relação ao mesmo mês de 2024.
A Secretaria de Política Econômica classificou o impacto como “modesto, porém concentrado” — severo em setores como metalurgia, químicos e têxteis, mas incapaz de travar o crescimento nacional. O Brasil segue, em outubro de 2025, projetando uma expansão de 2,3% do PIB para o ano e uma inflação sob controle, próxima de 4,8%, segundo as projeções oficiais da Fazenda e do Banco Central.
Do perigo à oportunidade
A crise das tarifas poderia ter sido o vendaval que arranca pontes e deixa os dois lados gritando através do abismo. No entanto, acabou se transformando no instante em que se plantam raízes mais fundas nas margens que restaram.
O perigo foi como um piano despencando do oitavo andar: barulho, pânico, gente correndo na calçada. Mas a oportunidade foi o afinador que chegou antes do concerto — aquele que, com calma e ouvido apurado, salvou a melodia que parecia perdida.
Noutra imagem: o perigo foi a ferrugem que corrói o ferro por dentro, invisível e persistente; a oportunidade, o banho de zinco que sela o metal e prolonga sua vida útil. Essa é a arte da diplomacia — transformar o que ameaça em aprendizado, o que divide em ponte, o que fere em motivo para fortalecer-se.
Há uma lição antiga que ecoa aqui: em chinês, a palavra “crise” (??) é composta por dois ideogramas — wei (perigo) e ji (oportunidade). No início, o mundo só enxergou o perigo. Mas o Brasil, ao agir com serenidade, descobriu a oportunidade oculta: reabrir canais, diversificar mercados, testar sua própria musculatura diplomática e, de quebra, reafirmar sua soberania.
Um ano tenso, um gesto sensato
2025 tem sido um ano paradoxal — feito de acelerações e freios, ilusões desfeitas e esperanças reconstituídas. Um ano em que o mundo voltou a flertar com o abismo nuclear: na Europa, com o prolongamento da guerra entre Rússia e Ucrânia; e no Oriente Médio, com o conflito entre Israel, Gaza e Irã, que atingiu níveis alarmantes até que os Estados Unidos destruíram as instalações nucleares iranianas, afastando temporariamente o risco de uma tragédia atômica.
Nesse cenário incandescente, a conversa entre Lula e Trump ganha peso simbólico. Não é apenas sobre tarifas, mas sobre a preservação do diálogo civilizado num tempo em que a diplomacia parece ter sido substituída pelo algoritmo da pressa.
Lula, acostumado à escola da prudência, compreende que diplomacia é como relojoaria: cada gesto precisa estar no compasso. É preciso frieza, tato e uma boa dose de paciência. O Brasil demonstrou que não precisa elevar o tom para ser ouvido — basta falar no tempo certo, com clareza e firmeza.
O valor do gesto
Nada está resolvido. As tarifas continuam, as sanções persistem e as negociações seguirão longas. Mas agora existe um canal de diálogo, e um canal aberto vale mais do que dez discursos inflamados.
O telefonema desta segunda-feira, 6 de outubro de 2025, é mais do que uma notícia: é um sinal de maturidade política. Um lembrete de que a diplomacia, quando exercida com método e respeito, não se mede pelo volume da voz, mas pela persistência do diálogo.
Quando as duas maiores democracias do Ocidente se dispõem a conversar com franqueza e sem alarde, o mundo torna-se um lugar menos áspero. E o Brasil, sereno e atento, reafirma a lição antiga dos diplomatas experientes:
falar baixo continua sendo a maneira mais eficaz de ser ouvido.
Presos na montanha mágica, por Washington Araújo
Na montanha mágica de hoje, o tempo adoece: a extrema direita avança, o multilateralismo desmorona, e as planícies ardem sob crises econômicas permanentes.
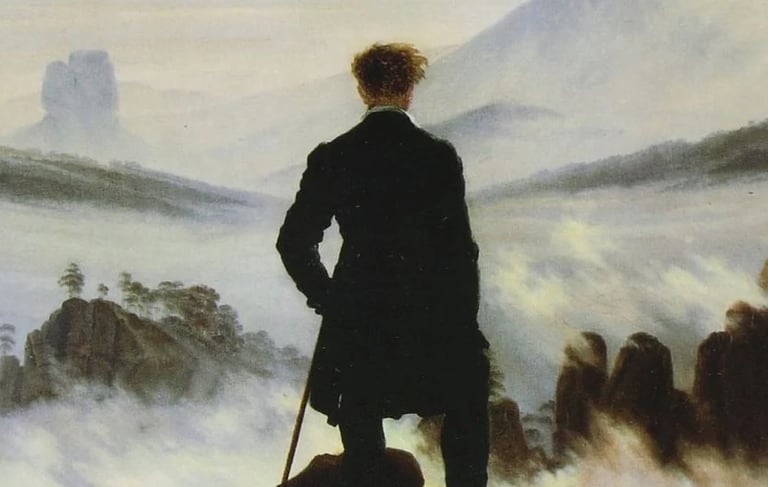
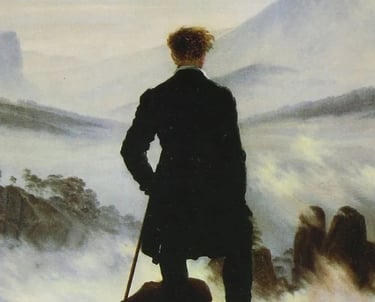
30 de agosto de 2025
No romance monumental A Montanha Mágica, Thomas Mann ergueu uma metáfora que atravessa séculos. A montanha, espaço rarefeito do sanatório, representa a suspensão do tempo, a vida sob constante observação da doença e da morte. A planície, em contraste, é o lugar da vida prática, dos afazeres diários, da rotina que insiste em seguir. Entre esses dois espaços se distribuem personagens, dramas, longas conversas e dilemas que, quase um século depois, ainda parecem falar diretamente a nós.
O mundo atual, cercado de injustiças palpáveis e de conflitos que não cessam, assemelha-se a essa geografia simbólica. Vivemos entre a montanha e a planície, entre o tempo suspenso da incerteza global e a brutalidade cotidiana das economias em crise. O multilateralismo, que durante décadas prometeu equilíbrio, transparência e cooperação, encontra-se hoje enfraquecido, como se estivesse internado no mesmo sanatório de Davos que abrigava Hans Castorp. A ONU e outras instituições internacionais parecem medir o tempo em meses ou anos, enquanto as guerras e as crises humanitárias marcam cada hora que passa.
Na montanha de Mann, Settembrini e Naphta discutiam sem descanso, travando um duelo verbal que raramente conduzia a soluções. No mundo contemporâneo, vivemos o mesmo: fóruns internacionais se multiplicam em debates circulares, incapazes de deter os horrores que se desdobram na Ucrânia, em Gaza ou no Sahel africano. Em 2023 e 2024, o Conselho de Segurança da ONU registrou mais de uma dezena de vetos (Rússia e EUA liderando), uma trombose diplomática que mantém as guerras pulsando na planície.
Enquanto isso, a planície segue sua rotina de desigualdade, violência e sobrevivência. O deslocamento forçado global alcançou 122,1 milhões de pessoas em abril de 2025 — um recorde histórico segundo o ACNUR. Esse número equivale a praticamente duas vezes a população da França vivendo em trânsito, sem teto e sem destino, vítimas de conflitos e perseguições. É a tradução estatística do que a literatura chama de dor.
A planície também enfrenta a turbulência econômica permanente. O Banco Mundial projeta apenas 2,3% de crescimento global em 2025, o mais fraco fora de recessões desde 2008; o FMI é um pouco mais otimista (3,0%–3,1%), mas ressalva que tarifas e choques geopolíticos podem azedar o quadro. Para quem vive na planície, isso significa emprego frágil, inflação persistente e insegurança estrutural.
Mas a montanha guarda outra febre: a emergência da extrema direita. Em 2024, o Parlamento Europeu viu partidos nacionalistas e reacionários crescerem, reunidos no novo bloco Patriots for Europe, que já ocupa o posto de terceira maior força. A planície assiste, perplexa, ao retorno de ideias que julgava ter enterrado em 1945.
Do outro lado do Atlântico, a Casa Branca volta a ser habitada por um governante autoritário, confirmando a cisão democrática. O Índice de Democracia da Economist Intelligence Unit (EIU) caiu em 2024 para 5,17 pontos, o menor desde que a série começou em 2006. Hoje, 39% da população mundial vive sob regimes autoritários; os EUA figuram como “democracia com falhas”.
A montanha tornou-se palanque; a planície, trincheira
Na montanha de Mann o tempo era doença. No nosso, a doença é o tempo. A Freedom House registrou em 2024 o 19º ano consecutivo de declínio da liberdade global. Mais de 40% das eleições nacionais tiveram episódios de violência, e mesmo o chamado “superciclo” eleitoral — 74 eleições envolvendo 1,6 bilhão de eleitores em 2024 — trouxe mais desconfiança do que legitimidade. É como se a democracia tivesse passado a habitar o sanatório: discursos intermináveis, resultados incertos, febre permanente.
E como se não bastasse, o abismo da desigualdade segue escancarado. A Oxfam mostrou que os bilionários aumentaram sua riqueza em US$ 2 trilhões em 2024 — quase US$ 5,7 bilhões por dia. Desde 2015, o 1% mais rico acumulou US$ 33,9 trilhões, quase o dobro do PIB da China.
A planície empobrece; a montanha privatiza o horizonte
O romance de Mann sugere que a montanha é inevitável: todos, em algum momento, são chamados ao tempo suspenso, à doença, à incerteza. Mas quando sociedades inteiras ficam presas no sanatório, adoecem. É o risco que corremos: naturalizar a exceção, transformar o absurdo em rotina, aceitar o adoecimento como condição permanente.
A lição de Mann é clara. A montanha pode ser espaço de reflexão, mas não pode ser morada eterna. Se nela nos demorarmos, perecemos de tédio, discursos e ilusões. A planície, com toda a dureza que carrega, exige retorno: é lá que se decide o destino dos povos.
O desafio do presente é escapar da tentação de viver permanentemente na montanha — seja ela o isolamento das elites, o multilateralismo paralisado ou as fantasias autoritárias de quem governa. É preciso descer com lucidez e subir com justiça.
O mundo não pode se perder na montanha: deve reencontrar-se na planície, onde a vida real existe, onde a esperança precisa ser construída, onde o futuro insiste em nascer.
A obsolescência do humano
O filósofo alemão Günther Anders, visionário do século XX, mostrou que entre bombas e algoritmos perdemos densidade humana, transformando realidades vividas em simulacros digitais
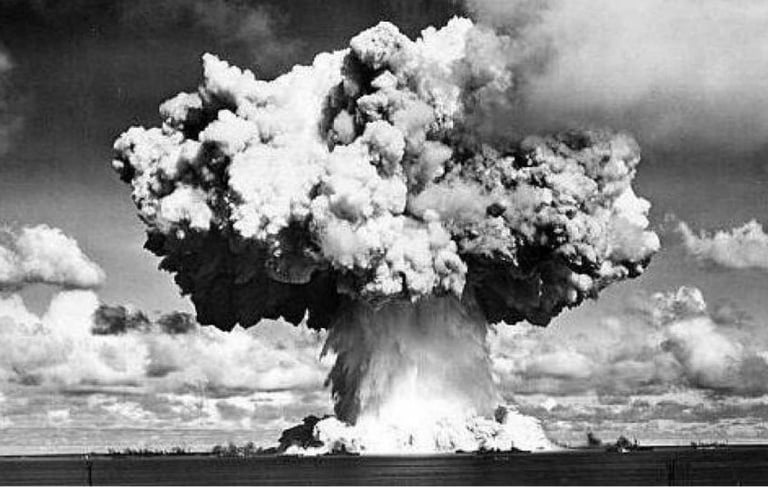
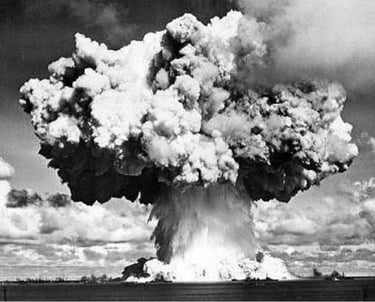
25 de agosto de 2025
Ao longo dos anos, me aproximei do pensamento de Günther Anders através de traduções não oficiais em inglês, trabalhos de estudiosos apaixonados que se dedicaram a tornar acessível a obra do filósofo alemão fora do universo restrito da língua germânica. Li Anders em cópias digitais mal diagramadas, muitas vezes com frases tortuosas, mas o desconforto da leitura era compensado pela revelação das ideias. E agora, com a previsão para dezembro de 2025 da primeira tradução integral em inglês de A obsolescência do humano, esse reduto de esquecimento poderá ser revertido.
Não se trata de modismo editorial, mas de um aporte vigoroso: Anders retorna ao centro do debate global sobre tecnologia, democracia e destino humano. Confrontá-lo neste tempo, atravessado por algoritmos e crises ecológicas, é imperativo. Seu pensamento pode ser fio condutor para resgatar o humano como promessa e responsabilidade, não apenas como engrenagem descartável.
A fenda que não fecha
O coração da reflexão de Anders está naquilo que chamou de “fenda prometéica”: o abismo entre o que podemos produzir e o que conseguimos imaginar. Somos capazes de lançar bombas nucleares, mas incapazes de prever, no íntimo, a dimensão do horror que se segue. Inventamos tecnologias capazes de moldar o clima, manipular emoções e gerar conteúdos infinitos, mas não possuímos imagens mentais adequadas para abarcar as consequências disso tudo. É como se tivéssemos em mãos um foguete interplanetário e, ao mesmo tempo, mapas de navegação ainda medievais. A consequência é devastadora: fabricamos futuros que a mente humana não alcança, e esse atraso da imaginação moral se converte em permissividade perigosa.
A vergonha diante das máquinas
Desse hiato nasce o que Anders nomeou de “vergonha prometéica”: a sensação de sermos ultrapassados pela perfeição das coisas que criamos. Frente à exatidão de um algoritmo, à velocidade de um robô, ao brilho de uma máquina que não erra, sentimos vergonha de nosso corpo frágil, de nossas falhas, da lentidão com que pensamos ou nos recuperamos.
O mundo como fantasma
Em outro momento central de sua obra, Gunther Anders analisa a sociedade das imagens e fala do “mundo como fantasma e como matriz”. O conceito é preciso: a imagem técnica, projetada em tela, substitui a experiência direta. O “fantasma” é o que se mostra — brilhante, editado, ampliado. A “matriz” é o molde que dita como passamos a enxergar tudo.
Pense no cotidiano das redes sociais: um pôr do sol vale menos por ser vivido e mais por ser fotografado e exibido. É verdade ou não? Você mesmo não assistiu um show de quem é fã há muitos anos Através da lente do telefone celular, fotografando ou gravando vídeo?
A vida real, com seus silêncios, hesitações e imperfeições, passa a ser apenas coadjuvante de uma narrativa digital. O resultado é uma perda de densidade existencial. Quando a imagem se torna a referência maior, o que vivemos diretamente se rebaixa a um papel secundário, quase um ensaio do espetáculo que importa.
A cegueira apocalíptica
Outro conceito-chave de Anders é a “cegueira apocalíptica”. Sabemos dos perigos — nucleares, climáticos, digitais —, mas não os sentimos como urgência real. É como se a consciência racional dissesse “isso é grave”, enquanto a imaginação emocional cochicha “isso não é comigo”.
Essa dissociação explica a letargia social diante de catástrofes anunciadas. Sabemos do aquecimento global, das ameaças nucleares, da erosão da privacidade, mas reagimos como quem adia uma consulta médica: sabemos que é necessário, mas deixamos para depois. Anders percebeu isso já nos anos 1950, olhando para Hiroshima e Auschwitz.
O que diria hoje, ao ver bilhões de pessoas entregues diariamente ao piloto automático das plataformas digitais? Ver hoje que casa se transformou a cara mais esfomeada do mundo? É que os Drones no leste europeu matam mais que soldados em combate?
Entre o exílio e a crítica ao século
Nascido Günther Stern, em 1902, em Breslau, então parte do Império Alemão, Anders foi aluno de Martin Heidegger e Edmund Husserl, antes de se exilar nos Estados Unidos fugindo do nazismo. Não foi apenas filósofo de gabinete. Trabalhou em fábricas, viveu os dilemas da diáspora, mergulhou no mundo das máquinas como operário para entender de dentro aquilo que depois analisaria em sua obra.
Retornou à Europa com olhar desconfiado sobre o mito do progresso. Anders não era teórico frio; foi crítico da corrida armamentista, escreveu cartas abertas a Oppenheimer, denunciou as ilusões da Guerra Fria. Morreu em 1992, mas seu pensamento sobrevive como se fosse escrito para este século: sempre mais atual do que a própria atualidade. Ele entendeu muito jovem que pensar dói, que as ideias nascem na forma de partos. E encarou seus desafios.
A pergunta que se impõe é: o que significa falar de “obsolescência do humano” na era da inteligência artificial?
Significa, antes de tudo, entender que não se trata de uma mera disputa de empregos entre homens e máquinas. Trata-se de algo mais radical: a substituição do exercício humano da imaginação, da memória e do juízo por sistemas que operam sem transparência e sem limites.
Se delegamos às máquinas a escolha das notícias que lemos, dos amigos com quem conversamos, das músicas que ouvimos, corremos o risco de atrofiar nossa própria musculatura moral e intelectual. A obsolescência não é metáfora, é um risco cotidiano. A meu ver esse é um precioso achado que encontrei nas ideias de Ander: A obsolescência deixou de ser figura de linguagem: é uma ameaça diária, concreta, infiltrada em nossas rotinas.
Relevância brasileira e latino-americana
Trazer Anders para o Brasil e a América Latina é vital. Em sociedades onde desigualdades estruturais já marginalizam milhões, a automação e a cultura da plataforma não chegam apenas como conveniência: chegam como filtro que determina quem aparece e quem desaparece. É aqui, onde a educação pública luta por sobrevivência e a comunicação se concentra em poucos conglomerados, que a advertência de Anders ganha corpo: precisamos reconstituir o humano como valor, antes que sejamos reduzidos a dados numa planilha transnacional.
Três gestos práticos para uma ação urgente
Para não deixar a filosofia pairar no abstrato, Anders propõe que nossa responsabilidade é prática. Se ele vivesse hoje, penso que endossaria estes três gestos como “virada de chave” para iniciar a mudança:
Avaliações de impacto tecnológico obrigatórias. Não se trata de relatórios cheios de jargões, mas de algo próximo do que já conhecemos no licenciamento ambiental: antes de lançar uma tecnologia, medir riscos sociais, psicológicos e políticos. Imagine um aplicativo de reconhecimento facial: antes de ser instalado em escolas ou estádios, seria preciso provar que não discrimina, que não alimenta preconceitos e que não compromete liberdades civis.
Observatórios democráticos de riscos. Em vez de deixar governos ou corporações decidirem sozinhos, criar espaços onde cidadãos, cientistas e jornalistas acompanhem em tempo real os efeitos das tecnologias. Seria como uma mistura de Procon e conselho de ética, mas voltado para a inteligência artificial, para a automação e para o uso de dados pessoais. Esses observatórios funcionariam como alertas antecipados, antes que problemas se tornem tragédias.
Alfabetização da imaginação consequencial. Assim como ensinamos crianças a ler e escrever, precisamos ensiná-las a imaginar cenários. Uma aula de matemática pode incluir exercícios de projeção: “e se todos consumirem água desta forma?”; uma aula de história pode propor: “e se armas nucleares forem usadas hoje?”. São exercícios que cultivam a imaginação moral, tão necessária quanto a tabuada ou a gramática.
Recuperar a imaginação
Em um mundo que sacrifica o essencial em nome do urgente, Anders nos convoca a religar escalas. O jornalismo, a política e a educação têm o dever de recuperar a imaginação moral como infraestrutura do futuro.
E cada leitor tem a tarefa de responder à pergunta incômoda: a que distância está o que você faz daquilo que você consegue imaginar? Se a resposta for “muito longe”, então a obsolescência não é teoria, é biografia. Anders nos obriga a encarar essa verdade: o humano só continuará sendo humano se recusar a se medir pelo padrão da máquina — e se ousar colocar imaginação e responsabilidade ética novamente no centro de tudo.
Brics Pay pode quebrar o domínio do dólar no mundo?
Análise do Brics Pay como um movimento estratégico para reescrever as regras do sistema financeiro global. Visa e Mastercard já devem colocar as barbas de molho.


10 de agosto de 2025
O sistema financeiro global vive um momento de fratura e reinvenção, onde as placas tectônicas da economia mundial se rearranjam sob tensões crescentes. No centro dessa transformação, o Brics — originalmente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora ampliado com Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Tailândia, Malásia e Indonésia — emerge como protagonista improvável, desafiando a hegemonia do dólar e a arquitetura financeira dominada pelos Estados Unidos.
A rede Swift, estabelecida na Bélgica em 1973, conecta mais de 200 países e processa a espinha dorsal das transações internacionais. Sua fachada de neutralidade, porém, esconde laços profundos com interesses ocidentais.
Em 2022, a exclusão parcial da Rússia desse sistema, em resposta à guerra na Ucrânia, expôs como o controle financeiro pode ser arma geopolítica. O dólar, presente em 84% das transações globais, segundo o Banco de Compensações Internacionais, é o coração desse mecanismo. Mas os países do Brics, que detêm 42% das reservas cambiais globais, estão diversificando: o ouro, que representa apenas 10% de suas reservas (metade da média mundial), começa a ganhar espaço como ativo estratégico.
A resposta do bloco é audaciosa. A Rússia desenvolveu o SPFS, um sistema de mensagens financeiras que já alcança aliados, enquanto a China expande o CIPS, centrado no yuan, que acompanha sua crescente influência comercial.
O Brics Pay, por sua vez, utiliza moedas digitais de bancos centrais para transações diretas entre membros, eliminando intermediários e reduzindo custos de conversão. Acordos bilaterais, como o entre Brasil e China para operar em reais e yuans, mostram o conceito ganhando vida: em 2024, as moedas do Brics já representavam 6,4% das transações via Swift, um salto notável. Pausa para um cafezinho: Os barões da Visa e da Mastercard devem estar suando frio: o Brics Pay, com seu blockchain afiado, ameaça transformar seus impérios de cartão em relíquias de um mundo dolarizado que já vê rachaduras na base!
Os Estados Unidos, cientes do desafio, reagem com firmeza. Em 2019, Donald Trump ameaçou tarifas de 100% contra o Brics por questionar o dólar; em 2025, já de volta ao poder, elevou o tom para 150%, alertando que uma moeda comum do bloco poderia “colapsar a economia americana”.
A mensagem é clara: o dólar não é apenas moeda, é pilar do poder global de Washington. Mesmo assim, o Brics avança. Sob a presidência brasileira em 2025, o bloco convidou México, Uruguai e Colômbia para o summit de julho, defendendo comércio livre e multilateralismo contra o unilateralismo ocidental.
A expansão do grupo, com mais de 50 nações interessadas, reflete o apelo de uma alternativa ao Sul Global. A entrada de gigantes petrolíferos como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos reforça seu peso, enquanto parceiros como Argélia e Nigéria ampliam sua influência. Projeções indicam que, até 2028, o Brics+ responderá por 37,9% do PIB global em paridade de poder de compra, superando o G7. 2 Bancos centrais do bloco acumulam mais de 1.000 toneladas de ouro anualmente, sinalizando um movimento estratégico para reduzir a dependência do dólar.
Essa iniciativa ecoa entre pensadores econômicos globais, que veem na desdolarização um reequilíbrio necessário. Paul Krugman, Nobel de Economia, reconhece que o domínio do dólar “não durará para sempre”, embora minimize o pânico imediato, argumentando que preocupações com a desdolarização são “muito barulho por quase nada”. Essa visão de Krugman, enraizada na análise de décadas de estabilidade americana, destaca como o declínio gradual do dólar poderia abrir portas para sistemas multipolares, reduzindo riscos sistêmicos de crises como a de 2008, onde a dependência de uma moeda única amplificou choques globais e perpetuou desigualdades entre nações emergentes e desenvolvidas.
Fernando Haddad, ministro brasileiro da Fazenda, defendeu uma moeda comum sul-americana como escudo contra crises externas, estendendo o raciocínio ao Brics para fomentar pagamentos em divisas nacionais. Entendo essa proposta, que imagino inspirada em integrações regionais como o euro, mas adaptada ao contexto do Sul Global, poderia estabilizar fluxos comerciais voláteis, mitigar impactos de especulações cambiais e impulsionar investimentos internos, criando um ciclo virtuoso de crescimento autônomo que desafia o modelo neoliberal imposto por instituições ocidentais.
Sergey Glazyev, economista russo e ex-ministro, afirma que o dólar se tornou “cada vez mais tóxico”, propondo uma moeda Brics como unidade dual de cesta para assentamentos internacionais, mais estável e atrativa que o dólar ou euro. Essa ideia, fundamentada na experiência russa com sanções, que já vem há décadas, revela como a toxicidade do dólar — via congelamento de ativos e exclusões financeiras — acelera a transição para alternativas lastreadas em commodities, potencialmente reconfigurando o comércio global para priorizar estabilidade real sobre hegemonia política, e fortalecendo a resiliência de economias sob pressão imperial.
Zhou Xiaochuan, ex-governador do Banco Central chinês, clama por “reforma criativa do sistema monetário internacional” rumo a uma moeda de reserva estável, criticando as deficiências inerentes de moedas nacionais baseadas em crédito como o dólar. Sua proposta, ecoando debates pós-Bretton Woods, enfatiza a expansão do SDR (Direitos Especiais de Saque é um ativo de reserva internacional criado pelo FMI) para incluir economias maiores, o que poderia democratizar o acesso a liquidez global, reduzir volatilidades causadas por políticas monetárias unilaterais dos EUA e pavimentar o caminho para uma governança financeira mais inclusiva, onde nações como China e Índia influenciam normas que historicamente as marginalizaram. Bem ao estilo chinês: comedido, zero foguetório, gente que sabe que o tempo para ouvir deve ser o dobro do tempo para falar.
Jacques Sapir, economista francês, prevê que o Brics+ deslocará 70-80% do comércio para fora do dólar nos próximos cinco anos via mecanismos como o Brics Clear, marcando uma “desdolarização em prática” como o “Santo Graal” do bloco. Concordo com a previsão do francês. Essa projeção, ancorada em tendências de expansão do bloco e adoção de tecnologias financeiras, ilustra como a desdolarização não apenas fragmenta o monopólio americano, mas reconstrói redes comerciais baseadas em reciprocidade, potencialmente elevando o PIB coletivo do Sul Global ao mitigar custos de transação e exposição a ciclos recessivos impostos por Washington, fomentando uma ordem multipolar que equilibra poder econômico com justiça distributiva.
Diferenças internas, como as tensões entre Índia e China, e a falta de infraestrutura tecnológica unificada desafiam a coesão. A pressão ocidental, com sanções e barreiras comerciais, permanece uma ameaça constante. Ainda assim, o Brics Pay acende uma faísca de transformação. Mais que uma plataforma, é um símbolo de resistência, um convite para que o Sul Global deixe de ser coadjuvante e passe a ditar as regras de um sistema financeiro multipolar.
O caminho, sabemos, é tortuoso. Mas não será melhor transitar nele mais um pouco ao tempo em que se constrói uma autoestrada com várias pistas, acostamentos mais largos e bem mais seguras e sinalizadas? Você já viu como são desativadas as pontes velhas e que apresentam rachaduras? Ela sofre reparos paliativos e ao lado dela uma nova começa a tomar forma. De um lado uma ponte é desintegração e de outro uma ponte em construção
Outro perigo: E se de quatro em quatro anos assistirmos na Casa Branca uma nova versão do filme “Apertem os Cintos… o Piloto Sumiu!”, aquela comédia de 1980, dirigida pelo trio David Zucker, Jim Abrahams e Jerry Zucker?
O dólar ainda reina, mas sua coroa já não brilha sem contestação.
A sensação de que o mundo “perdeu o centro de gravidade” não é apenas metáfora
O mesmo mundo que criou sistemas de cooperação global é capaz de reinventá-los


10 de agosto de 2025
Uma ordem mundial fragmentada emerge diante de nós; compreender seus nove vetores de destruição é passo decisivo para resistir e reconstruir caminhos.
Dando aulas por anos na disciplina de Sociologia da Comunicação e escrevendo livros sobre direitos humanos, globalização, reflexões sobre a paz mundial e economia, percebi que compreender o nosso tempo exige mais do que observar estatísticas ou ler tratados: é preciso escutar o que se diz nas frestas, perceber o que se cala nos corredores do poder.
É dessa combinação entre rigor analítico e atenção às camadas invisíveis que nascem estas reflexões — reflexões que olham para o presente não como um terreno seguro, mas como um campo inclinado, onde forças poderosas empurram o mundo para uma instabilidade mais profunda.
Nestes primeiros vinte e cinco anos do século XXI, a ONU atravessa um momento em que oportunidades e riscos se sobrepõem. A colaboração internacional nunca foi tão tecnicamente possível, mas a coordenação política que lhe daria eficácia está longe de se consolidar. A cada reunião frustrada, a cada resolução vetada, cresce o risco de que, ao invés de aproximar as nações, estejamos normalizando a fragmentação. Como já advertiu a Comunidade Internacional Bahá’í, a única saída real é que os líderes do mundo se reúnam para deliberar, com sinceridade e fervor, sobre o remédio necessário para um planeta enfermo e aflito. Nos últimos anos, no entanto, a realidade parece se afastar desse ideal.
O primeiro sintoma dessa crise é a guerra que deixou de ser exceção para se tornar parte da paisagem. Em 2024, o número de deslocados forçados chegou a 123,2 milhões, segundo o ACNUR — um recorde histórico que revela que, do leste europeu ao Oriente Médio, a violência não só persiste como se expande. Conflitos prolongados não apenas destroem cidades; eles corroem, como ferrugem, a confiança mínima entre Estados e povos.
Essa corrosão abre espaço para um segundo fenômeno: a ascensão de regimes autoritários e lideranças de matriz excessivamente ideológica.
O V-Dem aponta que 72% da população mundial já vive sob autocracias, enquanto a Freedom House registra o 19º ano consecutivo de queda global na liberdade. Sob tais governos, o dissenso é visto como ameaça, e não como combustível de uma democracia saudável. É nesse clima que floresce o extremismo político, que se retroalimenta da frustração popular: pesquisa da Edelman mostra que 40% dos entrevistados no mundo consideram legítimo empregar ações hostis para provocar mudanças — número que sobe para 53% entre os jovens.
A isso se soma o negacionismo científico, que rejeita evidências mesmo diante de provas esmagadoras. A Organização Meteorológica Mundial confirmou que 2024 foi o ano mais quente da história, com temperatura média global 1,55°C acima dos níveis pré-industriais. E ainda assim, líderes e formadores de opinião relativizam a crise climática, atrasando políticas que já deveriam estar em curso. É uma escolha consciente: transformar fatos em meras opiniões para proteger interesses imediatos.
Enquanto isso, o multilateralismo se enfraquece.
O Conselho de Segurança da ONU sofreu oito vetos em 2024, bloqueando respostas a crises graves. As instituições internacionais, concebidas para mediar disputas e promover soluções, estão sendo usadas como palcos para discursos, não como mesas de negociação. Esse bloqueio se articula com a desglobalização punitiva: a OMC prevê crescimento de apenas 0,9% no comércio global em 2025, em meio a guerras tarifárias que fragmentam cadeias produtivas e elevam custos. A economia, que deveria ser instrumento de integração, vira arma de retaliação.
A nova fronteira dessa disputa é o espaço digital, onde se instala o autoritarismo tecnológico.
A União Europeia aprovou o AI Act, exigindo rotulagem de conteúdos sintéticos e regras para inteligência artificial, enquanto a FCC, nos EUA, proibiu robocalls com vozes geradas por IA sem consentimento. Mas esses avanços convivem com a manipulação algorítmica, que distorce o debate público e concentra poder em poucas empresas e governos.
Ao mesmo tempo, cresce a financeirização da crise. O Programa Mundial de Alimentos alerta que, sem reposição orçamentária, 58 milhões de pessoas enfrentarão fome extrema em 2025. Paradoxalmente, desde 2020, os cinco indivíduos mais ricos do planeta dobraram suas fortunas, segundo a Oxfam.
A desigualdade não é mais um subproduto da economia; tornou-se seu motor perverso.
Em paralelo, assistimos à reconfiguração de fronteiras por fatos consumados. A anexação ilegal de territórios e a expansão acelerada de assentamentos na Cisjordânia minam as bases de qualquer solução negociada. Cada metro quadrado ocupado sem acordo é uma pá de cal sobre a ideia de que o direito internacional possa prevalecer sobre a força.
Esses nove movimentos — guerra crônica, autoritarismo, extremismo, negacionismo, paralisia do multilateralismo, desglobalização, controle digital, financeirização da crise e redesenho territorial — não agem isoladamente. Eles se conectam e se reforçam.
Vou desenhar, embora não seja um bom desenhista. Vamos lá:
A guerra alimenta o autoritarismo; o autoritarismo sustenta o negacionismo; o negacionismo bloqueia a ação climática; a crise climática provoca deslocamentos; o deslocamento pressiona sistemas já enfraquecidos; a desigualdade amplifica tensões; a ausência de mediação internacional perpetua tudo isso. É um círculo vicioso que acelera.
Para você que me lê, pode parecer que estamos descrevendo uma distopia distante, mas esses fenômenos já tocam a vida cotidiana: nos preços do supermercado, nas notícias filtradas pelo celular, na polarização das conversas, na fragilidade dos empregos, na dificuldade de se confiar na próxima década.
A sensação de que o mundo “perdeu o centro de gravidade” não é apenas metáfora — é um diagnóstico baseado em dados, cruzados com a experiência de quem acompanha, há décadas, a lenta e perigosa desconstrução das bases da convivência internacional.
Ainda assim, o quadro não é irrevogável.
O mesmo mundo que criou sistemas de cooperação global é capaz de reinventá-los. Isso exige enfrentar o imediatismo, reconstruir a confiança no diálogo e recolocar ciência, ética e solidariedade no centro das decisões. O jornalismo, a diplomacia e a ação cidadã têm papéis complementares nesse esforço.
Se não agirmos agora, com clareza e coragem, não será apenas a ordem internacional que se desfará — será a própria capacidade de imaginar um futuro compartilhado.
Famigerada operação Condor volta agourar a América Latina? — por Washington Araújo
Sem tratativas prévias entre governos, a cruzada de Trump contra cartéis promete instabilidade e um rio de desconfiança regional


09 de agosto de 2025
Donald Trump anunciou em 2025, segundo o New York Times, uma ofensiva militar do Pentágono contra cartéis latino-americanos, rotulados como “organizações terroristas”. Não é apenas retórica inflamada: é um fósforo aceso sobre a soberania de México e Brasil. No Itamaraty, a cautela prevalece. A máquina bélica dos EUA não dança ao som de um único homem.
A proposta de Trump sacode o equilíbrio diplomático da América Latina, fragilizado após o governo Bolsonaro (2019-2022). A região, como um rio que guarda seu curso, teme ser palco de conflitos importados. A memória de intervenções passadas sussurra advertências, enquanto o Brasil resguarda sua soberania como quem protege uma chama na tempestade.
Os EUA têm um histórico de intervenções que moldaram o século XXI com promessas quebradas. A invasão do Afeganistão em 2001, contra a Al-Qaeda, custou 170 mil vidas, incluindo 46 mil civis (Costs of War Project), e terminou com o Talibã de volta em 2021. No Iraque, a mentira das armas de destruição em massa gerou 200 mil mortes civis (Iraq Body Count).
A ideia de Trump de enquadrar cartéis como terroristas segue esse roteiro perigoso. Classificar o narcotráfico como ameaça global pode transformar a América Latina em um novo tabuleiro de guerra. A história da região, marcada por cicatrizes de intervenções, não é um livro em branco, mas um alerta que ecoa.
Na década de 1970, a Operação Condor, apoiada pelos EUA, uniu ditaduras contra o “comunismo”, deixando 60 mil mortos e 400 mil prisões, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Plano Colômbia (1999-2015), com US$ 10 bilhões, cortou 20% da produção de cocaína (ONU), mas deslocou 7 milhões de pessoas.
Esses precedentes são faróis na névoa. Intervenções americanas, sob o disfarce de combater o crime, amplificam o sofrimento humano. A América Latina, como uma árvore que resiste ao vento, carrega as feridas de um passado que ainda sangra, alertando contra novas cruzadas que prometem segurança, mas entregam caos.
A proposta de Trump ignora o direito internacional, que exige consentimento do Estado soberano. O México, com a voz firme de Claudia Sheinbaum, rechaçou em 2025: “Não haverá invasão.” A soberania, como um pássaro que resiste à gaiola, não se curva. O Brasil também rejeita classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas.
O acordo militar Brasil-EUA, de 1952, renovado em 2020, permite cooperação, mas veta ações unilaterais em solo brasileiro. A história ensina com dureza: a invasão do Panamá em 1989 matou 500 civis (ONU) e gerou crises diplomáticas. No Afeganistão, US$ 2 trilhões não compraram estabilidade.
A ausência de um plano pós-guerra no Afeganistão é um castelo de areia desmoronado. A falta de consulta prévia em operações passadas minou alianças globais. A proposta de Trump, cega ao multilateralismo, ameaça repetir erros, transformando a América Latina em um palco de conflitos importados que ecoam como tambores na noite.
A reação global é de alarme. No México, analistas temem o fim da Iniciativa Mérida, que destinou US$ 3,3 bilhões à segurança desde 2008. O The Guardian alertou em 2025 para um “desastre importado”, evocando o Iraque. Na Argentina, o Clarín lembrou as sequelas da Operação Condor, enquanto o Chile teme desestabilização.
Na Ásia e na África, jornais como The Hindu e Mail & Guardian veem na proposta um desprezo pelo multilateralismo. O narcotráfico, com US$ 400 bilhões anuais (ONU), é uma hidra que não cai sob bombas. Soluções exigem acordos, não guerras que atravessam fronteiras como rios em cheia.
Trump enxerga os cartéis como alvos a serem abatidos, mas ignora a complexidade do problema. Sua estratégia, surda à diplomacia, ameaça desmantelar décadas de acordos. O Brasil, com olhos abertos, guarda sua soberania como quem protege uma chama. Se Trump insistir, o continente ficará preso às sombras de um passado que retorna.
A América Latina não é um tabuleiro de guerra. Suas nações, como pássaros que voam apesar das tempestades, jamais deixarão de voar, de resistir. Mesmo que as tempestades sejam aquelas criadas pela insensatez e embriaguez do poder.
A lição é clara: soberania não se negocia. Uma guerra sem consenso trará instabilidade, desconfiança e um legado de desgraças que atravessará gerações, como um rio que nunca esquece seu curso.
Destino Manifesto como uma “mentira” que mascara escolhas humanas predatórias
Mito do Destino Manifesto moldou expansão americana, mas esconde racismo, imperialismo e contradições, ecoando em críticas contemporâneas ao excepcionalismo.


07 de agosto de 2025
No coração do século XIX, uma ideia poderosa floresceu nos Estados Unidos: o Destino Manifesto.
Cunhado pelo jornalista John Louis O’Sullivan em 1845, esse conceito proclamava que os americanos eram divinamente destinados a expandir seu território. Não era apenas política; era uma missão sagrada. A doutrina justificava conquistas, guerras e o deslocamento de povos, sob a promessa de disseminar uma cultura considerada superior.
Hoje, ao revisitar esse mito, enxergamos sua força transformadora, mas também suas sombras: racismo, imperialismo e contradições que definiram a nação americana.
O’Sullivan, em artigo na Democratic Review, defendeu a anexação do Texas como parte de um “destino manifesto”.
Sua retórica inflamada alimentava o excepcionalismo americano, a crença de que os EUA eram a “última e melhor esperança da Terra”.
Abraham Lincoln, em 1862, ecoou isso durante a Guerra Civil, vinculando a democracia à sobrevivência de ideais nacionais.
A compra da Louisiana em 1803, pacífica, dobrou o território, mas pavimentou expansões violentas.
O Texas, tomado do México em 1845 após conflitos, foi justificado como um “desígnio sagrado” contra interferências estrangeiras.
Expansão sem limites
A marcha para o Oeste pulsava com essa ideologia. Disputas com a Inglaterra pelo Oregon culminaram na ocupação da costa do Pacífico, consolidando os EUA como potência continental.
A imprensa, liderada por O’Sullivan, e igrejas protestantes foram pilares dessa narrativa.
Missões religiosas catequizavam indígenas, promovendo assimilação e justificando deslocamentos forçados como “civilização”.
O jornalismo sensacionalista e o fervor religioso tornaram o Destino Manifesto um mito popular, que encobria a violência da conquista.
Nem todos, porém, abraçavam a doutrina.
Críticas no Norte denunciavam sua ligação com a expansão da escravidão. Abolicionistas viam nela um mecanismo para perpetuar a servidão, intensificando divisões que levaram à Guerra Civil (1861-1865). A abolição em 1865 foi uma vitória parcial, mas o expansionismo persistiu.
Outras críticas apontavam o racismo: o Destino Manifesto desvalorizava culturas indígenas e mexicanas, promovendo a superioridade anglo-saxã. A Guerra Mexicano-Americana (1846-1848), que anexou Califórnia e Novo México, foi um exemplo claro de imperialismo travestido de “liberdade”.
Críticas filosóficas atuais
Pensadores contemporâneos dissecam o Destino Manifesto como raiz do imperialismo americano.
Howard Zinn, em Uma História Popular dos Estados Unidos, chama-o de mito que encobre a opressão de indígenas e a expansão agressiva.
Noam Chomsky, filósofo americano, vê-o como embrião da hegemonia global, ligando-o a conquistas como a do México e a intervenções modernas.
Cornel West, pensador afro-americano, rotula-o uma “ideologia imperialista”, uma “mentira” que mascara escolhas predatórias por recursos e terras.
Da Europa, Slavoj Žižek critica o excepcionalismo como fantasia ideológica, escondendo interesses capitalistas sob um véu de universalismo.
Desenfreada busca de hegemonia global
O Destino Manifesto extrapolou o século XIX, justificando intervenções globais.
A Guerra Hispano-Americana (1898) trouxe Cuba, Porto Rico, Guam e Filipinas sob controle americano, marcando o imperialismo ultramarino.
O Canal do Panamá (1903), com apoio à independência panamenha, expandiu a Doutrina Monroe para interesses na América Latina.
Intervenções em Nicarágua, Haiti e República Dominicana consolidaram a hegemonia, sob pretextos de estabilização.
Na Guerra do Vietnã (1955-1975), os EUA combateram o comunismo como guardiões da liberdade global.
Invasões do Afeganistão (2001) e Iraque (2003) reinterpretaram o mito como “exportação da democracia”.
Presidentes reforçaram essa retórica.
John F. Kennedy, em 1961, prometeu “pagar qualquer preço” pela liberdade.
George W. Bush justificou ações no Oriente Médio com ideais americanos.
Donald Trump, em visão futurista para 2025, evocou o “destino manifesto nas estrelas”, sonhando com a bandeira americana em Marte.
Hoje, o Destino Manifesto é um mito fundacional, símbolo do dinamismo e das contradições americanas. E tem se mostrado letal para o multilateralismo e para a convivência pacífica e harmoniosa no cenário internacional.
Impulsionou o imperialismo, mas revelou divisões: muitos o viam como grito partidário, não consenso universal.
Críticas atuais o acusam de justificar guerras e exclusão racial, ecoando em debates sobre intervencionismo.
Sua essência, porém, vive na identidade americana – uma nação que se crê destinada a liderar, mesmo impondo sua visão.
O Destino Manifesto foi mais que uma doutrina; foi o espelho de uma era ambiciosa e conflituosa. Moldou os EUA como superpotência, mas a que custo?
Para indígenas, mexicanos e nações intervencionadas, foi opressão.
Para americanos, um chamado divino.
Essa dualidade nos desafia: em um mundo multipolar, há espaço para o excepcionalismo?
Ou é hora de um destino compartilhado?
Ideias de Sachs, firmes como concreto, expõem falhas sistêmicas globais
Jeffrey Sachs analisa as crises de 2025, defendendo diplomacia, comércio justo e sustentabilidade como bases para um mundo mais equilibrado e pacífico


05 de agosto de 2025
Em 2025, o mundo parece uma corda a ponto de romper, tensionada por crises globais. Jeffrey Sachs, economista da Columbia University, traz clareza ao caos. Ele critica políticas erradas que abalam economias e vidas. Suas ideias, firmes como concreto, expõem falhas sistêmicas globais. Sachs sugere um futuro melhor, com diplomacia e sustentabilidade. Vamos explorar suas reflexões sobre comércio, conflitos e o papel de nações emergentes.
Sachs, que faz 71 anos em novembro, nasceu em Detroit, Michigan, em 1954. Nos anos 1980, assessorou Bolívia, Polônia e Rússia em reformas econômicas ousadas. Sua “terapia de choque” controlou hiperinflações, mas gerou críticas por desigualdades sociais. No Earth Institute, combateu pobreza extrema e mudanças climáticas, consolidando-se como referência global em desenvolvimento sustentável.
Bernie Sanders elogiou Sachs em 2015, chamando-o para reformar o Federal Reserve dos EUA. O Papa Francisco, em 2021, nomeou-o para a Pontifical Academy, destacando sua ética em Laudato Si’, que critica a “cultura do descarte” global. Sachs combina rigor acadêmico com um apelo por justiça, ligando crises econômicas a falhas humanas que exigem soluções urgentes e coordenadas.
No Parlamento Europeu, em fevereiro de 2025, Sachs classificou a guerra na Ucrânia como evitável. Ele aponta a expansão da OTAN e o golpe de 2014 em Kiev, apoiado pelos EUA, como estopins. Relatórios da ONU estimam 500 mil baixas ucranianas desde 2022. Para Sachs, diálogo, não confronto, teria prevenido essa tragédia humana.
Guerra devasta vidas ucranianas
Quinhentas mil vidas perdidas não são apenas números em relatórios frios. São famílias destruídas, futuros apagados, comunidades devastadas. Sachs compara o conflito a um “dique estilhaçado”, incapaz de conter a dor. Ele critica Biden por evitar diálogo com Putin em 2021, ignorando os Acordos de Minsk II. A neutralidade ucraniana poderia ter evitado esse desastre humano e geopolítico que assombra o mundo.
Em agosto, Trump ameaça sanções contra compradores de petróleo russo. Sachs rebate: “A Rússia redireciona 80% de suas exportações para China e Índia, diz a OPEP.” Essas sanções são inúteis, como “pedras contra o vento”. Ele alerta que políticas populistas, como tarifas, só aprofundam crises, ignorando lições econômicas que poderiam unir o mundo em cooperação.
Déficit comercial é matemática
Sachs explica o déficit comercial americano: não é roubo, é cálculo simples. Os EUA gastam US$ 31 trilhões, mas produzem US$ 30 trilhões. O governo, com déficits de US$ 2 trilhões anuais, age como um “cartão de crédito” sem limite, distribuindo recursos sem taxar os ricos. Culpam o mundo exterior, mas o problema está nas políticas fiscais internas irresponsáveis.
O protecionismo de Trump é o foco das críticas de Sachs. Comércio global é ganha-ganha, baseado na divisão de trabalho entre nações. Tarifas, como 50% contra Lesoto ou 144% contra a China, destroem valor, não transferem riqueza. Em dois dias, US$ 10 trilhões sumiram dos mercados globais. Sachs chama isso de “economia de Mickey Mouse”, um erro que ignora séculos de teoria econômica.
Tarifas bilaterais são um erro grave, diz Sachs. Equilíbrio comercial é geral, não por país. Ele compara: você não troca serviços com cada loja que frequenta. Seria caos! Forçar equilíbrio com Lesoto, que exporta US$ 228 milhões aos EUA, mas importa só US$ 7,33 milhões, pune nações pobres por sua eficiência, aumentando desigualdades globais e perpetuando injustiças econômicas.
Sachs critica o sistema político dos EUA, em colapso total. Trump usa decretos de emergência, agindo como “rei” e violando a Constituição, que dá ao Congresso poder sobre comércio e impostos. Financiado por ricos que evitam impostos, o governo sustenta déficits. Essa “regra de uma pessoa” ignora freios e contrapesos, transformando crises econômicas em crises democráticas globais.
Inveja e populismo
A rivalidade com a China é central. Sachs vê uma “inveja” americana pelo sucesso chinês. Em 20 anos, a China saltou de 8% para 30% da manufatura global, superando os EUA. Só 12% de suas exportações vão para lá, então tarifas têm pouco impacto. A China redireciona comércio aos BRICS, enquanto os EUA se isolam em sua própria narrativa.
Para Sachs, o protecionismo ameaça conquistas históricas globais. Desde os anos 1990, o comércio tirou um bilhão de pessoas da pobreza, principalmente na Ásia. Antes de 2008, o comércio crescia duas vezes mais que o PIB global; hoje, mal acompanha, com 3.200 restrições anuais. Ignorar 207 anos de vantagem comparativa, desde Ricardo, e 80 anos da OMC é um retrocesso grave.
O populismo alimenta políticas falhas, evitando reformas difíceis e necessárias. Investir em educação, infraestrutura e inovação é o caminho, não tarifas. Sachs cita Lesoto: com PIB per capita de US$ 916 contra US$ 82.800 dos EUA, enfrenta tarifas de 50%. É bullying econômico. Países pobres devem buscar integração regional, como a AFCFTA africana, para resistir e crescer apesar do protecionismo global.
Sachs vê uma reordenação global em curso. Ásia, África e América Latina, com 60% da população mundial, querem mais influência. Ele apoia a entrada da Índia no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil, com sua história pacifista e diversidade, pode mediar tensões. A crise climática, custando 5% do PIB global, segundo o IPCC, exige cooperação multilateral.
Escolhas definem futuro global
Em novembro, a COP30 em Belém será chave para o futuro. Sachs, premiado com o Prêmio Tang de Sustentabilidade, alerta: “A globalização trouxe prosperidade, mas pode sufocar o planeta se mal conduzida.” Secas na África afetam 200 milhões, diz a FAO. Ele defende energias renováveis, que cresceram 15% entre 2024 e 2025, para evitar riscos nucleares e construir uma economia verde inclusiva.
Sachs reflete com tom profundo: “Cada crise reflete falhas humanas.” Ele cita Kennedy, não o negacionista Robert Kennedy Jr., para inspirar ação global. De conselheiro de Gorbachev a crítico da hegemonia americana, Sachs pede diplomacia e comércio aberto. Suas ideias são um convite para 2025: quantos passos faltam para paz e equidade serem nosso chão firme?
O mundo enfrenta escolhas claras: autoritarismo ou multilateralismo? Isolamento ou cooperação? Sachs nos desafia a rejeitar o populismo e adotar soluções baseadas em fatos concretos. O Brasil, na COP30, pode liderar, unindo nações por sustentabilidade. Que 2025 transforme crises em oportunidades, construindo um futuro onde todos prosperem, sem deixar ninguém para trás, rumo a um mundo mais justo e equilibrado.
Num mundo de armadilhas, às vezes o melhor passo é o que não se dá
Ao repetir humilhações e ataques, Trump impõe ao Brasil o dilema entre a necessidade do diálogo e a dignidade nacional


02 de agosto de 2025
No palco torto da diplomacia, Donald Trump dança com passos de elefante, esmagando protocolos e delicadezas. O presidente americano, de volta ao comando da Casa Branca, faz de cada encontro com líderes globais uma ciranda de constrangimentos, onde o ridículo e a grosseria disputam o holofote. Lula, o filho de dona Lindu e que sente prazer em tirar o Brasil do Mapa da Fome, hesita à beira desse terreno minado, enquanto a pergunta continua no ar: vale a pena dançar com quem só sabe pisar nos pés?
Nesta sexta-feira, 1º de agosto de 2025, Trump, com seu jeito entediado, respondeu à jornalista Raquel Krähenbühl, da TV Globo, sobre um possível diálogo com Lula: “Pode ligar quando quiser. Amo o povo do Brasil”, disse, com a leveza de quem oferece um café. Mas o veneno veio logo, como sempre vem. Criticou a gestão brasileira, apontou “erros” e justificou tarifas de 50% sobre produtos do país, como se jogasse sal numa ferida aberta. “Vamos ver o que acontece”, completou, com aquele tom que mistura enigma e ameaça.
Do outro lado do Atlântico, Fernando Haddad, com a paciência de um pescador, respondeu que Lula está aberto ao diálogo, pronto para atender o telefone.
Mas o que significa atender a um chamado de Trump?
A diplomacia, esse veludo onde se costuram alianças, tornou-se, sob Trump, um circo de horrores. Seus encontros com líderes estrangeiros são armadilhas de espelhos quebrados, refletindo ora o deboche, ora o desprezo. Xi Jinping, o dragão chinês, sentiu o golpe em janeiro, quando Trump acusou Pequim de “enviar fentanil de propósito”, cuspindo nas frágeis tratativas de acordos prévios.
Em fevereiro, foi a vez de Volodymyr Zelensky, o ucraniano de olhos cansados e surrada roupa de combate, que enfrentou um Trump ríspido no Salão Oval, interrompido e humilhado, sem direito a uma coletiva conjunta. A cena, televisionada, era um painel de grosserias, como se a delicadeza fosse um idioma extinto.
Cyril Ramaphosa, o líder sul-africano, também provou o fel em março. Trump, com a arrogância de quem confunde poder com verdade, compartilhou um vídeo falso de violações de direitos humanos, apontando o dedo para a África do Sul, quando, na verdade, as imagens vinham do Congo. Um erro? Talvez. Mas um erro com cheiro de desdém colonial.
E que dizer de Justin Trudeau, o anfitrião do G7, em junho, que ouviu Trump defender a volta da Rússia ao bloco, enquanto o chamava de “governador de estado” e sugeria que o Canadá virasse o 51º estado americano? Uma piada que não fez rir, apenas rangeu os dentes da civilidade canadense.
Keir Starmer, o britânico de sotaque polido, também dançou nessa corda bamba. Em junho, Trump zombou de sua fala, imitando-o como um palhaço de rua, enquanto cuspia: “Vocês perderam o império, agora perdem para nós também?”. Starmer, com a compostura de um lorde, engoliu o sapo, mas Londres rugiu em protesto.
Na cúpula da OTAN, o espetáculo continuou: Trump, com gestos de comediante barato, chamou líderes europeus de “dependentes” e apelidou a si mesmo de “Daddy”, ridicularizando Ursula von der Leyen. O momento virou meme, mas os cacos da dignidade não se colam com risadas.
Na África, o presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Ghazouani, foi cortado com um “pare com isso”, como se fosse um menino repreendido na escola. A imprensa africana esbravejou à hora: “humilhação colonial”.
Na Índia, Narendra Modi ouviu Trump descartar preocupações climáticas como “bobagens indianas” e acusar o país de “roubar empregos americanos”. Modi, turvo como o Ganges, respondeu, mas o vídeo da afronta correu o mundo, um lembrete da brutalidade trumpista.
E agora, Lula. O velho sindicalista, que já enfrentou ditaduras e negociações impossíveis, sabe que dialogar com Trump é como atravessar um rio cheio de jacarés. Antes de qualquer conversa, é preciso tecer, armar rede de cuidados: definir pautas, evitar microfones abertos, fugir da Casa Branca como quem foge de um palco amaldiçoado. Que se preparem Mauro Vieira e Geraldo Alckmin, em encontros prévios com Marco Rubio e JD Vance, para traçar um mapa que evite os atalhos do vexame.
E, se tudo falhar, que seja uma conversa virtual, onde o botão de “desligar” é a última defesa contra o ridículo.
Trump, com seu teatro de sombras, transforma a diplomacia num circo sem graça. Lula, com a sabedoria de quem já viu muitos palcos, precisa decidir se entra nessa dança. Dialogar é preciso, mas não a qualquer preço.
Num mundo de armadilhas, às vezes o melhor passo é o que não se dá.
https://www.brasil247.com/blog/num-mundo-de-armadilhas-as-vezes-o-melhor-passo-e-o-que-nao-se-da
Tarifas de Trump contra China: golpe de 40% na desordem econômica
Casa Branca lança ofensiva com novas tarifas de 40% sobre China, abalando cadeias globais e inflamando tensões comerciais


01 de agosto de 2025
Se a China ergueu a Grande Muralha, com seus 21 mil quilômetros de pedra e história, forjada pelas dinastias, sobretudo a Ming, para barrar invasores nômades, os Estados Unidos, sob Donald Trump, constroem outra muralha — uma barreira colossal de protecionismo econômico. A nova ordem executiva, assinada nesta quinta-feira, 1º de agosto, impõe tarifas de 40% sobre produtos chineses que driblam as barreiras americanas por rotas indiretas, como Sudeste Asiático e México. Essa cicatriz no comércio global resistirá a dois verões?
O objetivo é claro: frear a dependência das fábricas chinesas, que alimentam o déficit comercial americano de US$ 1,2 trilhão. A medida, batizada de combate ao “transbordo”, entra em vigor em uma semana e promete apertar o cerco às cadeias de suprimento globais.
Leio no café da manhã matéria do New York Times que detalha como, desde o primeiro mandato de Trump, empresas chinesas migraram operações para países como Vietnã e México. A tática era simples: evitar tarifas enviando produtos por caminhos indiretos, muitas vezes com selos locais que disfarçam a origem chinesa. Agora, Trump mira esses fluxos com uma sobretaxa de 40%, aplicada além das tarifas já existentes para bens diretos.
As novas regras valem para remessas de qualquer origem, mas a China, com sua vasta rede industrial, será a mais atingida. Stephen Olson, ex-negociador americano e pesquisador em Singapura, alerta: “Isso é uma tentativa de isolar Pequim, e a China reagirá”. Negociações comerciais podem azedar, com retaliações à vista.
A ordem cria uma categoria para produtos transbordados, sem transformação significativa no país intermediário. Países como o Vietnã, que intensificaram inspeções, insistem que seus produtos, montados com peças chinesas, merecem selos locais legítimos.
Além das tarifas, regras de origem estão a caminho, segundo a Casa Branca. Elas exigirão que bens sejam realmente fabricados no país declarado, como no USMCA, que cobra 75% de conteúdo norte-americano para automóveis.
Brad Setser, do Conselho de Relações Exteriores, vê nas regras de origem o maior impacto de longo prazo. “Definir o conteúdo chinês pode mudar o comércio global”, diz ele. Mas há ceticismo: com uma possível cúpula entre Trump e Xi Jinping no horizonte, o governo pode hesitar em adotar medidas tão rígidas.
Um acordo com o Vietnã, firmado em julho, já incluía a tarifa de 40%, mas Hanoi evita confirmá-la publicamente. Outros países do Sudeste Asiático, como a Indonésia, seguem calados.
Trump, sempre imprevisível, suavizou o tom recentemente. Recuou em restrições a chips de IA para a China e elogiou laços positivos com Pequim em diálogo com as Filipinas.
O dilema persiste: os EUA buscam autossuficiência, mas estão presos a interdependências globais. Tarifas podem conter a China, mas elevam preços para o consumidor americano e agitam o comércio mundial. Está em curso um processo de desintegração da ordem mundial como a conhecemos. É um tsunami ainda visto como um amontoado de ondas médias entrecortado por ondas gigantes. Quando nos dermos conta, talvez já seja tarde demais.
Ataque visceral interno se transforma em ataque externo ao Planalto, STF e Congresso Nacional
De 8 de janeiro a 2025: ataques aos Três Poderes evoluem de barbárie interna para graves sanções externas


26 de julho de 2025
Em 8 de janeiro de 2023, o Brasil assistiu a um espetáculo de barbárie que ecoou como um soco no estômago da democracia. Uma horda de extremistas de direita, inflamados por discursos golpistas, invadiu e depredou as sedes físicas dos Três Poderes: o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).
Foi um ataque visceral, interno, perpetrado por brasileiros contra o coração institucional do país. Vidraças estilhaçadas, móveis virados, obras de arte profanadas – símbolos de uma nação saqueada por seus próprios filhos descontentes. Aquela data marcou o ápice de uma polarização que fermentava há anos, com o ex-presidente Jair Bolsonaro no epicentro das acusações de incitação.
Os invasores, vestidos de verde-amarelo deturpado, não só vandalizaram prédios; tentaram demolir a essência da República, questionando a legitimidade das urnas e do processo democrático. Foi uma ofensiva doméstica, com cheiro de pólvora e suor, que exigiu intervenção das forças de segurança e deixou um rastro de prisões e investigações.
Agora, avance o calendário para 25 de julho de 2025. O cenário muda, mas o drama persiste, só que com um tom mais insidioso e global. De Miami, nos Estados Unidos, um deputado autoexilado – fugitivo da justiça brasileira – solta uma bomba retórica: os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta, devem se preparar para sanções americanas. Serão proibidos de entrar em solo norte-americano, a exemplo do que ocorreu na semana passada com oito dos onze ministros do STF, alvos de uma decisão da Casa Branca que os rotulou como ameaças à democracia.
Não há invasores com paus e pedras; há ameaças nem um pouco veladas, escalada de agressividade verbal e pressão econômica vinda de fora.
Os Três Poderes, outrora atacados de dentro, agora sofrem assédio externo, orquestrado por uma superpotência que se arroga o direito de ditar rumos soberanos.
Vejamos o modus operandi, que revela similaridades cabais entre as datas:
Em 2023, o Executivo foi alvejado diretamente, com o Planalto transformado em campo de batalha. Hoje, o ataque ao Executivo é econômico: a imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os EUA, vigente a partir de 1º de agosto de 2025.
É um golpe na veia da economia nacional, capaz de asfixiar indústrias, elevar desemprego e desestabilizar o governo legitimamente constituído.
O STF, que em 2023 viu suas dependências saqueadas, agora enfrenta exigências imperiosas: descontinuar o julgamento de Bolsonaro, sob pena de mais retaliações. É uma interferência no Judiciário, minando sua independência com o fantasma de sanções pessoais.
Já o Legislativo, depredado fisicamente há dois anos, é pressionado a pautar agendas golpistas: na Câmara, o projeto de anistia geral e irrestrita aos envolvidos nos atos contra o Estado de Direito; no Senado, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, visto como algoz dos extremistas.
Essas investidas de 2025 ecoam o 8 de janeiro, mas com sofisticação supranacional.
Antes, o inimigo era interno, visível, caótico. Agora, é externo, calculado, com o selo da Casa Branca – uma mistura de diplomacia coercitiva e retórica belicosa. O deputado exilado age como marionete, amplificando vozes que buscam desestabilizar Brasília de longe.
Ambas as datas compartilham o objetivo: erodir as instituições, questionar a soberania e impor agendas autoritárias. Em 2023, a violência foi física; em 2025, é híbrida, mesclando sanções econômicas, vetos migratórios e ultimatos legislativos.
O que une esses eventos é o padrão de escalada: ataques que visam paralisar os Poderes, forçando concessões. Cedendo a uma, o Brasil arrisca abrir portas para outras – mais tarifas, mais isolamentos, talvez até intervenções veladas. É um ciclo vicioso, onde a submissão alimenta o agressor. A democracia brasileira, ferida internamente em 2023, agora resiste a uma ofensiva estrangeira de grandes proporções. Resta saber se aprenderemos com o passado ou nos curvaremos ao futuro incerto.
Como jornalista com décadas de experiência, e professor de comunicação, sempre me pautei pelos princípios éticos e e negociáveis da profissão: jamais permitir que inclinações políticas guiem as palavras que escrevo ou digito; buscar incansavelmente ouvir todos os lados envolvidos e refletir com profundidade sobre os princípios em jogo.
Minha missão será sempre a de oferecer uma narrativa clara, fundamentada e equilibrada, mas reconheço que a última palavra não me pertence. Ela cabe ao leitor, soberano em sua capacidade de interpretar, questionar e construir sua própria visão da realidade e do mundo.
A diplomacia instável de Trump
Escolhas caóticas de Trump, como Golfo da América, anexação do Canadá e resorts em Gaza, incendeiam caos global, alertando sobre sua clareza mental e estabilidade


19 de julho de 2025
A liderança de uma nação carrega o peso de decisões que reverberam globalmente. Quando a saúde mental de um líder é questionada, o mundo observa com apreensão. A mente humana, epicentro do julgamento e da razão, é um instrumento delicado. Uma mente bem treinada e saudável é essencial para escolhas equilibradas, especialmente em líderes cujas decisões moldam políticas, economias e relações internacionais.
Alterações cognitivas, como confusão mental ou dificuldades de concentração, podem comprometer o livre-arbítrio, levando a escolhas impulsivas ou desconexas, que desestabilizam o tecido político e social. Um líder com clareza mental avalia cenários com lógica, pondera consequências e resiste a impulsos. Já a confusão mental pode obscurecer o discernimento, reduzindo a capacidade de exercer o livre-arbítrio de forma plena, com impactos que transcendem fronteiras.
A saúde mental de líderes globais é um tema sensível, pois decisões erráticas podem desencadear crises.
A seguir, analiso na dupla condição de jornalista e psicanalista, eventos de 2025 em ordem cronológica, destacando como a saúde mental e física pode influenciar decisões controversas do presidente Donald Trump, com ênfase na intromissão no Brasil, pretensões sobre a Groenlândia, cortes a universidades, deportações e a saída da OMS.
21 de janeiro de 2025: Tarifas e emergência na fronteira
No dia da posse, Trump declarou uma emergência nacional na fronteira com o México, citando tráfico de drogas e imigração ilegal, e anunciou tarifas de 25% sobre importações do México e Canadá, efetivadas em 1º de fevereiro. “Vamos proteger nossa economia e fronteiras com tarifas justas!”, proclamou, conforme a BBC.
A decisão sugere impulsividade sob pressão política, segundo The Guardian. Claudia Sheinbaum reagiu: “Essas tarifas são injustas e desestabilizam a região”, segundo a Reuters. Justin Trudeau alertou: “A cooperação econômica está em risco”, conforme The Globe and Mail.
Desde 21 de janeiro, cerca de 140.000 pessoas foram deportadas, conforme The New York Times, embora estimativas independentes apontem 70.000, com operações em cidades-santuário, segundo a Migration Policy Institute. A escala das deportações pode refletir estresse decisório, segundo a BBC.
21 de janeiro de 2025: Saída da Organização Mundial da Saúde
Trump assinou uma ordem executiva iniciando a retirada dos EUA da OMS, alegando má condução da pandemia de Covid-19 e influência da China. “A OMS nos enganou, e ninguém explorará os EUA!”, declarou, conforme a Reuters.
Lawrence Gostin, da Georgetown University, afirmou: “Este é o dia mais sombrio para a saúde global”, segundo The Guardian. A OMS destacou que a colaboração com os EUA salvou “inúmeras vidas”, conforme a CNN.
A decisão, tomada no primeiro dia, sugere sobrecarga mental, segundo Financial Times. A saída exige um ano de aviso, e ações legais estão em curso, conforme The Guardian.
25 de janeiro de 2025: Retomada do Canal do Panamá
Trump propôs retomar o controle do Canal do Panamá, desafiando tratados de 1977. “O Canal é nosso, construído com sangue americano!”, declarou no Truth Social, segundo Washington Post.
A proposta, tão inusitada, pode indicar dificuldade em gerenciar pressões diplomáticas, conforme a BBC.
José Raúl Mulino respondeu: “O Canal é um símbolo inegociável de nossa soberania”, segundo a EFE. A OEA condenou a proposta, e protestos no Panamá denunciaram “imperialismo”, conforme a Reuters.
28 de janeiro de 2025: Interesse na Groenlândia
Trump anunciou a intenção de negociar a compra da Groenlândia, citando interesses estratégicos. “A Groenlândia é essencial para a segurança e domínio econômico no Ártico!”, afirmou, segundo a Reuters.
Mette Frederiksen rejeitou: “A Groenlândia não está à venda. É uma afronta à nossa soberania”, conforme a BBC.
A proposta, que ecoa 2019, pode refletir busca por impacto midiático sob pressão, segundo a Al Jazeera.
5 de fevereiro de 2025: Ameaça à Otan
Trump ameaçou cortar o financiamento à Otan, alegando que aliados “não pagam o suficiente”. “Que a Europa se defenda sozinha!”, declarou, segundo Washington Post.
Jens Stoltenberg alertou: “A unidade da Otan é essencial”, segundo a Reuters. Emmanuel Macron afirmou: “A estabilidade transatlântica depende de liderança racional”, conforme Le Monde.
10 de fevereiro de 2025: Renomeação do Golfo do México
Trump propôs renomear o Golfo do México como “Golfo da América”. “Vamos honrar nossa nação!”, afirmou no Truth Social, segundo a BBC.
Juan Ramón de la Fuente declarou: “O Golfo é parte de nossa história compartilhada”, conforme a Reuters. (Mesmo assim, poucos dias depois o Google se apressou em atualizar em seu aplicativo de mapas o nome para Golfo da América!).
A proposta pode indicar busca por validação sob estresse, segundo a Al Jazeera.
26 de fevereiro de 2025: Confronto com Zelenskyy
Trump confrontou Volodymyr Zelenskyy, criticando a guerra na Ucrânia. “Resolvam isso rápido ou não terão nosso dinheiro!”, exclamou, e continuou no bate-boca televisionado do salão oval afirmando “O senhor não tem as cartas. Se continuar com essa guerra vai perder o país inteiro!” segundo The New York Times.
Volodmir Zelenskyy respondeu: “A Ucrânia luta pela sua sobrevivência”, conforme a Reuters.
O tom sugere dificuldade em gerenciar tensões, conforme The Guardian.
28 de fevereiro de 2025: Projeto turístico em Gaza
Trump propôs transformar Gaza em um destino turístico. “Gaza será o novo Dubai!”, disse, segundo Al Jazeera.
Tor Wennesland, da ONU, afirmou: “É inaceitável propor turismo em meio à catástrofe”, segundo a Reuters.
A proposta sugere desconexão sob pressão, conforme a BBC.
10 de março de 2025: Tarifas à China
Trump elevou tarifas sobre produtos chineses para 145%, reduzidas para 30% em 12 de maio. “Estamos vencendo a China!”, postou, segundo The New York Times.
Lin Jian alertou: “Essas tarifas prejudicam a todos”, conforme a Reuters.
A volatilidade pode refletir impulsividade, segundo Financial Times.
2 de abril de 2025: Anexação do Canadá
Trump sugeriu anexar o Canadá como “51º estado”. “O Canadá será mais forte conosco!”, disse à Fox News, segundo a Reuters.
JustinTrudeau respondeu: “O Canadá é soberano, e isso é absurdo. Jamais seremos parte dos Estados Unidos!”, conforme CBC.
15 de abril de 2025: Proposta sobre a Groenlândia
Trump reiterou, após a proposta de 28 de janeiro de 2025, a intenção de adquirir a Groenlândia, sugerindo “acordos de soberania compartilhada”. “A Groenlândia pode ser o futuro da América no Ártico!”, declarou no Truth Social, segundo The New York Times.
Lars Løkke Rasmussen afirmou: “A soberania da Groenlândia é inegociável”, conforme a Al Jazeera.
A insistência pode indicar dificuldade em lidar com frustrações, segundo Financial Times.
22 de maio de 2025: Confronto com Ramaphosa
Trump apresentou um vídeo falso sobre perseguição na África do Sul, usando imagens do Congo. “Expondo a verdade!”, disse, segundo Washington Post.
Ramaphosa rebateu: “Essa desinformação insulta nossa democracia”, conforme a Al Jazeera.
A manipulação sugere estresse cognitivo, segundo a Reuters.
4 de junho de 2025: Corte de financiamento a universidades
Trump suspendeu o financiamento federal para Harvard e outras universidades, alegando “ideologias antiamericanas”. “Não financiaremos universidades que ensinam ódio à América!”, afirmou, segundo The New York Times.
Leo Gerdén, ex-aluno, chamou a medida de “ultrajante”, conforme The New York Times. Harvard prometeu ações judiciais, conforme a Reuters.
A decisão pode refletir impulsividade, segundo a BBC.
1º de julho de 2025: Disputa com Saoirse Ronan
Trump ameaçou revogar a cidadania de Saoirse Ronan por críticas migratórias. “Se não ama a América, que fique na Irlanda!”, postou, segundo The New York Times.
Ronan respondeu: “Defendo a justiça, e ameaças não me silenciarão”, conforme The Guardian.
6 de julho de 2025: Tarifas ao BRICS
No encontro do BRICS no Rio, Trump ameaçou tarifas de 10% contra o bloco por uma moeda alternativa. “Ninguém substituirá o dólar!”, afirmou, segundo a Reuters.
Lula respondeu: “O Brasil não aceita ameaças”, conforme a mídia brasileira. Ramaphosa disse: “Defenderemos nossa soberania econômica”, segundo a BBC.
9 de julho de 2025: Tarifas ao Brasil
Trump anunciou tarifas de 50% contra o Brasil, em defesa de Jair Bolsonaro, acusado de tentar um golpe em 2022. “O Brasil promove uma caça às bruxas contra um grande líder! O Judiciário deve parar a ação penal imediatamente!”, escreveu no Truth Social, segundo The New York Times.
Lula retrucou: “O Brasil é uma democracia soberana e não aceita tutela externa”, conforme a Folha de S.Paulo. Alexandre de Moraes afirmou: “A justiça brasileira é independente”, segundo o Estadão.
A tarifa, contradizendo um superávit americano de US$ 7,4 bilhões, sugere alianças pessoais sob estresse, segundo Financial Times.
Foram apenas informações desencontradas ou sinais evidentes de confusão mental? Essa é uma dúvida razoável.
14 de julho de 2025: Tarifas à Rússia
Trump ameaçou tarifas de 100% à Rússia por um acordo de paz com a Ucrânia. “A Rússia vai pagar caro!”, disse à CNN, segundo a Reuters. Dmitry Peskov respondeu: “Não negociamos sob chantagem”, segundo a TASS.
15 de julho de 2025: Investigação de semicondutores
Trump ordenou investigar importações de semicondutores, mirando Taiwan. “Vamos trazer os chips de volta!”, afirmou, segundo The New York Times. Tsai Ing-wen alertou: “A cooperação global é essencial”, conforme a Reuters.
17 de julho de 2025: Saúde de Trump
A Casa Branca informou que Trump, aos 79 anos, foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica após exames no Walter Reed, motivados por inchaço nas pernas. A ultrassonografia descartou trombose, mas a condição causa dor, inchaço e, em casos graves, úlceras.
“Estou mais forte do que nunca!”, declarou Trump, conforme a BBC. Especialistas, citados pelo The Guardian, observaram que a condição exige monitoramento, podendo agravar estresse físico e mental.
A Reuters relatou que a limitação de mobilidade pode intensificar a pressão psicológica, aumentando o risco de impulsividade.
As decisões erráticas de Trump, influenciadas por pressões psicológicas e de saúde, como a insuficiência venosa crônica, ameaçam a estabilidade global. A intromissão no Brasil, as pretensões sobre a Groenlândia, os cortes a universidades e as deportações em massa exemplificam como estresse e condições de saúde podem distorcer prioridades.
A clareza mental é uma salvaguarda contra o caos, e sua ausência pode precipitar crises. A comunidade internacional deve promover cooperação e racionalidade. Mas o que temos é o exato oposto. Com certeza 2025 entra na história como o ano em que ninguém morrerá de tédio. E estamos apenas na metade do ano. Ufa!
Grande muralha renasce: Rota da Seda conecta o mundo
Dragão de pedra desperta com trilhos e navios que cruzam continentes e redesenham o comércio global


16 de julho de 2025
A Grande Muralha da China, com seus 21.259 quilômetros de pedra e tenacidade, não é apenas um marco, mas um desafio à eternidade. Iniciada no século III a.C., sob a dinastia Qin, e ampliada até a dinastia Ming (1368–1644), ela serpenteia montanhas, desertos e planícies, com torres de vigia que parecem roçar as nuvens. Sem guindastes ou cimento moderno, seus construtores moveram 400 milhões de toneladas de material, segundo a UNESCO, como se cada pedra respirasse obstinação.
Hoje, turistas posam em seus parapeitos, mas a China ergue algo ainda mais vasto: o Cinturão e Rota da Seda (Belt and Road Initiative, BRI). Lançado em 2013 por Xi Jinping, esse projeto é uma muralha moderna, tecida com trilhos, portos e acordos comerciais, conectando continentes com a mesma ambição que moldou a Muralha antiga.
Nos últimos 20 anos, o poderio chinês se tornou um colosso. Em 2001, ao ingressar na Organização Mundial do Comércio, o PIB da China era de US$ 1,3 trilhão. Em 2024, alcançou US$ 18,3 trilhões, segundo o Fundo Monetário Internacional, consolidando-se como a segunda maior economia global. Reformas, investimentos em infraestrutura e uma força de trabalho incansável pavimentaram esse caminho.
O segredo está no planejamento de longo prazo. Planos quinquenais e políticas de abertura controlada fizeram da China líder em cadeias globais de suprimento, de eletrônicos a turbinas eólicas. A Muralha, com seus dois mil anos, já ensinava: a paciência constrói impérios.
O Cinturão e Rota da Seda é a nova face dessa visão. O “Cinturão” conecta a China à Europa, à Ásia Central e ao Oriente Médio por terra. A “Rota” traça caminhos marítimos pelo Oceano Índico, África Oriental e Mediterrâneo. Com US$ 1 trilhão em investimentos, o BRI abrange 140 países, segundo o Banco Mundial, construindo portos, ferrovias e rodovias para impulsionar o comércio.
Na América do Sul, o BRI ganha contornos estratégicos. Países como Brasil, Peru e Chile participam com projetos de infraestrutura, como a Ferrovia Bioceânica, que pretende ligar o Atlântico ao Pacífico, reduzindo custos logísticos. A China já investiu US$ 70 bilhões na região, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), focando em portos — como o de Chancay, no Peru — e em energia renovável. O objetivo é ampliar o acesso a matérias-primas, como soja e minério, e fortalecer laços comerciais, embora preocupações com dívidas e impacto ambiental persistam.
Os objetivos globais do BRI são claros: expandir mercados, reduzir barreiras logísticas e promover desenvolvimento. Projetos como a ferrovia China-Paquistão e o porto de Gwadar ainda enfrentam desafios, como atrasos e dívidas. A escala é monumental: o BRI conecta 60% da população global e 35% do PIB mundial, conforme a agência Xinhua.
Financeiramente, o projeto mobiliza bancos estatais chineses e fundos multilaterais, como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Ambientalmente, há tensões: usinas a carvão financiadas em alguns países contrastam com as metas chinesas de neutralidade de carbono até 2060. Ainda assim, projetos solares e eólicos florescem na África e na Ásia.
A Muralha antiga, com suas escadarias íngremes, nunca deteve todos os invasores, mas moldou a identidade chinesa. O BRI é uma muralha de conexão, não de defesa, tecendo uma teia de aço e asfalto que une continentes.
Essa nova muralha não separa, mas abraça o mundo, porto por porto, trilho por trilho. Como a Muralha antiga, que resistiu a dinastias e tempestades, o BRI constrói um futuro em que a China não apenas sobrevive, mas redesenha o globo. A grandeza, afinal, não se mede em décadas, mas em eras.
https://www.brasil247.com/blog/grande-muralha-renasce-rota-da-seda-conecta-o-mundo
A batalha pela soberania em um mundo de potências imperiais
O livro História tem muitos capítulos demonstrando como ataques a soberania de países e intervenções estrangeira criam caos, crises humanitárias e instabilidade global


15 de julho de 2025
Soberania é palavra que carrega séculos de história, lutas e reflexões, mas que, em 2025, parece mais frágil do que nunca. No dia 7 de julho de 2025, uma carta de Donald Trump, então presidente dos EUA, caiu como um petardo no Brasil. O texto, enviado ao presidente brasileiro por intermédio de redes sociais, não apenas ameaça impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos EUA – nosso segundo maior parceiro comercial, com um fluxo de US$ 88,2 bilhões em 2024, segundo o Ministério da Economia – mas vai além: exige, em seu primeiro parágrafo, a suspensão imediata de processos judiciais contra Jair Bolsonaro. "Este julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!", escreveu.
É óbvio que brilha como luz neon o advérbio 'imediatamente' — a significar "sem demora; no mesmo instante; sem intervalo de tempo". As palavras soam menos como uma correspondência entre chefes de Estado e mais como um édito imperial, desproporcional e inaceitável entre duas das maiores democracias do mundo ocidental.
Como professor de sociologia da comunicação, não posso deixar de enxergar o que está em jogo: um ataque direto à nossa capacidade de decidir nosso próprio destino. Em sentido estrito, a carta tem peso político considerável, algo inédito nas relações entre as duas nações e que traz consigo dois séculos de história pacífica e produtiva.
O que é soberania?
Antes de mergulhar na carta de Trump, vale entender o que está em xeque. No direito internacional, soberania é a pedra de toque do Estado-nação. Desde a Paz de Westfália, em 1648, ela significa a autoridade suprema de um país em seu território, sem ingerências externas.
A Carta da ONU, no Artigo 2, § 1, consagra a igualdade soberana entre Estados, e no § 7 proíbe intervenções em assuntos internos. Mas a globalização complicou as coisas. Tratados internacionais, como os de direitos humanos, e organismos como a OMC impõem limites à soberania absoluta. Hoje, ser soberano é navegar entre autonomia interna e pressões globais – que pode, em um parque de diversões, alternar roda-gigante com montanha-russa em questão de horas.
Na filosofia, a soberania ganha contornos mais humanos.
Jean Bodin, no século XVI, via o soberano como um poder absoluto, inalienável, quase divino.
Thomas Hobbes, em Leviatã (1651), defendia que cedemos direitos a um soberano para escapar do caos.
Rousseau, em 1762, virou o jogo: a soberania pertence ao povo, expressa pela vontade geral.
Já Hannah Arendt, no século XX, alertava que soberania absoluta pode virar tirania, defendendo um poder compartilhado, plural.
Essas ideias mostram que soberania não é só sobre fronteiras, mas sobre quem manda – e como.
Na ciência política, soberania é o que faz um Estado ser Estado: autoridade interna para criar leis e autonomia externa para conduzir relações internacionais. Mas o mundo de 2025 não parece ter essa ideia pacificada. Países com as maiores economias e os maiores orçamentos militares usam sanções, pressões econômicas e até intervenções militares para moldar nações menores aos seus interesses.
É aqui que a carta de Trump entra como um elefante em uma loja de cristais.
Uma afronta explícita
No dia 7 de julho de 2025, Donald Trump enviou uma carta que não deixa margem para interpretações suaves. Voltando ao primeiro parágrafo, por que não pode ser esquecido, se exige do Brasil a suspensão sem demora dos processos judiciais contra Jair Bolsonaro, investigado por crimes que vão de incitação à violência a tentativas de subverter as eleições de 2022, conforme relatórios do Supremo Tribunal Federal (STF). Trump não apresenta justificativas legais, apenas insinua que a continuidade dos processos pode “prejudicar as relações bilaterais”.
É uma chantagem ostensiva, de caso pensado: ou o Brasil cede, ou enfrenta retaliações.
Além disso, a carta ameaça impor tarifas de 50% sobre exportações brasileiras, que representam 13% do nosso PIB, segundo o IBGE. Trechos como “o Brasil deve alinhar suas políticas comerciais aos interesses americanos” e “a cooperação com os BRICS, especialmente o Irã, é um desafio à liderança global dos EUA” mostram uma tentativa de subordinar nossa política externa. O americano ainda condiciona a “prosperidade da parceria” a mudanças nas prioridades econômicas e políticas do Brasil. Isso não é diplomacia; é coerção. É intimidação por meio de dependência financeira.
O impacto econômico seria muito prejudicial ao país. Em 2024, o Brasil exportou US$ 31,2 bilhões em bens para os EUA, segundo a Secretaria de Comércio Exterior. Tarifas de 50% poderiam cortar esse valor pela metade, afetando setores como agronegócio, mineração e manufatura.
Mais grave ainda: a exigência sobre Bolsonaro ataca o coração da nossa soberania, que é o direito de julgar nossos cidadãos mediante a aplicação de nosso arcabouço jurídico, de nossas leis.
O que o passado ensina sobre violações de soberania
A história está cheia de exemplos de como ingerências externas podem destruir nações.
Em 2003, os EUA invadiram o Iraque sob o pretexto de eliminar armas de destruição em massa – que nunca foram encontradas. O resultado? Mais de 200 mil mortes, segundo estimativas da The Lancet, e o surgimento do ISIS.
Em 2011, a intervenção da OTAN na Líbia, justificada pela “responsabilidade de proteger”, derrubou Gaddafi e deixou o país em guerra civil, com 20 mil mortos até 2020, conforme a ONU.
Em 2013, Edward Snowden revelou que a NSA (Agência de Segurança Nacional dos EUA) espionava até aliados, incluindo a então presidente Dilma Rousseff, minando a confiança diplomática.
Mais recente, em 21 de junho de 2025, os EUA atacaram instalações nucleares iranianas, violando sua soberania. O Brasil, como parte dos BRICS, condenou a ação, que desestabilizou o Oriente Médio e elevou os preços do petróleo em 15%, segundo a Bloomberg. Esses casos mostram que intervenções externas, sejam militares, econômicas ou judiciais, geram caos, crises humanitárias e instabilidade global.
O Brasil aos olhos do mundo
A carta de Trump não é um fato isolado. É parte de um padrão em que potências globais tentam moldar nações menores. O Brasil, com sua economia de US$ 2,1 trilhões (FMI, 2024) e sua influência nos BRICS, é um alvo estratégico. Nossa parceria com o Irã e a China, que juntos representam 25% do nosso comércio exterior, incomoda os EUA. A exigência de suspender processos contra Bolsonaro é um teste: até onde o Brasil está disposto a ceder?
Como jornalista, vejo o Brasil em uma encruzilhada. Defender nossa soberania exige mais do que palavras. É preciso diversificar parcerias comerciais – em 2024, a China já superou os EUA como nosso maior parceiro, com US$ 105 bilhões em trocas. É preciso fortalecer instituições, como o STF, para garantir que ninguém, nem mesmo um ex-presidente, esteja acima da lei. E é preciso coragem para dizer “não” a pressões externas, mesmo que isso custe caro.
Nossa soberania não é negociável. Cabe a nós, como nação, proteger o que é nosso – do Judiciário às nossas florestas, das nossas leis ao nosso direito de escolher nosso caminho. O Brasil, se quiser, pode responder com a força de quem sabe o que é ser soberano.
Em tempo: se qualquer outra nação tivesse enviado carta naqueles termos a qualquer país, com linguagem tão inapropriada – fosse a China, Angola, Rússia ou Luxemburgo –, não hesitaria em escrever essas mesmas reflexões. Mudaria apenas o nome do país e os dados econômicos atinentes às suas economias. Como pensador livre, não tomo partido, apresento ideias, defendo causas.
Soberania
O livro da História tem muitos capítulos demonstrando como ataques à soberania de países e intervenções estrangeiras criam caos e crises humanitárias


14 de julho de 2025
Soberania é palavra que carrega séculos de história, lutas e reflexões, mas que, em 2025, parece mais frágil do que nunca. No dia 7 de julho de 2025, uma carta de Donald Trump, então presidente dos EUA, caiu como um petardo no Brasil. O texto, enviado ao presidente brasileiro por intermédio de redes sociais, não apenas ameaça impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos EUA – nosso segundo maior parceiro comercial, com um fluxo de US$ 88,2 bilhões em 2024, segundo o Ministério da Economia – mas vai além: exige, em seu primeiro parágrafo, a suspensão imediata de processos judiciais contra Jair Bolsonaro. "Este julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!", escreveu.
É óbvio que brilha como luz neon o advérbio 'imediatamente' — a significar "sem demora; no mesmo instante; sem intervalo de tempo". As palavras soam menos como uma correspondência entre chefes de Estado e mais como um édito imperial, desproporcional e inaceitável entre duas das maiores democracias do mundo ocidental.
Como professor de sociologia da comunicação, não posso deixar de enxergar o que está em jogo: um ataque direto à nossa capacidade de decidir nosso próprio destino. Em sentido estrito, a carta tem peso político considerável, algo inédito nas relações entre as duas nações e que traz consigo dois séculos de história pacífica e produtiva.
O que é soberania?
Antes de mergulhar na carta de Trump, vale entender o que está em xeque. No direito internacional, soberania é a pedra de toque do Estado-nação. Desde a Paz de Westfália, em 1648, ela significa a autoridade suprema de um país em seu território, sem ingerências externas.
A Carta da ONU, no Artigo 2, § 1, consagra a igualdade soberana entre Estados, e no § 7 proíbe intervenções em assuntos internos. Mas a globalização complicou as coisas. Tratados internacionais, como os de direitos humanos, e organismos como a OMC impõem limites à soberania absoluta. Hoje, ser soberano é navegar entre autonomia interna e pressões globais – que pode, em um parque de diversões, alternar roda-gigante com montanha-russa em questão de horas.
Na filosofia, a soberania ganha contornos mais humanos.
Jean Bodin, no século XVI, via o soberano como um poder absoluto, inalienável, quase divino.
Thomas Hobbes, em Leviatã (1651), defendia que cedemos direitos a um soberano para escapar do caos.
Rousseau, em 1762, virou o jogo: a soberania pertence ao povo, expressa pela vontade geral.
Já Hannah Arendt, no século XX, alertava que soberania absoluta pode virar tirania, defendendo um poder compartilhado, plural.
Essas ideias mostram que soberania não é só sobre fronteiras, mas sobre quem manda – e como.
Na ciência política, soberania é o que faz um Estado ser Estado: autoridade interna para criar leis e autonomia externa para conduzir relações internacionais. Mas o mundo de 2025 não parece ter essa ideia pacificada. Países com as maiores economias e os maiores orçamentos militares usam sanções, pressões econômicas e até intervenções militares para moldar nações menores aos seus interesses.
É aqui que a carta de Trump entra como um elefante em uma loja de cristais.
Uma afronta explícita
No dia 7 de julho de 2025, Donald Trump enviou uma carta que não deixa margem para interpretações suaves. Voltando ao primeiro parágrafo, por que não pode ser esquecido, se exige do Brasil a suspensão sem demora dos processos judiciais contra Jair Bolsonaro, investigado por crimes que vão de incitação à violência a tentativas de subverter as eleições de 2022, conforme relatórios do Supremo Tribunal Federal (STF). Trump não apresenta justificativas legais, apenas insinua que a continuidade dos processos pode “prejudicar as relações bilaterais”.
É uma chantagem ostensiva, de caso pensado: ou o Brasil cede, ou enfrenta retaliações.
Além disso, a carta ameaça impor tarifas de 50% sobre exportações brasileiras, que representam 13% do nosso PIB, segundo o IBGE. Trechos como “o Brasil deve alinhar suas políticas comerciais aos interesses americanos” e “a cooperação com os BRICS, especialmente o Irã, é um desafio à liderança global dos EUA” mostram uma tentativa de subordinar nossa política externa. O americano ainda condiciona a “prosperidade da parceria” a mudanças nas prioridades econômicas e políticas do Brasil. Isso não é diplomacia; é coerção. É intimidação por meio de dependência financeira.
O impacto econômico seria muito prejudicial ao país. Em 2024, o Brasil exportou US$ 31,2 bilhões em bens para os EUA, segundo a Secretaria de Comércio Exterior. Tarifas de 50% poderiam cortar esse valor pela metade, afetando setores como agronegócio, mineração e manufatura.
Mais grave ainda: a exigência sobre Bolsonaro ataca o coração da nossa soberania, que é o direito de julgar nossos cidadãos mediante a aplicação de nosso arcabouço jurídico, de nossas leis.
O que o passado ensina sobre violações de soberania
A história está cheia de exemplos de como ingerências externas podem destruir nações.
Em 2003, os EUA invadiram o Iraque sob o pretexto de eliminar armas de destruição em massa – que nunca foram encontradas. O resultado? Mais de 200 mil mortes, segundo estimativas da The Lancet, e o surgimento do ISIS.
Em 2011, a intervenção da OTAN na Líbia, justificada pela “responsabilidade de proteger”, derrubou Gaddafi e deixou o país em guerra civil, com 20 mil mortos até 2020, conforme a ONU.
Em 2013, Edward Snowden revelou que a NSA (Agência de Segurança Nacional dos EUA) espionava até aliados, incluindo a então presidente Dilma Rousseff, minando a confiança diplomática.
Mais recente, em 21 de junho de 2025, os EUA atacaram instalações nucleares iranianas, violando sua soberania. O Brasil, como parte dos BRICS, condenou a ação, que desestabilizou o Oriente Médio e elevou os preços do petróleo em 15%, segundo a Bloomberg. Esses casos mostram que intervenções externas, sejam militares, econômicas ou judiciais, geram caos, crises humanitárias e instabilidade global.
O Brasil aos olhos do mundo
A carta de Trump não é um fato isolado. É parte de um padrão em que potências globais tentam moldar nações menores. O Brasil, com sua economia de US$ 2,1 trilhões (FMI, 2024) e sua influência nos BRICS, é um alvo estratégico. Nossa parceria com o Irã e a China, que juntos representam 25% do nosso comércio exterior, incomoda os EUA. A exigência de suspender processos contra Bolsonaro é um teste: até onde o Brasil está disposto a ceder?
Como jornalista, vejo o Brasil em uma encruzilhada. Defender nossa soberania exige mais do que palavras. É preciso diversificar parcerias comerciais – em 2024, a China já superou os EUA como nosso maior parceiro, com US$ 105 bilhões em trocas. É preciso fortalecer instituições, como o STF, para garantir que ninguém, nem mesmo um ex-presidente, esteja acima da lei. E é preciso coragem para dizer “não” a pressões externas, mesmo que isso custe caro.
Nossa soberania não é negociável. Cabe a nós, como nação, proteger o que é nosso – do Judiciário às nossas florestas, das nossas leis ao nosso direito de escolher nosso caminho. O Brasil, se quiser, pode responder com a força de quem sabe o que é ser soberano.
Em tempo: se qualquer outra nação tivesse enviado carta naqueles termos a qualquer país, com linguagem tão inapropriada – fosse a China, Angola, Rússia ou Luxemburgo –, não hesitaria em escrever essas mesmas reflexões. Mudaria apenas o nome do país e os dados econômicos atinentes às suas economias. Como pensador livre, não tomo partido, apresento ideias, defendo causas.
Tarifas americanas e a desafinada coreografia da manipulação financeira global
Vaivém de tarifas alimenta manipulação financeira, exigindo seriedade para estabilizar o palco econômico global


13 de julho de 2025
No palco global da economia, onde nações dançam como marionetes movidas por fios invisíveis de políticas comerciais e interesses financeiros, a decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras, anunciada em julho de 2025, é mais um ato de um espetáculo calculado. Sob o pretexto de corrigir desequilíbrios comerciais e pressionar o Brasil em razão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Casa Branca, liderada por Donald Trump, puxa os fios que controlam bolsas de valores, moedas e cadeias de suprimento.
O Brasil, com sua economia resiliente e um parceiro comercial robusto como a China, não é apenas uma vítima nesse teatro. Ele pode redirecionar sua dança, ajustando os passos para novos mercados e desafiando a narrativa de que as tarifas americanas são um golpe fatal. Enquanto isso, o vaivém das tarifas, agora intensificado com 35% sobre Canadá e México a partir de 1º de agosto de 2025, cria um intervalo de tempo perfeito para a manipulação artificial das finanças globais, beneficiando especuladores que lucram com o caos orquestrado.
A manipulação de mercado é o ato de distorcer preços de ativos financeiros – ações, moedas, commodities – para gerar lucros em meio à volatilidade. Quando Trump anunciou a tarifa de 50% contra o Brasil, a B3 viu o Ibovespa cair 4,7%, segundo dados da bolsa. O real desvalorizou 2,3% frente ao dólar, conforme o Banco Central.
Esse solavanco não é isolado. Desde fevereiro de 2025, as tarifas “recíprocas” de Trump, que variam de 10% a 49% sobre países como China (34%), Vietnã (46%), Japão (24%) e União Europeia (20%), desencadearam turbulências globais. Em 3 de abril, o S&P 500 despencou 4,8%, o pior dia desde junho de 2020, segundo a Bloomberg. A bolsa de Xangai caiu 3,2%, e o FTSE 100 oscilou.
Em 12 de julho de 2025, a Casa Branca anunciou tarifas de 35% sobre Canadá e México, seus vizinhos e parceiros do USMCA, intensificando a pressão sobre a economia norte-americana integrada, segundo a Reuters. Esses choques criam um palco onde especuladores, munidos de informações privilegiadas, compram ativos desvalorizados e lucram com a recuperação. Essa recuperação frequentemente ocorre após negociações diplomáticas ou pausas táticas, como a extensão do prazo tarifário até 1º de agosto.
O vaivém das tarifas é crucial. A suspensão temporária de tarifas ou prazos esticados, como os 90 dias de negociações com a China em maio de 2025, que reduziram tarifas de 145% para 30%, segundo o Peterson Institute, cria janelas de oportunidade para manipulação. Investidores posicionados vendem a descoberto durante o pânico e compram na baixa, antecipando a estabilização.
Na guerra comercial EUA-China de 2018-2019, fundos de hedge lucraram US$ 12 bilhões com essas oscilações, segundo o Goldman Sachs. Agora, com tarifas de 35% sobre Canadá e México, o Federal Reserve Bank de Atlanta projeta uma contração de 2,8% no PIB americano no primeiro trimestre de 2025. Isso evidencia como o caos beneficia quem sabe dançar entre os fios.
O Brasil, no entanto, não está preso a um roteiro catastrófico. Desde 2009, a China é seu principal parceiro comercial, absorvendo 28% das exportações brasileiras em 2024, segundo o ComexVis. Em contraste, os EUA respondem por apenas 12%, equivalente a 2% do PIB.
Em 2024, o comércio Brasil-China atingiu US$ 188,17 bilhões, com um superávit brasileiro de US$ 44 bilhões, segundo a General Administration of Customs da China. As exportações de soja (76,6% para a China no primeiro trimestre de 2025), petróleo (40%) e carne bovina crescem, especialmente após a China banir 400 frigoríficos americanos.
A tarifa de 50% sobre café (33% do mercado americano), suco de laranja (50%) e carne pode elevar custos, mas o Brasil tem condições de redirecionar exportações para Ásia, Europa e Oriente Médio a médio prazo. A Embraer, com 20% de sua receita atrelada aos EUA, e a Petrobras enfrentam desafios, mas a diversificação comercial, fortalecida pelo BRICS, é um trunfo. No 17º Summit do BRICS, em julho de 2025, no Rio, espera-se avanços em acordos com a China, segundo a Lexology.
As tarifas custam caro. Nos EUA, arrecadaram US$ 108 bilhões em nove meses, mas 49% desse custo recai sobre consumidores americanos, 39% sobre empresas e apenas 12% sobre exportadores, segundo o Goldman Sachs. O Brasil, com a Lei de Reciprocidade Econômica, ameaça retaliar com tarifas sobre bens americanos, como combustíveis e aeronaves.
Lula classificou as justificativas de Trump como “ultrajantes”, mas a resposta brasileira é pragmática: diversificar mercados e contestar as tarifas na OMC. A volatilidade global, com investidores estrangeiros controlando 55,8% do volume financeiro da B3 em 2024, exige vigilância da CVM e da SEC contra manipulações.
Nesse teatro, os fios invisíveis das tarifas criam um balé de incertezas, mas o Brasil pode ajustar seus passos. A manipulação financeira prospera nas pausas e recuos das tarifas, e o mundo precisa cortar esses fios. A OMC, reguladores e nações devem garantir que o palco global não seja dominado por marionetistas que lucram enquanto as economias dançam no caos.
Porém, como toda mágica repetida exaustivamente em um curto espaço de tempo, o truque das tarifas começa a perder seu encanto. Os mercados, calejados por sucessivos anúncios e recuos, aprendem a prever os movimentos do mágico. A volatilidade, antes chocante, torna-se um roteiro esperado, e os lucros dos especuladores podem diminuir à medida que as nações ajustam suas estratégias.
Um choque de seriedade é inadiável. Os protagonistas desse vendaval econômico – governos, reguladores e instituições internacionais – precisam abandonar o espetáculo de ilusões e adotar medidas transparentes e coordenadas. Só assim o palco global deixará de ser um circo de manipulações, permitindo que as nações dancem com soberania e estabilidade.
Muito além do suco de laranja
Para além de bravatas e com olhar afiado para as conexões invisíveis que movem o mundo, vejo espaço para recriar uma produtiva sinergia entre Brasil e Estados Unidos


12 de julho de 2025
O Brasil, uma nação muitas vezes subestimada no cenário global, carrega um peso estratégico que faz os Estados Unidos olharem para cá com atenção redobrada. Não é só o samba, o carnaval ou a Amazônia que brilham no imaginário mundial. É o que sai das nossas minas, fazendas, indústrias e laboratórios que molda a economia e a segurança do Tio Sam. Vamos por partes, porque o cardápio é farto e a conversa é séria.
Quando o assunto é níquel, nióbio, manganês, grafite e terras raras, o Brasil não é apenas um participante — é uma peça central no xadrez global. Esses minerais, que parecem jargões de química avançada, são o coração de baterias de carros elétricos, semicondutores, equipamentos de defesa e tecnologias de energia limpa.
Num mundo onde a disputa com a China por recursos estratégicos é acirrada, o Brasil surge como um fornecedor confiável, um aliado que não joga com chantagens geopolíticas. Para os EUA, que buscam reduzir a dependência de Pequim, nosso solo é um tesouro. Somos um dos poucos países com reservas abundantes e capacidade de entrega.
Suba a bordo de um voo regional nos EUA e é bem provável que você esteja voando em um jato da Embraer. Mais de 500 aeronaves da empresa brasileira cruzam os céus americanos diariamente, conectando cidades que não aparecem nos mapas dos grandes centros. A Embraer não é só uma marca; é a rainha dos jatos regionais, e os EUA sabem disso. Mais que exportar aviões, a empresa mantém uma fábrica em solo americano, gerando empregos e reforçando laços industriais. É o Brasil voando alto na terra do Tio Sam.
Agro brasileiro alimenta os EUA
Se você já tomou um copo de suco de laranja nos EUA, há 80% de chance de que ele veio do Brasil. A Flórida, outrora a meca da laranja, está em declínio, e o agro brasileiro supre essa lacuna com maestria. Mas não para por aí. Somos líderes mundiais na exportação de carne bovina, frango e soja, com os EUA como clientes de primeira hora.
Em 2023, o Brasil exportou cerca de US$ 900 milhões em carne bovina para os EUA, com a JBS, maior processadora de carne do mundo, liderando o fornecimento.
Estima-se que 7-8% do consumo de carne bovina nos EUA, cerca de 1 milhão de toneladas anuais, venha de pastos brasileiros. Isso significa que muitos hambúrgueres em redes de fast-food e supermercados têm raízes no Brasil.
A Amazônia, frequentemente chamada de “pulmão do planeta”, produz entre 6 e 9% do oxigênio global e atua como um sumidouro vital de carbono, absorvendo mais CO2 do que emite quando preservada.
A biodiversidade da Amazônia — com cerca de 40.000 espécies de plantas e mais de 400 mamíferos — é um tesouro inexplorado. Menos de 1% das plantas amazônicas foram estudadas para compostos bioativos, que poderiam revolucionar a indústria farmacêutica com novos medicamentos. Mas o desmatamento e a falta de investimento em pesquisa sustentável limitam esse potencial.
A Amazônia abriga o maior volume de água doce do planeta. O Rio Amazonas, sozinho, despeja 209.000 metros cúbicos de água por segundo no Atlântico, representando 20% do fluxo global de água doce para os oceanos.
Num futuro em que a água potável pode valer mais que o petróleo, o Brasil, com sua vasta rede hidrográfica amazônica, está posicionado como uma potência.
A gestão sustentável desses recursos será crucial, especialmente em tempos de mudanças climáticas, mas o desmatamento e a poluição por mineração ilegal ameaçam essa riqueza.
Inovação brasileira conquista os EUA
Não nos iludamos pensando que somos apenas campos e minas. O Brasil é um polo de inovação com laços profundos com os EUA. A WEG, gigante de motores elétricos, opera uma planta na Geórgia. A GranBio, nascida no ecossistema do IPT, constrói uma biorrefinaria nos EUA focada em biocombustíveis avançados.
Marcopolo e Tupy, com fábricas no México, aproveitam a proximidade para fechar contratos com clientes americanos. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), criado com apoio dos EUA, colabora com a NASA em projetos como o satélite SPORT e o SelenITA, voltado para a Lua.
A Universidade Federal de Viçosa, inspirada na Purdue University, ajudou a fundar a Embrapa, que transformou nosso agro. No campus do IPT, o Google implanta um centro de pesquisa para 400 engenheiros, sinalizando que o Brasil é um hub de inovação com relevância global.
Trump desafia soberania brasileira
Apesar dessa parceria robusta, o Brasil agora enfrenta um desafio diplomático. Após manter-se discreto, o país está na mira de Trump, com ameaças de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e acusações de uma suposta “caça às bruxas” contra aliados políticos. É o teste mais sério desde o início do segundo mandato de Trump.
O governo brasileiro respondeu com firmeza, mas sem personalizar o conflito, afirmando a independência de suas instituições. Declarações como “o Brasil é um país soberano que não aceitará ser tutelado” e referências à Lei de Reciprocidade Econômica mostram uma postura institucional.
O Brasil poderia ir além, destacando que essas tarifas violam normas da OMC, posicionando-se como defensor do multilateralismo, e reforçando a proteção a setores produtivos para conquistar apoio interno.
O México, alvo frequente de Trump, oferece lições valiosas. A presidente Claudia Sheinbaum combina firmeza e pragmatismo, rejeitando ingerências externas, mas mantendo o diálogo aberto. Essa “estratégia Sheinbaum” evita escaladas retóricas e preserva a autonomia.
O Brasil segue um caminho semelhante, mas alternativas como confronto direto, concessões servis ou silêncio estratégico não são adequadas. O confronto, como o da China, exige escala econômica que o Brasil não tem; a bajulação, vista no caso do Panamá com a saída da Iniciativa Cinturão e a NovaRota da Seda, enfraquece a posição negociadora e é inviável para um governo de centro-esquerda; o silêncio sinaliza fragilidade e desperdiça a chance de afirmar liderança.
Com um legado diplomático herdado do Barão do Rio Branco, o Brasil pode navegar essa crise defendendo suas instituições, dialogando com respeito mútuo e, se necessário, respondendo com reciprocidade, sem abandonar o multilateralismo.
Em último caso, retaliação deve ser estratégica
Na minha percepção, espero que o Brasil não precise recorrer a medidas retaliatórias para proteger sua economia e os empregos de milhões de brasileiros afetados pelas tarifas unilaterais de 50% impostas por Trump, previstas para agosto de 2025. Essas tarifas podem encarecer, por exemplo o hambúrguer nos EUA, o cafezinho, prejudicando consumidores e produtores.
A retaliação não deve seguir a lógica de “olho por olho, dente por dente”, pois a lei do talião não tem espaço na economia ou em qualquer esfera da vida moderna.
Caso necessário, o Brasil deveria adotar medidas pontuais, como taxar gigantes tecnológicas — Google, Meta, Amazon, X — ou realizar estudos rápidos e consistentes para a quebra de patentes farmacêuticas americanas. É lamentável que o coração pareça ter mudado de lugar, agora residindo no bolso, mas o Brasil deve proteger seu povo com ações estratégicas, não impulsivas.
Diplomacia brasileira brilha globalmente
A relação Brasil-EUA vai além do comércio; é uma teia de interesses mútuos em segurança, alimentação, mobilidade e tecnologia. O Brasil não é apenas um fornecedor — é um aliado indispensável. Contudo, as tensões mostram um desequilíbrio.
Tarifas como as propostas podem abalar essa parceria, prejudicando ambos os lados. A negociação, não a retaliação, é o caminho. Até as grandes potências sabem que tarifas altas são um jogo de perde-perde — o protecionismo não beneficia ninguém.
Tendo viajado por 57 países, posso afirmar: o Brasil tem uma vocação única para ser um ator global de peso. Nossa diplomacia, moldada pelo Barão do Rio Branco, é reconhecida por mediar conflitos e construir pontes, do Haiti à ONU.
A realização da Rio-92 e a futura COP-30, marcada para novembro de 2025, reforçam nosso papel de liderança em questões globais, como o clima. Essa capacidade diplomática, aliada à nossa riqueza natural e cultural, posiciona o Brasil como um protagonista no cenário internacional.
O Brasil que enxergo
A hospitalidade brasileira, mais que o futebol ou a ginga, define nosso povo e fortalece nossa imagem como parceiro confiável no mundo. Dados do IBGE mostram que o Brasil abriga 1,3 milhão de imigrantes, e o World Values Survey de 2020 revelou que apenas 5,8% dos brasileiros se sentem desconfortáveis com vizinhos estrangeiros, bem abaixo da média global de 14,2%.
Casos de xenofobia são raros e não aparecem em índices globais significativos, como os da Anti-Defamation League. Do refugiado haitiano ao investidor americano, o Brasil acolhe a todos.
Apesar dessa natureza pacífica, o Brasil enfrenta problemas pontuais. Ataques em escolas são raros — menos de 20 incidentes graves entre 2002 e 2023, segundo o Ministério da Educação, um número baixo para 200 milhões de habitantes, mas preocupante.
A intolerância contra religiões de matriz africana persiste, com cerca de 1.000 casos registrados no Rio de Janeiro em 2022, conforme a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, indicando a necessidade de políticas mais robustas. A última grande guerra do Brasil foi contra o Paraguai (1864-1870), mas nossa participação na Segunda Guerra Mundial, com 25.000 soldados enviados à Europa, mostra um histórico de engajamento limitado, mas relevante.
O World Peace Index de 2024 classifica o Brasil como o 54º mais pacífico do mundo, à frente de muitas potências. Esses casos são exceções, longe de definir uma sociedade perturbada ou belicosa.
Em cada nação que visitei, busquei o melhor — e no Brasil, o melhor é abundante. Somos um povo que acolhe, inova e protege seus recursos com crescente consciência ambiental. A Amazônia, com sua biodiversidade e rios, é um patrimônio global.
Nossa carne, aviões, ciência e diplomacia nos colocam no centro do palco mundial. O verdadeiro tesouro é nossa gente: diversa, calorosa e pronta para construir um futuro que honre sua vocação global. Que o mundo nos veja assim — e que nós mesmos nos enxerguemos com esse orgulho.
Brasil reage com firmeza à escalada protecionista de Trump
Tarifas unilaterais de Trump contra exportações brasileiras, a partir de 1º de agosto, abalam trabalhadores e economia, reacendendo tensões diplomáticas e comerciais


09 de julho de 2025
Na pausa da tarde desta quarta-feira, 9 de julho de 2025, Pedro Wilson, 42 anos, operário de uma siderúrgica em São Paulo, limpava o suor do rosto quando a notícia lhe veio como um soco. Sentado no refeitório, entre o cheiro de café e o barulho das máquinas ao fundo, ele ouviu no rádio: Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou tarifas de 50% sobre todas as exportações brasileiras, a vigorar a partir de 1º de agosto. Pedro franziu a testa, o coração apertado. “Como assim? Isso vai acabar com meu emprego?”, perguntou a si mesmo, enquanto colegas murmuravam, incrédulos.
A milhares de quilômetros dali, em Mato Grosso, Sílvio Mendes, 38 anos, trabalhador na produção de soja para uma gigante do agronegócio, também parou. Durante o intervalo, checando o celular, viu a manchete pipocar nas redes. “Cinquenta por cento? Isso é uma loucura!”, exclamou para um colega, o rosto marcado pela surpresa. A soja, pilar da economia brasileira, agora enfrenta um muro tarifário que ameaça escoar empregos e sonhos. Pedro e Sílvio, tão distantes, compartilham o mesmo receio: o que será do futuro se as exportações, o motor do Brasil, forem estranguladas?
A carta que abalou nações
O anúncio de Trump não veio do vazio. Uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicada horas após a cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro, revelou as intenções do líder americano. Nela, Trump acusa o Brasil de práticas comerciais “injustas” e critica o Supremo Tribunal Federal (STF) por ações contra Jair Bolsonaro, chamando-as de “caça às bruxas”. A tarifa de 50%, segundo ele, é uma resposta a supostos ataques à liberdade de expressão e à soberania comercial americana, além de uma punição à postura brasileira no cenário mundial.
A decisão é um terremoto. O Brasil, que já enfrenta um déficit comercial de US$ 1,67 bilhão com os EUA no primeiro semestre de 2025, agora vê suas exportações – de petróleo bruto (US$ 2,378 bilhões) a café (US$ 1,168 bilhão) – sob ameaça. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) alertou: não há justificativa econômica para a medida. Os EUA mantêm superávit comercial com o Brasil há 15 anos, com US$ 410 bilhões acumulados. “É uma retaliação política disfarçada de comércio”, sentencia a CNI.
O impacto nos campos e nas fábricas
Volte a Pedro, em São Paulo. A siderúrgica onde trabalha exporta ferro e aço semiacabado, que somaram US$ 1,951 bilhão no primeiro semestre. Com a tarifa, a competitividade despenca. “Se os pedidos caírem, as máquinas param, e nós, operários, somos os primeiros a sentir”, desabafa Pedro, enquanto aperta a marmita vazia. A Associação Brasileira da Indústria do Plástico ecoa o temor: produtos de alta complexidade, que geram empregos qualificados, serão duramente atingidos.
Em Mato Grosso, Sílvio calcula as perdas. A soja, que já enfrenta volatilidade de preços, pode perder mercado nos EUA, principal destino de exportação agrícola. A Frente Parlamentar da Agropecuária prevê aumento nos custos de insumos importados e impactos no câmbio. “Se o dólar disparar ainda mais, como vamos competir?”, pergunta Sílvio, olhando para os campos dourados que, agora, parecem carregar um peso extra.
Um tabuleiro diplomático em chamas
A decisão de Trump não é apenas econômica; é um xeque-mate político. A carta cita o STF e as investigações contra Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado em 2022. Trump, alinhado ideologicamente ao ex-presidente, acusa o Brasil de “perseguição” e usa as tarifas como arma. A embaixada americana em Brasília reforçou o tom, chamando as ações do STF de “vergonhosas”. O Itamaraty reagiu, convocando o encarregado de negócios Gabriel Escobar para esclarecimentos.
Hussein Kaluth, ex-Secretário de Assuntos Estratégicos, é categórico: “Atacar o STF é atacar a Constituição, a democracia, o povo brasileiro. É inadmissível”. A medida de Trump, segundo ele, foge aos padrões diplomáticos e sinaliza uma interferência direta na soberania nacional. Lula, em resposta, foi firme nas redes sociais: “O Brasil é soberano e não aceitará ser tutelado. Responderemos com a lei de reciprocidade econômica.”
Mercados tremem, o mundo observa
A notícia caiu como uma tempestade nos mercados. O Ibovespa despencou 1,31%, fechando a 137.481 pontos, e o dólar subiu 1,06%, atingindo R$ 5,50. A Associação Brasileira das Exportadoras de Carne alertou para os impactos no abastecimento mundial, enquanto a Associação dos Exportadores de Suco lamentou a perda de competitividade. Até os americanos, consumidores de suco brasileiro há décadas, sentirão o golpe nos preços.
No cenário mundial, a decisão reverbera como um alerta. Líderes do BRICS, como o premiê da África do Sul e o chanceler russo, criticaram o protecionismo americano. Economistas advertem: tarifas tão altas podem fragmentar cadeias de valor e arriscar uma recessão global. Mesmo nos EUA, onde Nasdaq e S&P 500 seguem em alta, há cautela com o impacto a longo prazo.
A sombra do protecionismo
Trump não é novo no jogo das tarifas. Em abril, impôs 10% sobre países “não problemáticos”, incluindo o Brasil. Agora, a taxa de 50% é a mais alta já aplicada, um salto que pegou o Brasil desprevenido.
Até domingo, o país não estava na mira. Tudo mudou após a cúpula dos BRICS, onde Lula defendeu moedas locais e criticou o unilateralismo americano. Trump, então, escalou o conflito, usando Bolsonaro como pretexto.
A carta de Trump ameaça: se o Brasil retaliar, as tarifas americanas aumentarão. Lula, por sua vez, sinaliza reciprocidade econômica, o que pode levar a uma guerra comercial. É um ciclo perigoso, onde todos perdem. A CNI reforça: “A indústria brasileira é interligada à americana. Romper essa relação é cortar as próprias veias do comércio.”
O que está em jogo
As exportações brasileiras aos EUA – de aeronaves (US$ 1,043 bilhão) a ferro-gusa (US$ 865,7 milhões) – sustentam milhões de empregos. Pedro, na siderúrgica, e Sílvio, nos campos de soja, são rostos de uma nação que trabalha de fio a pavio. “Quero que meus filhos tenham um futuro melhor”, diz Pedro. “Mas como, se o mercado fechar as portas?” Sílvio completa: “Plantamos com suor, e agora isso. É injusto.”
A decisão de Trump é um espelho do protecionismo que volta a assombrar o mundo. É uma dança perigosa, onde cada passo retaliatório pode levar a uma rachadura econômica cada vez maior.
O Brasil, com déficit comercial frente aos EUA, não é o vilão que Trump pinta. Pelo contrário, é um parceiro que, há 15 anos, contribui para o superávit americano. E são dados dos próprios organismos econômicos oficiais dos Estados Unidos.
Um chamado à diplomacia
Nós, brasileiros, sabemos que o comércio é a ponte que une nações. Sabemos também que, desde fevereiro, autoridades brasileiras e americanas negociam para evitar esse cenário.
Mas o protecionismo, como um vento gelado, voltou a soprar forte. É hora de acelerar os esforços diplomáticos, de construir pontes, não muros. Devemos preservar o desenvolvimento do Brasil sem ferir a economia americana, que já prospera com nosso comércio. Que Pedro e Sílvio, não sejam esquecidos. Que a soberania e o trabalho do povo brasileiro prevaleçam.
Ouro volta para casa: a desconfiança global e o ocaso do dólar
Alemanha, França e Holanda repatriam reservas, sinalizando um mundo que questiona a hegemonia americana


07 de julho de 2025
Washington Araújo
Sob as ruas de Nova York, no ventre de concreto do Federal Reserve, barras de ouro brilham em silêncio. São toneladas de riqueza, guardadas por décadas, pertencentes a nações distantes. Mas o chão treme. Alemanha, França e Holanda, outrora confiantes, agora batem à porta. Querem seu ouro de volta. O metal, símbolo de poder e estabilidade, está deixando o solo americano, carregado em aviões sob escolta armada. É mais que logística: é um grito de desconfiança no sistema financeiro global.
O mundo financeiro não é mais um palco de certezas. A inflação galopa, as tensões geopolíticas fervem, e o dólar, outrora intocável, vacila.
Relatórios do Fundo Monetário Internacional (FMI) mostram que a inflação global, projetada em 5,8% para 2025, corrói a confiança nas moedas fiat. O Banco Mundial alerta: taxas de juros altas, como os 4% previstos para 2025, apertam as economias emergentes. Nesse cenário, o ouro ressurge, não como relíquia, mas como âncora em mares tempestuosos.
Alemanha já repatriou 674 toneladas de ouro desde 2013, segundo o Deutsche Bundesbank. A Holanda, em movimento semelhante, trouxe 122 toneladas de Nova York, conforme o De Nederlandsche Bank. França, mais discreta, intensifica planos para reforçar seus cofres, diz o Banque de France. Esses números não são frios: são pulsos de nações que sentem o chão financeiro rachar.
O peso do símbolo - O ouro não é apenas metal. É soberania. É história. É a memória de crises superadas. Quando a Alemanha anunciou a repatriação, o Bundesbank declarou: “queremos construir confiança pública.” A frase ecoa. Em um mundo onde sanções americanas congelam reservas de países como Rússia e Irã, segundo o Banco Mundial, o ouro físico, intocável por decretos, ganha aura mítica. É o antídoto contra a incerteza.
A Holanda, em 2014, justificou sua decisão: “reforça a estabilidade do sistema financeiro.” França, com sua tradição de centralização, segue o mesmo caminho, ciente de que o ouro em solo próprio é um escudo contra choques externos. O Federal Reserve, em relatórios de 2024, confirma: pedidos de repatriação crescem, mas o banco mantém sigilo sobre volumes exatos. O silêncio fala alto.
O vento que sopra tem nome: desdolarização - Por trás do ouro, há um debate maior: a desdolarização. O dólar, pilar do sistema financeiro desde Bretton Woods, enfrenta ventos contrários. O FMI nota que a participação do dólar nas reservas globais caiu de 71% em 2000 para 58% em 2024.
A China, segundo o People’s Bank of China, testa transações em yuan digital, reduzindo a dependência do SWIFT, sistema dominado por bancos ocidentais. Um teste com os Emirados Árabes, em abril de 2025, concluiu uma transferência em sete segundos, desafiando a lentidão do dólar.
“A desdolarização é uma realidade”, afirmou Maria Zakharova, porta-voz russa, em 2024, citada pelo Brasil de Fato. Países do BRICS, em cúpula recente, defenderam moedas locais para o comércio, segundo a agência Tass.
O ouro, nesse contexto, é mais que reserva: é um grito de independência. Nações como Índia e Turquia, segundo o Banco Mundial, aumentaram suas reservas de ouro em 2024, sinalizando a mesma desconfiança.
O dólar não cai sozinho. A reeleição de Donald Trump, em 2024, trouxe tarifas comerciais e incertezas, diz o IPEA. Suas políticas, apelidadas de “Acordo de Mar-a-Lago” pelo Washington Post, sugerem um abalo no sistema monetário global.
O Federal Reserve, sob Jerome Powell, mantém juros altos, mas a confiança global encolhe. “A hegemonia do dólar foi construída em décadas, mas pode desmoronar em instantes,” alertou Barry Eichengreen, economista de Berkeley, em 2025.
A desvalorização do dólar, notada pela BBC em junho de 2025, eleva preços de importações e inflação. Países emergentes, como o Brasil, sofrem com a alta do dólar, que atingiu R$ 6,29 em dezembro de 2024, segundo o IPEA.
O ouro, imune a essas oscilações, torna-se refúgio. “Diversificar reservas é essencial,” diz Li Yuefen, economista do BRICS, citada pelo Brasil de Fato. O ouro é a cesta onde ninguém quer colocar todos os ovos.
A Europa na encruzilhada - Alemanha, França e Holanda não agem por capricho. A Europa, segundo a Xinhua, enfrenta “incertezas políticas” em 2025. A ascensão de partidos populistas, como a Alternativa para a Alemanha (AfD), e a dissolução do governo alemão, relatada em dezembro de 2024, amplificam a insegurança.
A União Europeia, com PIB de 17 trilhões de euros, busca autonomia, diz Rubens Ricupero, ex-ministro brasileiro, em Veja. O ouro em solo europeu é um passo nessa direção.
O Banque de France, em relatório de 2024, destacou a “necessidade de resiliência monetária.” O Bundesbank reforça: “O ouro é um ativo de crise.” A Holanda, com sua economia aberta, vê o metal como seguro contra choques comerciais, segundo o De Nederlandsche Bank. Essas nações, unidas pela desconfiança, reescrevem a geografia do poder financeiro.
O futuro é dourado? - O movimento de repatriação não é só sobre ouro: é sobre confiança. Ou a falta dela. O sistema financeiro global, construído sobre promessas e papéis, range sob o peso da incerteza.
O FMI prevê crescimento global de apenas 2,2% em 2025, pressionado por tarifas e tensões. O Banco Mundial alerta para a volatilidade dos preços de energia, que podem disparar a inflação. Nesse tabuleiro, o ouro é a peça que não cai.
Alemanha, França e Holanda, ao trazerem seu ouro para casa, enviam um recado. Não é só sobre barras brilhantes: é sobre soberania, sobre controlar o próprio destino. O dólar, ainda rei, vê seu trono balançar. A desdolarização, lenta, mas constante, ganha força.
Como disse Gerald Epstein, economista da Universidade de Massachusetts, em 2023: “A hegemonia do dólar alimenta o imperialismo. A desdolarização é a resposta do Sul Global.”
Um mundo em transformação - Os aviões carregados de ouro cruzam o Atlântico. Nos cofres de Frankfurt, Paris e Amsterdã, as barras encontram novo lar. É um ritual de desconfiança, mas também de esperança. Esperança de que, em um mundo de moedas frágeis e promessas quebradas, o ouro seja mais que um metal. Seja um farol.
O futuro do sistema financeiro é incerto. Mas, por ora, o ouro brilha. E as nações, cientes de sua luz, o querem por perto.
O dólar, em silêncio, observa.
O mundo, inquieto, espera.
https://www.brasil247.com/blog/ouro-volta-para-casa-a-desconfianca-global-e-o-ocaso-do-dolar
Está em curso uma operação para salvar o dólar?
O dólar norte-americano sustenta o comércio global, mas sua dominância enfrenta questionamentos em meio a tensões geopolíticas e mudanças econômicas


02 Julho 2025
Alemanha, França e Holanda repatriam reservas, sinalizando um mundo que questiona a hegemonia americana.
Washington Araújo
Sob as ruas de Nova York, no ventre de concreto do Federal Reserve, barras de ouro brilham em silêncio. São toneladas de riqueza, guardadas por décadas, pertencentes a nações distantes. Mas o chão treme. Alemanha, França e Holanda, outrora confiantes, agora batem à porta. Querem seu ouro de volta. O metal, símbolo de poder e estabilidade, está deixando o solo americano, carregado em aviões sob escolta armada. É mais que logística: é um grito de desconfiança no sistema financeiro global.
O mundo financeiro não é mais um palco de certezas. A inflação galopa, as tensões geopolíticas fervem, e o dólar, outrora intocável, vacila.
Relatórios do Fundo Monetário Internacional (FMI) mostram que a inflação global, projetada em 5,8% para 2025, corrói a confiança nas moedas fiat. O Banco Mundial alerta: taxas de juros altas, como os 4% previstos para 2025, apertam as economias emergentes. Nesse cenário, o ouro ressurge, não como relíquia, mas como âncora em mares tempestuosos.
Alemanha já repatriou 674 toneladas de ouro desde 2013, segundo o Deutsche Bundesbank. A Holanda, em movimento semelhante, trouxe 122 toneladas de Nova York, conforme o De Nederlandsche Bank. França, mais discreta, intensifica planos para reforçar seus cofres, diz o Banque de France. Esses números não são frios: são pulsos de nações que sentem o chão financeiro rachar.
O peso do símbolo - O ouro não é apenas metal. É soberania. É história. É a memória de crises superadas. Quando a Alemanha anunciou a repatriação, o Bundesbank declarou: “queremos construir confiança pública.” A frase ecoa. Em um mundo onde sanções americanas congelam reservas de países como Rússia e Irã, segundo o Banco Mundial, o ouro físico, intocável por decretos, ganha aura mítica. É o antídoto contra a incerteza.
A Holanda, em 2014, justificou sua decisão: “reforça a estabilidade do sistema financeiro.” França, com sua tradição de centralização, segue o mesmo caminho, ciente de que o ouro em solo próprio é um escudo contra choques externos. O Federal Reserve, em relatórios de 2024, confirma: pedidos de repatriação crescem, mas o banco mantém sigilo sobre volumes exatos. O silêncio fala alto.
O vento que sopra tem nome: desdolarização - Por trás do ouro, há um debate maior: a desdolarização. O dólar, pilar do sistema financeiro desde Bretton Woods, enfrenta ventos contrários. O FMI nota que a participação do dólar nas reservas globais caiu de 71% em 2000 para 58% em 2024.
A China, segundo o People’s Bank of China, testa transações em yuan digital, reduzindo a dependência do SWIFT, sistema dominado por bancos ocidentais. Um teste com os Emirados Árabes, em abril de 2025, concluiu uma transferência em sete segundos, desafiando a lentidão do dólar.
“A desdolarização é uma realidade”, afirmou Maria Zakharova, porta-voz russa, em 2024, citada pelo Brasil de Fato. Países do BRICS, em cúpula recente, defenderam moedas locais para o comércio, segundo a agência Tass.
O ouro, nesse contexto, é mais que reserva: é um grito de independência. Nações como Índia e Turquia, segundo o Banco Mundial, aumentaram suas reservas de ouro em 2024, sinalizando a mesma desconfiança.
O dólar não cai sozinho. A reeleição de Donald Trump, em 2024, trouxe tarifas comerciais e incertezas, diz o IPEA. Suas políticas, apelidadas de “Acordo de Mar-a-Lago” pelo Washington Post, sugerem um abalo no sistema monetário global.
O Federal Reserve, sob Jerome Powell, mantém juros altos, mas a confiança global encolhe. “A hegemonia do dólar foi construída em décadas, mas pode desmoronar em instantes,” alertou Barry Eichengreen, economista de Berkeley, em 2025.
A desvalorização do dólar, notada pela BBC em junho de 2025, eleva preços de importações e inflação. Países emergentes, como o Brasil, sofrem com a alta do dólar, que atingiu R$ 6,29 em dezembro de 2024, segundo o IPEA.
O ouro, imune a essas oscilações, torna-se refúgio. “Diversificar reservas é essencial,” diz Li Yuefen, economista do BRICS, citada pelo Brasil de Fato. O ouro é a cesta onde ninguém quer colocar todos os ovos.
A Europa na encruzilhada - Alemanha, França e Holanda não agem por capricho. A Europa, segundo a Xinhua, enfrenta “incertezas políticas” em 2025. A ascensão de partidos populistas, como a Alternativa para a Alemanha (AfD), e a dissolução do governo alemão, relatada em dezembro de 2024, amplificam a insegurança.
A União Europeia, com PIB de 17 trilhões de euros, busca autonomia, diz Rubens Ricupero, ex-ministro brasileiro, em Veja. O ouro em solo europeu é um passo nessa direção.
O Banque de France, em relatório de 2024, destacou a “necessidade de resiliência monetária.” O Bundesbank reforça: “O ouro é um ativo de crise.” A Holanda, com sua economia aberta, vê o metal como seguro contra choques comerciais, segundo o De Nederlandsche Bank. Essas nações, unidas pela desconfiança, reescrevem a geografia do poder financeiro.
O futuro é dourado? - O movimento de repatriação não é só sobre ouro: é sobre confiança. Ou a falta dela. O sistema financeiro global, construído sobre promessas e papéis, range sob o peso da incerteza.
O FMI prevê crescimento global de apenas 2,2% em 2025, pressionado por tarifas e tensões. O Banco Mundial alerta para a volatilidade dos preços de energia, que podem disparar a inflação. Nesse tabuleiro, o ouro é a peça que não cai.
Alemanha, França e Holanda, ao trazerem seu ouro para casa, enviam um recado. Não é só sobre barras brilhantes: é sobre soberania, sobre controlar o próprio destino. O dólar, ainda rei, vê seu trono balançar. A desdolarização, lenta, mas constante, ganha força.
Como disse Gerald Epstein, economista da Universidade de Massachusetts, em 2023: “A hegemonia do dólar alimenta o imperialismo. A desdolarização é a resposta do Sul Global.”
Um mundo em transformação - Os aviões carregados de ouro cruzam o Atlântico. Nos cofres de Frankfurt, Paris e Amsterdã, as barras encontram novo lar. É um ritual de desconfiança, mas também de esperança. Esperança de que, em um mundo de moedas frágeis e promessas quebradas, o ouro seja mais que um metal. Seja um farol.
O futuro do sistema financeiro é incerto. Mas, por ora, o ouro brilha. E as nações, cientes de sua luz, o querem por perto.
O dólar, em silêncio, observa.
O mundo, inquieto, espera.
https://www.brasil247.com/blog/ouro-volta-para-casa-a-desconfianca-global-e-o-ocaso-do-dolar
Quando Saussure atravessa Washington e o trumpismo transforma a linguagem pública em ruína semântica
Ao analisar os pronunciamentos de Trump sob a ótica de Saussure, revela-se um cenário onde palavras perdem precisão


26 de junho de 2025
Desde sua posse em 20 de janeiro de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem moldado um discurso caracterizado por adjetivos superlativos e uma retórica hiperbólica, mesmo em contextos de alta complexidade, como conflitos geopolíticos, políticas migratórias e crises econômicas.
Tanto a análise de discurso quanto a análise de conteúdo sempre foram, de certa forma, temas de minha predileção na docência acadêmica. Assistindo aos telejornais e lendo os portais noticiosas e a imprensa escrita observo com preocupação que jornalistas e "comentaristas travestidos de especialistas" desaprenderam para que servem essas disciplinas.
Neste artigo, fundamentado na metodologia francesa de análise do discurso e na teoria saussuriana, examino os pronunciamentos de Trump entre 21 de janeiro e 25 de junho de 2025, explorando o lugar da fala, os significados e significantes, e o impacto da desinformação na linguagem contemporânea. Além disso, por oportuno, trato de incorporar a palavra proposta pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva à Academia Francesa de Letras em maio de 2025, contextualizando a crise semântica da linguagem atual. Disponho-me a analisar padrões retóricos, impactos políticos e a encruzilhada da linguagem em um mundo saturado de fake news.
O lugar da fala e a retórica superlativa
Na análise do discurso, o lugar da fala refere-se à posição de poder e influência de quem enuncia. Como presidente, Trump ocupa um espaço de autoridade global, amplificado por plataformas como a Truth Social e a mídia tradicional. Seus discursos, como o de posse em 20 de janeiro de 2025, quando proclamou “A era dourada da América começa agora”, sintetizam uma promessa de restauração nacional, vinculada a indicadores econômicos como o crescimento de 4,5% do PIB no primeiro trimestre e a criação de 139 mil empregos em maio, todos para trabalhadores nascidos nos EUA, segundo relatório da Casa Branca. Contudo, críticos argumentam que esse crescimento é parcialmente herança das políticas de Joe Biden, revelando claramente uma tensão entre a narrativa de ruptura e a continuidade econômica.A frase “Vamos perfurar, baby, perfurar! Esta será a maior produção de energia da história do mundo”, proferida no mesmo dia, reforça sua agenda de expansão dos combustíveis fósseis, com a queda do preço da gasolina para US$ 3,20/galão em junho de 2025 como evidência de sucesso.
Ambientalistas criticam a negligência aos compromissos climáticos, enquanto economistas questionam a viabilidade de superar os recordes de produção de petróleo da década de 1970.
Essa retórica agressiva, com adjetivos como “maior” e “histórica”, performa uma visão de potência nacional, mas simplifica debates complexos sobre sustentabilidade e economia.
Saussure e a mutação dos significantes
A teoria de Ferdinand de Saussure, que distingue o significante (a forma da palavra) do significado (o conceito), é essencial para compreender o discurso trumpista. Em frases como “Nossa fronteira será a mais segura de todos os tempos. Ninguém nunca viu nada assim” (5 de fevereiro de 2025), o significante “mais segura” é desvinculado de dados concretos, como a redução de 18% nas apreensões de migrantes no primeiro semestre de 2025, atribuída a políticas de dissuasão.
ONGs denunciam que essa retórica exacerba a xenofobia, citando mortes em operações de deportação. Aqui, o significante serve menos para descrever a realidade e mais para mobilizar emoções, evidenciando a arbitrariedade do signo saussuriano.
Outro exemplo é a declaração de 15 de março de 2025: “O Canal do Panamá será recuperado. Foi o maior roubo da história, e vamos corrigir isso”. Pronunciada em um comício na Flórida, a frase ataca a gestão do canal por Panamá e China, com base em relatórios de que 40% das rotas comerciais são controladas por empresas chinesas. Especialistas esclarecem que a China não tem jurisdição formal, mas seus investimentos em portos panamenhos preocupam o Pentágono.
O significante “roubo” transforma uma questão comercial em uma narrativa de traição, reforçando o nacionalismo trumpista.
Superlativos como arma política
O uso de superlativos é uma marca registrada de Trump. Em 30 de abril de 2025, ao anunciar um orçamento de US$ 27 bilhões para a NASA, ele afirmou: “Plantaremos a bandeira americana em Marte. Será a missão mais incrível que o mundo já viu”.
A frase compara a missão marciana (prevista para 2029) ao pouso na Lua, mas ignora cortes em programas ambientais da agência e o fato de a SpaceX ainda não ter testado foguetes para viagens tripuladas além da Lua. O superlativo “mais incrível” simplifica desafios técnicos, projetando uma imagem de liderança visionária.
Da mesma forma, em 8 de maio de 2025, durante visita à Base de Norfolk, Trump declarou: “Nunca, em nenhum momento da história, tivemos um exército tão poderoso”, celebrando o orçamento de US$ 886 bilhões para a Defesa.
A frase coincide com ataques a instalações nucleares iranianas, mas omite críticas de generais sobre a alocação desbalanceada de recursos (70% para tecnologia, 5% para salários).
Esses superlativos, na verdade, constroem uma narrativa de supremacia, mas obscurecem nuances operacionais.
Economia: fatos, exageros e desinformação
A declaração de 10 de junho de 2025, “Estamos vivendo a maior economia de todos os tempos. Nunca houve nada parecido”, reflete a mistura de fatos e exageros típica de Trump.
Ele citou o aumento de 7,5% na renda pessoal disponível e a inflação de 2,1%, dados verificáveis, mas omitiu que 80% dos novos empregos são em serviços de baixa remuneração. A frase, dita horas antes do Federal Reserve anunciar a possível demissão de Jerome Powell por “juros altos”, revela uma estratégia de apropriação de indicadores positivos e desvio de críticas.
A desinformação amplifica esse efeito: um deepfake de Trump chamando Lula de “vergonha total” em março de 2025 ilustra como a manipulação digital reforça narrativas polarizadas.
A frase “Kamala Harris é a pior vice-presidente da história. Uma catástrofe total e absoluta” (20 de junho de 2025) exemplifica a deslegitimação via hipérboles. Pronunciada em um comício no Arizona, a declaração respondeu às críticas de Harris às políticas migratórias de Trump como “desumanas”.
Pesquisas indicam que Harris tinha 38% de aprovação, abaixo de Mike Pence (42% em 2024), mas acima de Spiro Agnew (25% em 1973), desmentindo o superlativo “pior”. Essa retórica, comparada por estudos da Harvard Gazette ao estilo de Jair Bolsonaro, mobiliza a base trumpista, mas evita sanções judiciais devido ao sistema legal dos EUA.
Desinformação e a crise semântica
A era da desinformação intensifica a crise da linguagem. A repetição de superlativos como “maior” ou “pior” dessemantiza as palavras, transformando-as em significantes vazios que dependem do contexto e da intenção do locutor.
A análise da Associated Press sobre o discurso de Trump ao Congresso em 4 de março de 2025 revelou distorções em dados de imigração e economia, como a alegação de que “21 milhões de pessoas entraram ilegalmente nos EUA” nos últimos quatro anos, quando estimativas apontam 11 milhões. Essa manipulação erode a confiança na linguagem como veículo de verdade.A agenda geopolítica de Trump, com ameaças de “recuperar” o Canal do Panamá ou dominar Marte, reflete um nacionalismo midiático mais que operacional. Frases como “O Canal do Panamá será recuperado” inflamam a base, mas carecem de viabilidade prática, dado o tratado de 1977 e a ausência de jurisdição chinesa direta.
A missão marciana, embora ambiciosa, enfrenta ceticismo técnico, mas o superlativo “mais incrível” garante impacto retórico.
Lula e a solidariedade como contraponto
Em maio de 2025, o presidente Lula, homenageado pela Academia Francesa de Letras, propôs a palavra “solidariedade” para revalorização no dicionário da instituição.
Ele argumentou que o termo, já existente, encapsula a cooperação global em crises como a pandemia e as mudanças climáticas, contrapondo o individualismo e a polarização.
Essa escolha humanista contrasta com a retórica trumpista, que privilegia o personalismo e o nacionalismo. Enquanto Trump usa superlativos para exaltar a América, Lula resgata um conceito ético, sugerindo um caminho alternativo para a linguagem política.
Os discursos de Trump em 2025, marcados por frases como “A era dourada da América começa agora” e “Estamos vivendo a maior economia de todos os tempos”, revelam uma estratégia de adjetivação superlativa que, sob a lente saussuriana, manipula significantes para projetar poder e otimismo.
Contudo, a desinformação e a polarização esvaziam os significados tradicionais, colocando a linguagem em uma encruzilhada. A proposta de Lula de revalorizar “solidariedade” oferece um contraponto ético, mas a predominância de narrativas como a de Trump sugere que a batalha pelo sentido das palavras é um desafio global.
Em um mundo onde “maior” e “pior” se tornam armas políticas, a linguagem permanece um campo de disputa, moldado por fatos, exageros e aspirações.
Justiça econômica contra a guerra: a chave para a unidade em um mundo em crise
A desigualdade global ameaça a estabilidade, mas a justiça econômica pode unir a humanidade


21 de junho de 2025
Como jornalista, há décadas observo as dores e esperanças de um mundo interconectado, e uma metáfora me guia: a humanidade é como um corpo humano, onde sistemas — nervoso, respiratório, digestivo, circulatório, reprodutivo — operam em harmonia pelo bem-estar coletivo.
Cada sistema é crucial; se um adoece, como um coração sobrecarregado pela desigualdade, o corpo todo sofre. Essa visão me inspira a crer que a cura para nossas crises está na cooperação, na justiça e na solidariedade, pois o que fere uma parte inevitavelmente compromete o todo.
Imaginemos a humanidade como um corpo humano, onde cada sistema — nervoso, respiratório, digestivo, circulatório, reprodutivo — trabalha em harmonia por um único objetivo: a saúde do todo.
O sistema nervoso guia, o respiratório oxigena, o digestivo nutre, o circulatório distribui recursos, e o reprodutivo assegura continuidade. Cada um é vital; se um falha, como pulmões sobrecarregados ou um coração enfraquecido, o corpo inteiro sofre.
Da mesma forma, quando partes da humanidade enfrentam desigualdade ou exploração, a dor se espalha, comprometendo o bem-estar global. A lição é clara: o que infelicita uma parte, infelicita o todo, exigindo cooperação para a cura coletiva.
Avanços e desafios persistentes
Em um mundo hiperconectado, a tecnologia e a globalização aproximam nações e povos como nunca antes. As condições sociais de diferentes populações estão sob um holofote cada vez mais intenso. A visibilidade das desigualdades, da exploração e da discriminação expõe feridas profundas. Essas questões corroem o tecido da humanidade, desafiando soluções simplistas.
A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que, em 2024, 9,2% da população global — cerca de 734 milhões de pessoas — vive abaixo da linha de pobreza extrema, com menos de US$ 2,15 por dia, evidenciando a urgência de abordar essas fraturas sociais.
Apesar de avanços em áreas como saúde e educação, persistem problemas estruturais. A desigualdade econômica, a concentração de riqueza e a degradação ambiental são sintomas de um sistema em crise.
A verdade é que esse sistema, embora tenha servido a uma fase de desenvolvimento humano, parece inadequado para um mundo que anseia por maturidade e coesão.
O bem-estar de qualquer grupo ou nação está intrinsecamente ligado ao bem-estar do conjunto da humanidade. Quando uma comunidade prioriza seus próprios interesses, ignorando os impactos de suas ações, o equilíbrio global é comprometido.
A busca desenfreada por lucros, frequentemente às custas da sustentabilidade, cria instabilidades que reverberam mundialmente.
Por exemplo, o Banco Mundial relata que, em 2023, as emissões globais de carbono atingiram 37,4 bilhões de toneladas, com os 10% mais ricos respondendo por quase 50% do total, mostrando como o consumo desigual afeta o planeta e agrava crises climáticas.
Impactos da concentração de riqueza
Dados recentes ilustram a gravidade do problema. Segundo o relatório da Oxfam de 2024, o 1% mais rico detém quase metade da riqueza global. Enquanto isso, bilhões lutam para acessar necessidades básicas como alimentação, água potável e cuidados médicos. Essa disparidade intensifica tensões e perpetua um ciclo de exclusão.
A acumulação de riquezas em proporções desproporcionais alimenta a instabilidade. A desigualdade erode a confiança nas instituições e amplifica conflitos, desde protestos locais até crises internacionais.
A concentração de recursos nas mãos de poucos é um obstáculo ao progresso social.
Um estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI) de 2023 indica que países com maior desigualdade de renda, como o Brasil, onde o 1% mais rico detém 28% da renda nacional, enfrentam taxas de criminalidade 30% mais altas e menor crescimento econômico , evidenciando os custos sociais e econômicos da disparidade.
Limites dos sistemas econômicos atuais
Os sistemas econômicos predominantes, baseados na competição e no individualismo, mostram sinais de esgotamento. A crença de que o interesse próprio é o motor da prosperidade revela-se insuficiente para os desafios do século XXI. Esse modelo ignora a realidade de nossa interdependência.
A ideia de que o progresso depende de uma luta incessante por recursos é falha. O sucesso de um não precisa implicar a exclusão de outros. Um modelo baseado em colaboração e responsabilidade coletiva é mais adequado para a era atual. Iniciativas como o Pacto Global da ONU, que reúne 19.000 empresas em 160 países para promover práticas sustentáveis, mostram que a colaboração pode gerar impacto, com 70% das empresas participantes relatando avanços em metas de sustentabilidade em 2024.
A crise climática exemplifica a inadequação dos sistemas atuais. A exploração desenfreada de recursos naturais, impulsionada por interesses de curto prazo, ameaça a vida no planeta. Relatórios do IPCC alertam para consequências catastróficas, afetando desproporcionalmente os mais vulneráveis.
A busca por uma ética compartilhada
A lógica do consumo desenfreado molda comportamentos e políticas públicas. Valorizar a acumulação de bens acima de tudo agrava problemas como a degradação ambiental. Essa mentalidade precisa ser repensada para garantir um futuro sustentável.
Dados da ONU apontam que o consumo global de recursos naturais cresceu 65% entre 2000 e 2020, com os países desenvolvidos consumindo 10 vezes mais por capita do que os em desenvolvimento, exacerbando a pressão sobre ecossistemas e ampliando desigualdades no acesso a recursos básicos.
O mundo clama por uma ética compartilhada que transcenda fronteiras. A ausência de uma visão unificadora deixa a humanidade à deriva. Uma estrutura que coloque a justiça e a equidade no centro das decisões é essencial para enfrentar as crises atuais.
É necessário desafiar suposições arraigadas, como a de que a prosperidade individual deve prevalecer sobre o bem comum. O valor de uma pessoa não pode ser medido por sua capacidade de consumir. A riqueza deve servir a propósitos maiores, guiada por justiça e generosidade.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) destaca que, em 2024, 2,1 bilhões de trabalhadores — 60% da força de trabalho global — vivem com menos de US$ 5,50 por dia, mostrando que a prosperidade atual beneficia poucos e reforça a necessidade de redistribuição equitativa.
O poder das escolhas individuais
A visão proposta não rejeita a riqueza, mas questiona sua concentração e os meios de obtê-la. Sistemas econômicos devem promover a prosperidade coletiva. A história mostra que modelos baseados na exploração são insustentáveis.
A transformação começa no nível individual, mas reverbera em comunidades. Cada decisão econômica — como consumidor, empregador ou cidadão — carrega implicações éticas.
Escolhas conscientes contribuem para um sistema mais justo. Um relatório do Fórum Econômico Mundial de 2025 revela que 68% dos consumidores globais preferem marcas com práticas sustentáveis, influenciando um mercado de US$ 2,5 trilhões em produtos éticos, demonstrando como escolhas individuais podem pressionar empresas a adotarem modelos mais responsáveis.
Comunidades ao redor do mundo mostram o potencial dessas escolhas. Cooperativas de trabalhadores no Brasil e bancos comunitários na África criam modelos baseados na colaboração. Esses exemplos apontam para sistemas que priorizam o bem-estar coletivo.
A educação é crucial para promover valores como empatia e responsabilidade. Programas que incentivam a consciência crítica desde a infância contrapoem o consumismo. Jovens conscientes estão mais preparados para construir um futuro equitativo.
A UNESCO aponta que, em 2023, 59 milhões de crianças em idade escolar primária estavam fora da escola, majoritariamente em países de baixa renda, limitando sua capacidade de desenvolver habilidades críticas para combater desigualdades e perpetuando ciclos de pobreza.
Justiça como base da estabilidade
A justiça é a base para a estabilidade das sociedades. Um sistema econômico que perpetua a desigualdade está fadado ao colapso. Um modelo que promove equidade cria condições para uma prosperidade duradoura.
Países que reduziram a desigualdade, como os nórdicos, mostram que a justiça econômica é uma necessidade prática. Essas nações alcançaram altos índices de desenvolvimento humano e resiliência a crises, comprovando o valor da equidade.
Só para termos uma ideia, em 2024, a Noruega, com um índice de Gini de 0,25, registrou uma taxa de desemprego de 3,8% e um PIB per capita de US$ 99.000, contrastando com países de alta desigualdade, onde crises econômicas são 40% mais frequentes, segundo o Banco Mundial.
Um chamado à ação coletiva
Reestruturar a vida econômica exige a participação de todos: governos, empresas e cidadãos. Instituições devem criar políticas inclusivas, e empresas, adotar práticas de impacto social positivo. Os cidadãos podem pressionar por mudanças por meio de consumo consciente e ativismo.
Experimentos para o futuro
Comunidades que implementam sistemas de troca local ou investem em infraestrutura verde são laboratórios para o futuro. Esses esforços acumulam conhecimento sobre como alinhar a economia com justiça e sustentabilidade. Em 2024, projetos de economia circular em 50 cidades globais reduziram o desperdício em 20% e criaram 1,2 milhão de empregos verdes, segundo a ONU, mostrando o potencial de modelos alternativos para gerar prosperidade sustentável.
O futuro em nossas mãos
Os extremos de riqueza e pobreza são insustentáveis. A desigualdade aprofunda fraturas sociais e erode a confiança nas instituições. As crises atuais, porém, oferecem uma oportunidade para repensar como vivemos.
Uma visão unificada para a humanidade
O caminho para um futuro justo exige coragem para desafiar suposições e experimentar novas abordagens. A prosperidade verdadeira é medida pela capacidade de criar um mundo onde todos possam prosperar. Em um planeta interconectado, o bem-estar de cada indivíduo está ligado ao bem-estar do todo.
Desde os meus 16 anos, há meio século, encontro inspiração em uma frase poderosa: “a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos”. Dita por um pensador persa em ‘Akká, antiga Palestina, hoje parte de Israel, ela moldou minha visão. Escrevi quase duas dezenas de livros comparando filosofias, ideologias e religiões, encontrando nelas a busca comum por felicidade, prosperidade e progresso.
Diante do nacionalismo exacerbado, do fanatismo religioso e da ciência voltada para a guerra, sinto urgência em propor uma nova visão: um mundo unido, onde sistemas de crenças, economias e ciências convergem para o bem-estar coletivo.
Sistemas interdependentes para um futuro unido
Visualizemos os sistemas da humanidade — crenças, filosofias, ambientais, econômicos, científicos — como órgãos de um mesmo corpo, pulsando pelo bem-estar da espécie.
A ciência ilumina, a economia irriga, o ambientalismo protege, as filosofias orientam, e as crenças inspiram.
Como rios que convergem para um oceano, sua interdependência é inegável. Se a economia polui ou as crenças dividem, todos sofrem.
Refletir sobre essa conexão nos desafia a harmonizar esses fluxos, direcionando-os para um propósito comum: uma civilização onde a justiça e a colaboração sustentem a prosperidade coletiva, unindo a humanidade em um destino compartilhado.
Quando o mundo precisa da ONU, ela falha: o desafio das guerras nucleares no século XXI
A pergunta não é se a ONU deve mudar. Mas se o mundo pode continuar sem que ela mude


14 de junho de 2025
Três guerras, três ameaças nucleares, três provas dolorosas da inoperância do sistema internacional fundado para evitar justamente esse tipo de tragédia. A invasão russa à Ucrânia, a escalada militar entre Israel e Hamas após os atentados de 7 de outubro de 2024, e agora, mais recentemente, a ofensiva aérea lançada por Israel contra alvos estratégicos do Irã, ocorrida em 13 de junho de 2025, colocaram em xeque não apenas o equilíbrio geopolítico do planeta, mas a própria credibilidade da Organização das Nações Unidas. Criada em 1945 para impedir a repetição dos horrores da Segunda Guerra Mundial, a ONU tornou-se, aos olhos de muitos analistas, uma espectadora constrangida da desordem global que deveria conter.
A impotência da ONU não é um fenômeno novo, mas o agravamento simultâneo de três conflitos envolvendo potências nucleares deu à sua paralisia um caráter de urgência incontornável.
O que está em crise não é apenas o funcionamento do Conselho de Segurança, frequentemente travado pelo direito de veto dos cinco membros permanentes, mas a própria ideia de um multilateralismo funcional, baseado em regras claras e no primado da paz. Em cada um desses conflitos, a ONU tentou intervir. E falhou.
Na Ucrânia, desde a anexação da Crimeia em 2014 e com intensidade renovada após a invasão de fevereiro de 2022, a Rússia bloqueou com seu veto dezenas de tentativas de sanção ou condenação. No conflito entre Israel e Hamas, os Estados Unidos barraram repetidas resoluções pedindo cessar-fogo ou investigação de possíveis crimes de guerra.
E na mais nova e grave escalada entre Israel e Irã, uma reunião emergencial do Conselho de Segurança foi convocada, mas não produziu nem mesmo uma declaração conjunta.
Fato: a diplomacia internacional, reduzida à retórica, revelou-se incapaz de acompanhar o ritmo vertiginoso dos mísseis.
Esse estado de inação estrutural não é acidental. Ele decorre de uma arquitetura institucional ancorada num mundo que já não existe.
A fundação da ONU foi uma resposta à barbárie. Os líderes vitoriosos da Segunda Guerra Mundial — especialmente Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética — construíram uma estrutura multilateral centrada na ideia de que o diálogo e o equilíbrio de poder poderiam manter a paz.
O Conselho de Segurança, com seus cinco membros permanentes dotados de poder de veto, foi concebido para garantir que nenhuma decisão de peso fosse tomada sem o aval das grandes potências militares. Era uma fórmula de consenso forçado. Mas era também um pacto com o passado.
O mundo de 1945 tinha pouco mais de cinquenta países soberanos. Governos nacionais eram os únicos atores relevantes. O conceito de “segurança internacional” estava diretamente ligado à contenção entre Estados.
Hoje, o cenário é outro.
São mais de 190 nações reconhecidas, além de blocos regionais, organizações civis transnacionais, corporações globais e redes informais de poder com alcance planetário.
A proliferação de interesses — e de ameaças — transformou a paisagem geopolítica num mosaico de tensões impossíveis de conter com os mecanismos de sete décadas atrás.
Apesar dessas mudanças profundas, a ONU preserva sua estrutura quase intacta. Sua Assembleia Geral continua com poderes limitados, suas resoluções não têm força de lei, e o Conselho de Segurança segue refém do veto.
O que nos causa perplexidade, para não dizer assombroso espanto, é que a cada tentativa de reforma estrutural, os interesses nacionais dos próprios membros permanentes minam qualquer avanço real. As críticas mais duras apontam justamente essa paralisia autoimposta.
A ONU, dizem muitos analistas, fracassa não porque tenta e falha, mas porque não está desenhada para funcionar no mundo que temos.
O texto “Defining a Role for the UN Within the Emerging International Order” que integra o mais lúcido e abrangente estudo sobre o papel e a necessidade de reengenharia da ONU: Turning Point for All Nations, traduzido em português corrente “momento decisivo para todas as nações”, foi publicado pela Comunidade Internacional Bahá’í em 1 de outubro de 1995, e dentro de poucos meses se terão transcorridos 30 anos desde que foi tornado acessível ao escrutínio das lideranças mundiais e da humanidade em geral, traduzido que foi para diversos idiomas.
Estas análises e reflexões capazes de ensejar uma Organização das Nações Unidas nos moldes que o mundo precisa é uma robusta e coerente proposta de reforma institucional, porque trata desse impasse com uma lente evolucionária. Pois bem, em vez de propor o desmonte da ONU, os autores sugerem um caminho de reengenharia gradual, baseado na adaptação das funções legislativa e executiva da organização ao novo cenário global.
A lógica não é destruir para recomeçar, mas redesenhar por dentro — com coerência, continuidade e foco estratégico.
Nesse espírito, uma das propostas centrais é a revitalização da Assembleia Geral.
O texto critica o peso excessivo da soberania estatal, que confere a regimes autoritários o mesmo poder formal que democracias consolidadas.
Defende que, ao menos em domínios específicos — como segurança climática, genocídio, armas de destruição em massa — as resoluções da Assembleia passem a ter força de lei, desde que aprovadas por maioria qualificada e com salvaguardas jurídicas para sua aplicação.
Seria uma forma de contornar o veto sem abolir a soberania.
Outra sugestão crucial é o desenvolvimento de uma função executiva internacional mais eficaz — algo que vá além do simbolismo das cúpulas diplomáticas ou da retórica dos pronunciamentos solenes.
Atualmente, a responsabilidade executiva recai majoritariamente sobre o Conselho de Segurança e, em menor grau, sobre o Secretariado. Mas ambos enfrentam limitações severas. O Conselho não consegue agir com firmeza por causa do veto. O Secretariado está sufocado pelas agendas concorrentes dos próprios Estados-membros, que impõem prioridades conflitantes e esvaziam sua autonomia.
No núcleo dessa proposta está a criação de uma força internacional permanente, leal às Nações Unidas e desvinculada das forças armadas nacionais. Essa força seria comandada pelo Secretário-Geral, com autoridade do Conselho, mas supervisionada e financiada pela Assembleia Geral. Sua função: implementar decisões legítimas da ONU, garantir acesso humanitário, proteger populações civis e conter conflitos antes que se tornem guerras abertas.
A ideia não é nova. Desde o início dos anos 1990, após os desastres em Ruanda e na Bósnia, discute-se a necessidade de uma força multilateral com capacidade real de intervenção. Mas as experiências até agora têm sido frustrantes: as missões de paz da ONU, como a UNIFIL no Líbano ou a MONUSCO no Congo, raramente contam com os recursos e o mandato necessários para agir.
A criação de uma força com efetividade militar — profissional, independente e bem financiada — alteraria esse cenário. Permitiria, por exemplo, conter escaladas como a atual entre Israel e Irã. Ou evitar massacres como os que ocorrem periodicamente na Síria, em Darfur ou em Gaza.
Além disso, criaria o ambiente de segurança mínimo necessário para impulsionar o desarmamento global. Afinal, os países só poderão abrir mão de arsenais se souberem que há um escudo internacional para protegê-los.
Outra proposta ambiciosa do texto diz respeito ao poder de veto.
Ele foi concebido, originalmente, como salvaguarda contra decisões hostis a uma das grandes potências. Mas tornou-se, na prática, um mecanismo de chantagem geopolítica. Desde o início da Guerra Fria, o veto tem sido usado com frequência para proteger aliados estratégicos, impedir investigações de crimes de guerra e travar resoluções de cessar-fogo.
O resultado?
Uma paralisia que custa vidas.
O documento propõe uma transição cuidadosa: não se trata de abolir o veto de imediato, o que seria politicamente impossível. Mas sim de restringir seu uso a situações realmente vitais para a segurança nacional do país que o exerce. Em outras palavras: impedir que o veto seja usado para blindar aliados de sanções por violações sistemáticas do direito internacional. Essa mudança, embora sutil, teria impacto profundo.
Como essas propostas poderiam operar na prática diante dos três conflitos em curso?
Tomemos o caso da Ucrânia. Desde a invasão em 2022, a Assembleia Geral tem sido a principal instância a aprovar resoluções simbólicas de condenação à Rússia. Nenhuma delas, no entanto, teve efeito concreto. Com a adoção de uma reforma que conferisse força legal limitada às resoluções da Assembleia em temas de guerra e paz, poder-se-ia aplicar sanções internacionais automáticas, mobilizar uma força humanitária, e deter o avanço militar de forma preventiva. O veto russo, nesse cenário, deixaria de ser um escudo absoluto contra consequências.
No caso de Israel e Hamas, a mudança mais urgente seria justamente o controle do uso abusivo do veto. Em diversas ocasiões, os Estados Unidos vetaram resoluções que pediam o fim dos bombardeios sobre civis palestinos, a entrada de ajuda humanitária ou investigações sobre crimes de guerra.
Com uma ONU reconfigurada, esse tipo de bloqueio seria submetido a um escrutínio maior — e poderia ser anulado, por exemplo, por maioria qualificada dos demais membros do Conselho. Isso não implicaria hostilidade contra Washington, mas reafirmação de um princípio: ninguém está acima do direito internacional.
Já na escalada entre Israel e Irã, iniciada há menos de 48 horas, as limitações da ONU beiram o surrealismo. Apesar de dezenas de mortos, alertas da AIEA sobre riscos nucleares e apelos por contenção de países europeus, o Conselho de Segurança mal conseguiu emitir uma nota oficial.
Uma força da ONU com presença prévia na região poderia ter monitorado atividades suspeitas, pressionado por uma zona de exclusão aérea e contribuído para desescalar o conflito antes do primeiro ataque.
Esses são apenas exemplos. Mas mostram o que está em jogo: a diferença entre uma organização que observa catástrofes e uma que atua para preveni-las.
Naturalmente, qualquer reforma dessa envergadura enfrentará resistência. Os membros permanentes dificilmente abrirão mão voluntariamente de seus privilégios históricos. Mas a pressão internacional — vinda não apenas de Estados-membros, mas da sociedade civil, das universidades, das redes de cooperação internacional — tem crescido. E pode encontrar nas crises atuais o catalisador necessário para mudanças que pareciam impossíveis.
É necessário aprofundarmos mais.
O mundo que deu origem à ONU em 1945 já não existe. A Guerra Fria acabou, as alianças mudaram, a tecnologia militar tornou-se exponencial. E as ameaças — do colapso climático às pandemias, do terrorismo transnacional à guerra cibernética — já não respeitam fronteiras. Mas os mecanismos de governança global seguem presos a um tempo que passou.
É nesse abismo entre realidade e estrutura que florescem os conflitos contemporâneos.
Enquanto a ONU não se reinventar, continuará sendo aquilo que os críticos há décadas denunciam: uma instituição incapaz de impedir guerras, salvar civis ou impor a paz. Uma organização fundada para unir a humanidade diante de seus piores medos, hoje transformada num espelho das divisões que pretende superar.
Mas há alternativas:
Reformar a Assembleia Geral.
Redesenhar o Conselho de Segurança.
Criar uma força internacional com autoridade real.
Restringir o uso do veto.
Financiar a ONU de forma autônoma.
Implementar um idioma auxiliar para facilitar a cooperação.
Explorar a viabilidade de uma moeda internacional.
Todas essas propostas têm em comum? É que todas elas já existem — e esperam apenas coragem política para serem postas em ação.
No fim, a pergunta não é se a ONU deve mudar. Mas se o mundo pode continuar sem que ela mude.
Se falhar novamente, como em Gaza, em Kiev, em Teerã, o preço não será apenas diplomático. Será humano. E talvez irreversível.
Portas do inferno abertas: Israel ataca Teerã e escalada ameaça o Oriente Médio
O ataque de Israel a Teerã é um divisor de águas. A destruição de alvos nucleares reflete a determinação de Israel, mas eleva o risco de guerra regional


13 de junho de 2025
Por volta das 21:00 de 12 de junho de 2025 (horário de Brasília), as primeiras notícias de explosões devastadoras em Teerã, capital do Irã, começaram a circular, conforme relatos iniciais de fontes como a agência iraniana IRNA e posts no X. Israel lançou um ataque aéreo de grande escala contra alvos estratégicos iranianos, marcando uma escalada sem precedentes na rivalidade entre os dois países. Até às 00:30 de 13 de junho de 2025 (horário de Brasília), fontes confiáveis como The New York Times, The Guardian, Reuters, The Washington Post, Le Monde, Der Spiegel e The Times confirmam que a operação, batizada de “Leão Ascendente”, atingiu instalações nucleares e bases da Guarda Revolucionária Islâmica, matando figuras-chave como o comandante Hossein Salami e o ex-chefe da Organização de Energia Atômica, Fereydoon Abbasi. O ataque coloca o Oriente Médio à beira de um conflito regional catastrófico.
Há mais de 28 anos, acompanho jornalisticamente a fragilidade da paz no Oriente Médio, um tema central nas disciplinas que ministro em universidades de Brasília. Sempre visualizei um conflito direto entre Israel e Irã como as portas do inferno se abrindo, uma imagem sombria que agora ganha contornos reais. Este artigo analisa as origens do ataque, seus objetivos, o poderio militar empregado, as consequências de um Irã nuclear, possíveis retaliações iranianas, o papel dos Estados Unidos e as reações imediatas de líderes nas redes sociais, capturando o clima de tensão horas após o evento.
Raízes de um conflito: Décadas de hostilidade - As tensões entre Israel e Irã remontam à criação do Estado de Israel em 1948. Sob a monarquia Pahlavi, o Irã foi um aliado, reconhecendo Israel como o segundo país de maioria muçulmana.
A Revolução Islâmica de 1979, liderada pelo aiatolá Khomeini, transformou o Irã em uma teocracia xiita que rejeita Israel, chamando-o de “inimigo sionista”.
Ataques cibernéticos, assassinatos de cientistas nucleares iranianos (atribuídos ao Mossad) e apoio iraniano a grupos aliados ao Irã, como Hezbollah, Hamas e Houthis, marcaram essa rivalidade.
Escalada recente: de Gaza a Teerã - O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que matou 1.200 israelenses, desencadeou a guerra em Gaza. O Irã, principal financiador do Hamas e do Hezbollah, intensificou suas ações.
Em abril e outubro de 2024, Teerã lançou mais de 500 mísseis e drones contra Israel, em retaliação a bombardeios na Síria e assassinatos de líderes como Ismail Haniyeh e Hassan Nasrallah.
Israel respondeu com ataques limitados, como o de Isfahan em abril de 2024, visando defesas aéreas iranianas. The Guardian destaca que a queda do regime Assad na Síria, em dezembro de 2024, enfraqueceu a rede iraniana.
O ataque de 12 de junho de 2025 é um marco. Reuters informa que Israel justificou a operação como preventiva contra o programa nuclear iraniano, após a AIEA censurar Teerã por enriquecer urânio a 90%.
O fracasso das negociações nucleares com os EUA, em abril de 2025, e a vulnerabilidade iraniana após os ataques de outubro de 2024, que danificaram suas defesas, precipitaram a decisão.
Objetivos e força militar: precisão letal - Os alvos incluíram instalações nucleares em Natanz e Fordow, fábricas de mísseis em Parchin e bases da Guarda Revolucionária em Teerã e Karaj. The Washington Post relata que Israel mobilizou caças F-35 e F-15, drones armados e mísseis balísticos.
A operação, apoiada pelo “Domo de Ferro” e baterias Arrow, demonstrou a supremacia aérea israelense, consolidada desde a Guerra dos Seis Dias (1967). Le Monde destaca a destruição de centrífugas em Natanz.
Israel, com um orçamento militar de US$ 19,4 bilhões (2022), 340 caças e cerca de 90 ogivas nucleares (estimativa do SIPRI), priorizou neutralizar a capacidade nuclear e a Guarda Revolucionária, que coordena milícias apoiadas.
A operação foi planejada por meses, com inteligência de satélites, drones e agentes infiltrados, segundo The Times. O objetivo foi retardar o programa nuclear iraniano em anos.
Vozes na crise: reações nas redes sociais - Líderes israelenses e iranianos usaram o X para moldar a narrativa. Às 22:47 de 12 de junho, Benjamin Netanyahu postou: “Israel lançou a Operação ‘Leão Ascendente’ para reverter a ameaça iraniana. Continuaremos até eliminá-la.”
O ministro da Defesa, Israel Katz, anunciou às 21:40: “Declaramos estado de emergência. O ‘Domo de Ferro’ está ativo.” A mensagem projeta confiança na defesa israelense.
Do lado iraniano, a conta da Guarda Revolucionária declarou: “o regime sionista pagará um preço alto. Nossa resposta será dura”. O presidente Masoud Pezeshkian não se pronunciou diretamente.
A agência estatal IRNA citou um porta-voz prometendo “resposta com força total”. Essas mensagens refletem a pressão interna no Irã para uma retaliação robusta.
Ameaça nuclear: um Irã armado? - O programa nuclear iraniano é o cerne do conflito. A AIEA confirmou em 2025 que o Irã possui material físsil para 15 bombas atômicas, com urânio enriquecido a 90%.
Um Irã nuclear traria consequências graves:
Corrida armamentista: desafiaria Israel e incentivaria programas nucleares na Arábia Saudita, Turquia e Egito, segundo Der Spiegel.
Conflitos intensificados: daria confiança ao Irã para apoiar grupos aliados, como o Hezbollah, com 100 mil foguetes, aumentando o risco de guerra nuclear limitada.
Isolamento global: sanções e intervenção militar agravariam a crise econômica iraniana (inflação de 40% em 2024) e protestos, como os de 2022.
A censura da AIEA e o colapso das negociações nucleares, que exigiam zero enriquecimento, intensificaram a urgência em Israel.
Retaliação iraniana: três cenários possíveis - O Irã, com um orçamento militar de US$ 44 bilhões e 610 mil militares, possui mísseis Sejil e Kheibar, capazes de atingir Israel em 12 minutos. The Times aponta três cenários:
Ataque direto: mísseis e drones contra Tel Aviv, como em 2024, com danos limitados pelo “Domo de Ferro”.
Mobilização de aliados: Hezbollah, Houthis e milícias iraquianas poderiam atacar Israel e bases americanas. O Hezbollah mantém milhares de foguetes no Líbano.
Guerra assimétrica: ataques cibernéticos ou atentados no exterior evitariam confronto direto, onde o Irã é inferior.
Os ataques israelenses de 2024 danificaram a produção de mísseis iranianos, mas Teerã mantém capacidade retaliatória.
Papel dos EUA: apoio e cautela - Os EUA estão em posição delicada. The Guardian cita Marco Rubio chamando o ataque de “unilateral”. Trump, buscando um acordo nuclear, criticou ações que comprometam a diplomacia.
Os EUA evacuaram diplomatas do Iraque, segundo CBS News, temendo retaliações. Com 40 mil tropas na região e destróieres no Mediterrâneo, Washington apoia Israel com inteligência e sistemas Patriot.Le Monde sugere que os EUA podem mediar uma trégua, mas a polarização política e as eleições de 2026 limitam Trump.
Um futuro incerto: o risco de conflagração - O ataque de Israel a Teerã em 12 de junho de 2025 é um divisor de águas. A destruição de alvos nucleares reflete a determinação de Israel, mas eleva o risco de guerra regional.
As mensagens de Netanyahu e da Guarda Revolucionária sinalizam inflexibilidade. As próximas horas determinarão se o Irã optará por retaliação direta ou assimétrica.
Os EUA tentam equilibrar apoio a Israel com diplomacia para evitar um conflito global. O Oriente Médio está à beira do abismo, com as portas do inferno escancaradas.
A situação atual do mundo me lembra a comédia clássica de 1980, Apertem os Cintos… o Piloto Sumiu!, dirigida por Jim Abrahams e os irmãos Zucker, onde um voo caótico depende de um piloto improvável. Desde 2024, sinto que a paciência de Deus, em quem acredito profundamente, está se esgotando. Mais do que nunca, a paz deve prevalecer sobre interesses nacionais, econômicos e as falaciosas supremacias dos senhores da guerra. Esses senhores são especialistas em reduzir drasticamente o número de seres humanos no planeta. São aqueles que fabricam cemitérios em uma velocidade jamais vista. De outro lado, lembram crianças de três anos brincando com fósforos e galões de gasolina.
Nações prósperas criam políticas que resistem às alternâncias de poder
O século XXI pertencerá às nações que planejam com estratégia e executam com precisão


03 de junho de 2025
Nações que planejam o amanhã vencem o hoje. Com planejamento institucional e inteligência estratégica, China, Brasil e Singapura forjaram progressos históricos. O Brasil tem lições do passado para guiar seu futuro. Curioso para saber como políticas de Estado podem mudar tudo?
A história contemporânea ensina uma lição cristalina: nações que florescem transcendem os ciclos eleitorais, forjando políticas de Estado que superam a efemeridade dos governos. O planejamento institucional e a inteligência estratégica não são meros recursos administrativos — são o alicerce de uma governança visionária e do progresso nacional duradouro.
Ascensão chinesa e meio século de transformação planejada
O milagre chinês ilustra o poder da estratégia bem orquestrada. Em 1978, com 962 milhões de habitantes, IDH de 0,423 e renda per capita de US$ 156, a China era um gigante adormecido. Hoje, com 1,409 bilhão de pessoas, ostenta IDH de 0,768 e PIB per capita de US$ 12.720 — um salto de mais de 8.000% na renda individual.
Entre 1979 e 2018, o PIB chinês cresceu a uma média anual de 9,5%, o que o Banco Mundial classificou como “o mais rápido crescimento econômico sustentado de um grande país na história”. Esse avanço tirou 800 milhões de pessoas da pobreza extrema, evidenciando o impacto transformador de políticas de Estado.
Esse êxito não foi fortuito. A China estruturou planos quinquenais que aliam visão de longo prazo a uma execução implacável. Cada plano define metas precisas para setores como infraestrutura, educação e tecnologia. O resultado? Uma economia que, de US$ 150 bilhões em 1978, atingiu US$ 17 trilhões em 2021, consolidando-se como a segunda maior do mundo.
A estratégia chinesa revela a distinção entre políticas de governo e de Estado. Governos são transitórios; o Estado é perene. A China ergueu instituições que sustentam projetos de décadas, garantindo coerência estratégica, independentemente de quem esteja no comando.
Brasil e os ciclos virtuosos de Vargas e JK
O Brasil já viveu eras em que o pensamento de Estado prevaleceu sobre o imediatismo. Na Era Vargas (1930-1945 e 1951-1954), o país lançou seu primeiro grande projeto de nação. De 1930 a 1950, a população cresceu de 33 para 52 milhões, o PIB per capita avançou 2,5% ao ano, e a industrialização ganhou raízes sólidas.
Pense no Brasil como uma orquestra: cada setor econômico é um grupo de instrumentos, cada política pública, uma partitura. O Estado, como maestro, harmoniza essas vozes ao longo de décadas. Vargas foi o pioneiro nessa regência, criando a Companhia Siderúrgica Nacional (1941), a Petrobras (1953) e as bases da indústria brasileira. Ele via o Brasil como um projeto de nação, não como um palco eleitoral.
Juscelino Kubitschek (1956-1961) ampliou essa visão com o Plano de Metas, prometendo “50 anos em 5”. Com 61 milhões de habitantes, o Brasil viu o PIB total crescer 7% ao ano, com o PIB per capita subindo cerca de 30% no período. A indústria automobilística nasceu, e Brasília foi erguida.
Os frutos dessas políticas ecoam: em 1950, o IDH brasileiro era de 0,345; em 1980, alcançou 0,549. Hoje, com 216 milhões de habitantes, o país tem IDH de 0,760 e PIB per capita de US$ 11.351, ocupando a 87ª posição no ranking global de desenvolvimento humano.
Vargas e JK compartilhavam uma convicção: o Brasil era um Estado, não apenas um governo. Criaram instituições perenes, bases industriais robustas e transformações que moldaram gerações.
Singapura e o modelo euro-asiático de planejamento
Singapura é outro farol de planejamento estratégico. Em 1965, recém-independente, tinha 1,9 milhão de habitantes, IDH de 0,613 e uma economia ancorada no comércio portuário. Com disciplina e visão, transformou-se radicalmente.
Seu plano diretor, revisado a cada década, projeta 50 anos à frente, um exemplo raro de foresight. Hoje, com 5,9 milhões de habitantes, Singapura exibe IDH de 0,949 (9º no mundo) e PIB per capita de US$ 88.429, entre os mais altos do planeta.
O desenvolvimento seguiu etapas claras: trabalho intensivo nos anos 1960, exportações nos 1970, competitividade nos 1980 e inovação nos 1990. De 1965 a 1990, o PIB per capita saltou de US$ 516 para US$ 11.900 — crescimento de mais de 2.000% em 25 anos.
Planos quinquenais de pesquisa e inovação, com 2% do PIB investido em P&D entre 2021 e 2025, posicionaram Singapura como líder asiático em inovação, segundo o Global Innovation Index. O país prova que limitações geográficas podem ser superadas por estratégias inteligentes.
Urgência de pensar como estado
A diferença entre governar e construir um Estado está no horizonte temporal e na continuidade. Governos gerenciam o agora; Estados arquitetam o amanhã. Nações prósperas criam políticas que resistem às alternâncias de poder.
Planejamento institucional e inteligência estratégica são pilares da governança responsável. Não se trata de autoritarismo, mas de consensos nacionais sobre prioridades de longo prazo. É construir instituições que pensem e ajam em décadas, imunes às turbulências políticas de curto prazo.
O século XXI pertencerá às nações que planejam com estratégia e executam com precisão. A China mostrou que é possível. Singapura provou que tamanho não é obstáculo. O Brasil já trilhou esse caminho. A questão é: teremos a lucidez para retomá-lo?
O eclipse do dólar e a constelação financeira que a China está desenhando
Ofensiva chinesa não se restringe aos ativos financeiros. Sua diplomacia econômica amplia a influência em nações da Ásia, África e América Latina


12 de maio de 2025
Como um maestro que abandona uma sinfonia desafinada para compor sua própria obra-prima, a China começa a retirar seus instrumentos do concerto econômico liderado pelos Estados Unidos. O dólar, outrora nota dominante, pode estar prestes a perder seu compasso.
A sinfonia da desdolarização - Em 2024, a China reduziu sua exposição aos títulos do Tesouro dos EUA, encerrando o ano com US$ 759 bilhões em ativos, o menor nível desde 2009, segundo dados do Departamento do Tesouro dos EUA. Paralelamente, o país aumentou suas reservas de ouro para 2.290 toneladas, conforme relatório do World Gold Council. Esses movimentos indicam uma estratégia clara de desdolarização, intensificada após as recentes tensões comerciais entre as duas potências.
A ofensiva chinesa não se restringe aos ativos financeiros. Sua diplomacia econômica amplia a influência em nações da Ásia, África e América Latina por meio da Iniciativa do Cinturão e Rota. O yuan passa a ser usado em transações bilaterais com Rússia, Irã, Brasil e Arábia Saudita, sinalizando uma erosão lenta — mas firme — da hegemonia monetária americana.
Como o dólar se tornou o maestro da economia mundial - A atual ordem financeira global nasceu dos escombros da Segunda Guerra Mundial, com os Acordos de Bretton Woods, em 1944. O dólar foi estabelecido como moeda central, lastreado em ouro, e as instituições criadas nesse pacto — FMI e Banco Mundial — consolidaram o papel dos EUA como epicentro financeiro global.
Em 1971, Richard Nixon abandonou o padrão-ouro, transformando o dólar em moeda fiduciária. Mesmo assim, sua centralidade permaneceu, especialmente após o acordo com a Arábia Saudita para que o petróleo fosse comercializado exclusivamente em dólares. Hoje, ainda cerca de 58% das reservas internacionais são denominadas em dólar, uma queda significativa em relação aos 71% registrados em 1999, conforme dados do FMI.
A constelação BRICS ganha brilho - Em janeiro de 2025, o BRICS passou a contar com seis novos membros: Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. A nova formação representa cerca de 36% do PIB global e 46% da população mundial, conforme relatório da UNCTAD. O grupo discute, com seriedade crescente, a criação de uma moeda comum e um sistema de pagamentos alternativo ao SWIFT, apoiado por blockchain.
A força do BRICS já não é potencial: é real, articulada e crescente. Seus países-membros compartilham uma visão crítica da ordem estabelecida e buscam uma nova arquitetura financeira mais justa e multipolar.
A nova rota da seda: o século XXI em construção - Anunciada por Xi Jinping em 2013, a Iniciativa do Cinturão e Rota (ou Nova Rota da Seda) é um dos projetos mais ambiciosos da história recente. Inspirada nas antigas rotas comerciais que ligavam China, Ásia Central, Europa e África, essa iniciativa busca criar um gigantesco corredor econômico global — marítimo e terrestre — que interliga mais de 70 países por meio de obras de infraestrutura, como estradas, ferrovias, portos e oleodutos.
Com investimentos superiores a US$ 1 trilhão, a Rota já financiou obras como a ferrovia China-Laos, o porto de Gwadar no Paquistão, e infraestrutura ferroviária em países africanos como Quênia e Nigéria. Mais do que um projeto econômico, trata-se de uma iniciativa geopolítica de longo prazo, que reposiciona a China como centro nervoso do novo comércio mundial — demonstrando uma qualidade estratégica essencial do pensamento chinês: planejamento em ciclos históricos, e não apenas eleitorais.
Estados Unidos: os ecos de uma queda anunciada - A venda de ativos chineses causou turbulência nos mercados americanos. Em outubro de 2024, o Nasdaq despencou 5,7% e os juros dos títulos de 10 anos atingiram 4,9%, segundo a Bloomberg. Com a dívida pública dos EUA ultrapassando US$ 34 trilhões, o custo de financiamento da máquina estatal cresce. O FMI alertou em relatório de março que o atual modelo fiscal americano é “insustentável no médio prazo”.
De 71% das reservas globais em 1999, o dólar caiu para 58,4% em 2023, e continua em declínio. Enquanto isso, o yuan vem crescendo em contratos bilaterais e como moeda de troca em acordos energéticos.
Antes de Donald Trump reassumir a presidência em 21 de janeiro de 2025, a disputa sino-americana era intensa, mas estável. Desde então, tarifas sobre semicondutores, bloqueios a empresas chinesas de energia e pressão sobre países que aceitam o yuan marcaram os 100 primeiros dias de seu governo.
A China respondeu com pragmatismo e velocidade. Em abril, consolidou novos acordos com os países do BRICS e firmou contratos com nações africanas e latino-americanas. Segundo o China Daily, 22% do comércio sino-árabe já é realizado em yuan.
O Brasil no tabuleiro global - Em meio a esse reposicionamento de forças, o Brasil emerge como ator diplomático e comercial relevante. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está, neste exato momento, 12 de maio, em visitas oficiais à Rússia e à China, ampliando a cooperação Sul-Sul e buscando alternativas à dependência dos mercados tradicionais ocidentais. Esta é a 3a. visita de Lula a Xi Jin Ping
Em Pequim, mais de 700 líderes empresariais brasileiros e chineses participam de rodadas de negociações. Embora os novos acordos ainda não tenham sido oficialmente anunciados, fontes do Itamaraty indicam que poderão envolver mais de US$ 25 bilhões em investimentos conjuntos.
China anuncia R$ 27 bilhões em investimentos no Brasil durante visita de Lula a Pequim - Durante visita oficial à China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira (12/05) a previsão de R$ 27 bilhões em investimentos chineses no Brasil. A declaração foi feita após um fórum empresarial promovido em Pequim pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações (ApexBrasil), cujo presidente, Jorge Viana, detalhou os aportes previstos. Entre os investimentos mais expressivos estão R$ 6 bilhões da montadora Great Wall Motors (GWM) para expansão de suas operações no país, R$ 5 bilhões da plataforma de delivery Meituan (com o app Keeta), e até R$ 5 bilhões da Envision, que construirá o primeiro parque industrial “net-zero” da América Latina.
O pacote inclui ainda R$ 3 bilhões da estatal CGN para um hub de energia renovável no Piauí, R$ 3,2 bilhões da rede de sorvetes Mixue, com expectativa de gerar 25 mil empregos até 2030, e R$ 2,4 bilhões do grupo minerador Baiyin Nonferrous para adquirir a mina de cobre Serrote, em Alagoas. Estão previstas também ações de empresas como DiDi, Longsys (semicondutores) e laboratórios farmacêuticos, além de acordos para promover café, cinema e produtos brasileiros no varejo chinês. A visita de Lula, acompanhado por 11 ministros, o presidente do Senado Davi Alcolumbre e 200 empresários, reforça o papel da China como principal parceira comercial do Brasil.
Antes de chegar à China, Lula passou pela Rússia e se encontrou com Vladimir Putin, defendendo um cessar-fogo na Ucrânia. Segundo o presidente, a China saltou da 14ª para a 5ª posição no ranking de investimento direto no Brasil na última década, somando hoje mais de US$ 54 bilhões em ativos. Em seu discurso, Lula afirmou que a China está sendo exemplo de cooperação com países esquecidos pela economia mundial nas últimas três décadas. Um encontro com o presidente Xi Jinping está marcado para esta terça-feira (13).
Num gesto simbólico e inédito de cordialidade diplomática e reconhecimento cultural, o governo chinês saudou a visita de Lula com a estreia simultânea, em nada menos que 10.000 salas de cinema em todo o país, do filme brasileiro Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025. Protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, o longa-metragem conta a trágica história do desaparecimento e morte do ex-deputado federal Rubens Paiva durante a ditadura militar brasileira. Produzido fora da China, o filme recebeu um tratamento raríssimo para padrões chineses — tamanha distribuição interna de uma produção estrangeira costuma ser reservada a grandes blockbusters norte-americanos ou a coproduções com estúdios locais. A calorosa recepção da obra nas telas chinesas tornou-se símbolo das atuais boas relações entre Pequim e Brasília.
Segundo o Banco Mundial, a China já é o principal parceiro comercial do Brasil, com trocas que superaram US$ 150 bilhões em 2024. Trata-se de um efeito dominó: no lugar da velha globalização multilateral, vê-se agora uma cadeia de reações em que o protecionismo e o unilateralismo empurram países emergentes para novas coalizões. O Brasil tenta transformar o risco da fragmentação em oportunidade de reinserção global.
Previsões realistas para um mundo em transição - O cenário global em abril de 2025 é de grande instabilidade. A inflação nos EUA diminuiu para 2,4% em março, a mais baixa desde setembro, caindo de 2,8% em fevereiro. Já a China enfrenta deflação, com os preços ao consumidor caindo 0,1% em relação ao ano anterior em abril, mantendo o mesmo ritmo pelo segundo mês consecutivo.
Especialistas da The Economist Intelligence Unit apontam para a tendência de “multipolarização” econômica, com o BRICS consolidando-se como alternativa sistêmica.
A moeda digital chinesa (e-CNY), já em uso experimental em grandes cidades, começa a ser testada em transações internacionais. Países como Tailândia e Emirados Árabes já iniciaram projetos-piloto. Ao mesmo tempo, contratos em moedas locais entre países do Sul Global mostram que o movimento de desdolarização é tão prático quanto simbólico.
Vivemos hoje dois grandes movimentos planetários simultâneos. O primeiro é o da desintegração: do multilateralismo, da estabilidade institucional e da ideia de uma ordem econômica única. O aumento das tensões geopolíticas, a fragilidade das democracias liberais e a concentração de renda — com 1% da população mundial controlando mais da metade da riqueza global, segundo a Oxfam — são sintomas evidentes.
O segundo movimento é o da integração: novas alianças econômicas, blocos regionais em ascensão, moedas alternativas e parcerias entre países que compartilham visões de futuro mais equitativas e colaborativas. Entendo estarmos diante de uma metamorfose sistêmica.
Esses dois movimentos sempre ocorreram ao longo da História. Não nos deveria causar nem surpresa menos ainda perplexidade. Para que o novo nasça é necessário que o velho morra. A ordem mundial que temos mostra-se lamentavelmente defeituosa porque travou abismos não apenas intoleráveis, mas insuportáveis: a imensa disparidade entre riqueza e pobreza, a cultura da 1exclusão, da discriminação por questões éticas, raciais, religiosas, sociais e nacionais. Tinha tudo pra ser fadada ao fracasso. A diferença é que somos a geração que testemunha isso enquanto esses eventos no passado nos foram apresentados através de livros históricos, da ciência política, da sociologia. No caso atual, podemos ouvir os gritos agônicos do que luta por nascer e os estertores do que insiste em sobreviver.
A justiça só será estabelecida se for varrida da história a injustiça. O fanatismo e a perseguição religiosa precisam desaparecer para que floresça o diálogo inter-religioso. A cultura patriarcal machista precisa perder espaço muito velozmente para que a igualdade de direitos entre homens e mulheres se firme como a divisa para uma nova ordem mundial equânime. E por aí vai.
Estaremos testemunhando o fim de uma ordem decadente e claramente defeituosa ou o nascimento de uma civilização planetária mais justa, solidária e interdependente?
Unidade humana é chave para sobrevivência
A busca pela unidade humana não é apenas um ideal nobre, mas uma necessidade urgente para a sobrevivência coletiva


30 de abril de 2025
O século XXI é palco de uma paradoxal tensão entre a promessa de um mundo globalizado e a realidade de um planeta profundamente fragmentado. Enquanto a tecnologia e a economia encurtam distâncias e conectam culturas, forças opostas como o ressurgimento de nacionalismos, a escalada de conflitos regionais e a crescente desigualdade social constroem muros invisíveis que dividem a humanidade.
Nesse cenário, a busca pela unidade humana não é apenas um ideal nobre, mas uma necessidade urgente para a sobrevivência coletiva. Dados recentes de fontes confiáveis reforçam a gravidade desses desafios e apontam caminhos para superá-los, exigindo uma transformação profunda em valores, políticas e atitudes.
Sombras da Globalização
A globalização, outrora saudada como solução para a prosperidade global, revela contradições alarmantes. A interdependência econômica, que deveria fomentar cooperação, frequentemente intensifica a competição por recursos e mercados, aprofundando desigualdades.
Segundo o Relatório Mundial da Desigualdade de 2022, coordenado por Thomas Piketty, os 10% mais ricos do mundo detêm 76% da riqueza global, enquanto a metade mais pobre da população possui apenas 2%. No Brasil, a Anistia Internacional reportou em 2024 que o 1% mais rico concentra quase metade da riqueza nacional, enquanto 21,1 milhões de pessoas enfrentaram fome em 2023, equivalente a 10% da população. Essa disparidade alimenta tensões geopolíticas e sociais, minando a coesão global.
A conectividade digital, embora poderosa, também amplifica ameaças. A disseminação de desinformação e discurso de ódio online compromete a confiança nas instituições e polariza sociedades. O Relatório de Riscos Globais de 2025 do Fórum Econômico Mundial identificou a desinformação como o principal risco global de curto prazo, superando até mesmo eventos climáticos extremos.
Um estudo da Universidade de Oxford, citado em 2024, revelou que a desinformação online contribuiu para um aumento de 41% nos crimes de ódio na Europa Ocidental nos últimos cinco anos, evidenciando como narrativas falsas alimentam violência e intolerância.
No Brasil, o Observatório Nacional dos Direitos Humanos registrou 293,2 mil denúncias de crimes de ódio na internet entre 2017 e 2022, com 74 mil casos em 2022, sendo a misoginia a violação que mais cresceu.
Nacionalismo e Polarização
O avanço de lideranças populistas e movimentos extremistas agrava essa fragmentação. A retórica nacionalista, que explora medo e insegurança, ganha força em um mundo marcado por crises.
Em 2023, o Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) reportou o maior número de protestos e manifestações violentas globais desde o início de seus registros, refletindo a polarização política e social.
No Brasil, a Anistia Internacional destacou em 2024 um aumento de 41% nas denúncias de violações de direitos humanos, como racismo e violência, em comparação com 2022. Essa escalada de intolerância, alimentada por narrativas xenófobas, dificulta o diálogo necessário para enfrentar desafios comuns.
A polarização também é amplificada por algoritmos de redes sociais, que criam bolhas de informação e reforçam divisões. Segundo Taís Seibt, professora da Unisinos, esses algoritmos intensificam a oposição “nós x eles”, favorecendo discursos de ódio e narrativas distorcidas. Nesse contexto, a mensagem do documento “A Prosperidade da Humanidade” ganha relevância: “O alicerce de uma estratégia capaz de levar a população do mundo a assumir responsabilidade por seu destino coletivo deve ser a consciência da unidade da humanidade.” Transcender divisões é, portanto, um imperativo.
Justiça e Solidariedade
A unidade humana vai além da coexistência pacífica; exige um compromisso ativo com justiça social, igualdade e sustentabilidade. A desigualdade econômica, por exemplo, é uma barreira crítica. A Oxfam revelou em janeiro de 2024 que a riqueza dos cinco homens mais ricos do mundo mais que dobrou desde 2020, enquanto 4,8 bilhões de pessoas ficaram mais pobres. No Brasil, o Observatório Brasileiro das Desigualdades apontou em 2024 que famílias negras são desproporcionalmente afetadas pela fome, com 22% dos domicílios chefiados por mulheres negras em insegurança alimentar grave.
A crise humanitária também reflete a urgência da solidariedade global. Em 2024, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) registrou um recorde de 120 milhões de pessoas deslocadas à força, impulsionadas por conflitos, mudanças climáticas e perseguições. Esses números sublinham a necessidade de ações coletivas para proteger os mais vulneráveis e promover a inclusão.
Organizações não-governamentais e movimentos sociais são agentes cruciais nesse processo. Em 2024, ONGs como a Anistia Internacional documentaram retrocessos em direitos humanos, mas também avanços, como a redução de 40% na extrema pobreza no Brasil em 2023, impulsionada por políticas públicas como o Bolsa Família.
Educação e Diálogo
A educação é um fundamento essencial para construir a unidade humana. Ao fomentar o entendimento intercultural e o pensamento crítico, ela combate preconceitos e desinformação. Contudo, a UNESCO alerta que 250 milhões de crianças e jovens permanecem fora da escola em 2024, um obstáculo para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4, que visa educação inclusiva e equitativa. No Brasil, o IBGE revelou em 2023 que a taxa de analfabetismo entre pretos e pardos com 15 anos ou mais é de 8,2%, contra 3,3% entre brancos, evidenciando desigualdades raciais no acesso à educação.
O diálogo intercultural complementa a educação ao promover laços de confiança e valorizar a diversidade. Iniciativas como o evento do G20 no Brasil em 2024, que reuniu especialistas para discutir integridade da informação e regulação de plataformas digitais, ilustram o potencial do diálogo multilateral para enfrentar desafios globais como a desinformação. Como destaca A Prosperidade da Humanidade, o florescimento de movimentos de mudança social reflete a resposta global à fragmentação, reforçando a ideia de que a diversidade cultural é uma riqueza, não uma ameaça.
Compromisso Pessoal com a Unidade
Desde os 16 anos, há décadas, venho participando de manifestações, eventos, simpósios e assinando cartas em defesa da paz mundial, contra os perigos de uma guerra nuclear, pela eliminação de toda forma de racismo e em prol dos direitos das mulheres.
Essas ações refletem um compromisso profundo com a unidade humana, um ideal que transcende fronteiras e diferenças.
Cada passo dado nesses movimentos reforça a convicção de que a justiça, a igualdade e a solidariedade não são apenas aspirações, mas alicerces indispensáveis para um futuro compartilhado, onde a humanidade possa superar suas divisões e construir uma sociedade mais harmoniosa.
Um Futuro Compartilhado
A unidade humana não é uma utopia, mas um objetivo alcançável por meio de empatia, solidariedade e ação coletiva. Abandonar o individualismo e abraçar a interdependência é essencial para enfrentar crises globais, da desigualdade à desinformação.
Como alerta o Relatório do Desenvolvimento Humano 2023/2024 do PNUD, a polarização e a desigualdade ameaçam o progresso, exigindo cooperação internacional para criar bens públicos globais, como sistemas digitais éticos e políticas climáticas justas.
Ao reconhecermos que somos uma única família humana, podemos construir um futuro onde a paz, a justiça e a prosperidade sejam realidade para todos. Esse futuro exige que cada um de nós – indivíduos, comunidades e nações – assuma a responsabilidade de transcender divisões e valorizar a diversidade.
O mundo está à beira do abismo, mas a unidade humana é a ponte para um horizonte de esperança e transformação.
https://www.brasil247.com/blog/unidade-humana-e-chave-para-sobrevivencia
O apagão de 2025 e os ecos de “Day Zero”: quando a ficção bate à porta
Enquanto a Europa aguarda a restauração da energia, o apagão de 28 de abril deve servir como um divisor de águas


28 de abril de 2025,
a Europa mergulhou no caos com um apagão de energia sem precedentes, que paralisou países como Portugal, Espanha, França e outros. Metrôs evacuados, aeroportos fechados, hospitais em geradores e redes de comunicação à beira do colapso pintaram um cenário de vulnerabilidade coletiva. Enquanto as autoridades investigam as causas – de falhas em linhas de alta tensão a possíveis ciberataques –, a realidade parece ecoar a trama do seriado Day Zero, da Apple TV, protagonizado pelo lendário Robert De Niro, hoje com 81 anos. Estarei dando algum spoiler do seriado? Não. Nesse caso o spoiler é a realidade hoje enfrentada por grande parte dos países europeus. Voltando, a série, uma distopia eletrizante, nos alerta para os perigos de uma sociedade hiperdependente da tecnologia. O que está acontecendo hoje não é apenas um evento técnico; é um chamado para refletirmos sobre nossa fragilidade diante do colapso energético.
Um Continente às Escuras
O apagão que atingiu a Europa começou às 11h30 (hora de Lisboa), com Portugal e Espanha sofrendo os piores impactos. Em Lisboa, o metrô parou, o Aeroporto de Lisboa fechou, e o trânsito virou um caos sem semáforos. Na Espanha, Madrid ativou um plano de emergência, com o Aeroporto de Barajas fora de serviço. Outros países, como França, Alemanha e Itália, enfrentaram interrupções menores, mas o efeito cascata revelou a interconexão – e a vulnerabilidade – da rede elétrica europeia. A E-Redes portuguesa aponta que a falha veio de fora, enquanto especulações sobre ciberataques ganham força, com o Centro Nacional de Cibersegurança e o INCIBE em alerta. A Comissão Europeia e a NATO monitoram, mas respostas concretas ainda são escassas. Este não é apenas um problema técnico; é um teste à resiliência de um continente.
“Day Zero”: A Ficção que Antecipa
Lançada pela Apple TV, Day Zero apresenta um futuro onde um apagão global, desencadeado por um ciberataque, mergulha o mundo na escuridão. Robert De Niro interpreta um ex-engenheiro elétrico que lidera um grupo improvável na luta para restaurar a energia e evitar o colapso social. A trama explora o pânico coletivo, a desinformação e a fragilidade de sistemas interconectados, enquanto os personagens enfrentam dilemas éticos em um mundo sem eletricidade. Sem revelar detalhes cruciais, a série mistura suspense, drama e crítica social, mostrando como a dependência tecnológica pode nos tornar reféns. A atuação de De Niro, com sua intensidade característica, dá peso a um enredo que, hoje, parece menos ficção e mais profecia.
Lições do blecaute
O apagão de 2025 e Day Zero compartilham um alerta comum: nossa confiança cega na infraestrutura tecnológica é uma faca de dois gumes. A Europa, com sua rede elétrica integrada, é um exemplo de eficiência, mas também de risco sistêmico. Um único ponto de falha – seja uma linha de 400 kV ou um ataque cibernético – pode desencadear um dominó devastador. A série nos provoca a imaginar o que acontece quando a eletricidade some: como gerenciamos o caos? Como protegemos os vulneráveis? Hoje, vemos hospitais recorrendo a geradores e cidadãos presos em metrôs, mas o que virá se tais eventos se tornarem mais frequentes? A resposta exige investimentos em cibersegurança, diversificação energética e, acima de tudo, um plano robusto para crises.
Chamado à Ação
Enquanto a Europa aguarda a restauração da energia, o apagão de 28 de abril deve servir como um divisor de águas. Assim como Day Zero nos confronta com a fragilidade humana, este evento real exige que governos, empresas e cidadãos repensem sua relação com a tecnologia. A NATO e a Comissão Europeia já sinalizam cooperação, mas é preciso mais: auditorias regulares na rede elétrica, protocolos contra ciberataques e uma transição energética que equilibre inovação e segurança. Para o cidadão comum, o recado é claro: a resiliência começa em casa, com conscientização e preparação. O apagão de hoje não é o fim, mas um lembrete de que, como na série de De Niro, a luz pode apagar – e cabe a nós garantir que ela volte o quanto antes. Se uma coisa que não precisamos no mundo conturbado que vivemos é de escuridão. Fiat lux.
https://www.brasil247.com/blog/o-apagao-de-2025-e-os-ecos-de-day-zero-quando-a-ficcao-bate-a-porta
A arte de dar tiro no pé: protecionismo extremista arruina o comércio mundial
Barreiras de Trump geram inflação, desemprego e recessão, impactando trabalhadores e nações em crise comercial


22 de abril de 2025
Donald Trump sempre foi um presidente que preferia dinamitar pontes a construí-las, e seu retorno à Casa Branca em 2025 apenas intensificou essa tendência. O que muitos temiam se confirmou: o protecionismo radical, longe de ser apenas retórica de campanha, tornou-se uma política econômica que está empobrecendo o mundo – e, ironicamente, os próprios Estados Unidos.
As medidas que prometiam fortalecer a economia americana estão, na verdade, sabotando-a, desde o trabalhador do Centro-Oeste. A expressão “dar um tiro no pé” nunca foi tão precisa, encapsulando uma situação em que a tentativa de resolver um problema acaba criando um ainda maior. Este artigo, baseado em dados econômicos mensuráveis e declarações verificáveis, expõe os impactos devastadores dessas políticas e suas ramificações globais.
O “xis” do problema reside na crença de Trump de que taxar importações fortalece a indústria nacional. Ele insiste em chamar suas tarifas de “negociações brilhantes”, como se repetir um erro histórico pudesse, por milagre, produzir resultados diferentes. O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou o crescimento global de 3,3% para 2,8% em 2025, refletindo o impacto das barreiras comerciais. Nos EUA, a inflação saltou para 3,5%, acima da meta do Federal Reserve, segundo o Bureau of Labor Statistics (BLS). Consumidores americanos agora pagam 6,7% mais por eletrônicos, enquanto 73% das pequenas empresas relatam aumento de custos, conforme a pesquisa da National Federation of Independent Business (NFIB). Essas tarifas estão sufocando o poder de compra e a competitividade.
O Federal Reserve, guardião da estabilidade econômica, enfrenta um dilema kafkiano. Pressionado por Trump a baixar os juros – ele declarou em 17 de abril de 2025 que “Jerome Powell precisa ser demitido urgentemente” –, o Fed mantém as taxas entre 4,25% e 4,5% para conter a inflação importada, impulsionada pelas políticas do governo. As ações de Trump criam os problemas. O déficit comercial americano, que as tarifas supostamente reduziriam, aumentou 12%, e o setor manufatureiro perdeu 78.000 empregos, minando a narrativa de revitalização industrial. O crescimento econômico dos EUA, projetado em 2,7%, foi revisado para apenas 1,8% em 2025.
As consequências do protecionismo trumpista transcendem as fronteiras americanas, gerando um efeito cascata que abala economias desenvolvidas e emergentes. O Canadá, cujo comércio depende 75% dos EUA, viu seu PIB revisado para apenas 1,2% em 2025. O setor automotivo canadense perdeu 12.000 empregos, e tarifas sobre madeira e alumínio custaram CAD$ 3,2 bilhões, segundo dados oficiais.
Na Europa, o impacto é igualmente severo. A Alemanha está projetada para entrar em recessão técnica no segundo trimestre de 2025, segundo estimativas, enquanto a França registrou um aumento de 18% no déficit comercial. As perdas na União Europeia são estimadas em €120 bilhões até 2026. “É uma guerra comercial onde todos perdem”, teria afirmado Bruno Le Maire, ministro francês, segundo projeções, em uma declaração que resume o sentimento global.
Os mercados emergentes não escapam ilesos. O Brasil, que pouco tem a ver com essa disputa, sofreu com tarifas de 10% sobre aço e suco de laranja, o que levou a uma revisão do crescimento de 2,2% para 2%. Os custos logísticos no país aumentaram 15%, impactando toda a cadeia produtiva.
A China, por sua vez, respondeu com retaliações de 125% sobre produtos agrícolas americanos, enquanto seu crescimento foi revisado para 4%, refletindo a desaceleração no comércio global. É o velho ditado africano em ação: “Quando os elefantes brigam, a grama é que sofre”.
Países do Sul Global, como o Brasil, tornam-se vítimas colaterais de uma guerra comercial que não escolheram.
O que torna esse episódio particularmente trágico é sua natureza premeditada. A história econômica está repleta de exemplos de como o protecionismo gera mais problemas do que soluções. Nos anos 1930, a Lei Smoot-Hawley, que impôs tarifas draconianas, aprofundou a Grande Depressão. Nos anos 1980, medidas para proteger indústrias locais nos EUA apenas as tornaram menos competitivas no longo prazo.
Como observou o economista Paul Krugman, “Trump está cometendo todos os erros do século 19 no século 21”. Apesar disso, ele persiste, ignorando evidências e repetindo estratégias que já falharam.
Essa crise revela uma lição mais profunda: somos livres para tomar decisões, mas não para escolher suas consequências.
Trump pode impor tarifas, assim como cidadãos escolhem seus hábitos de consumo ou representantes políticos. Inevitáveis, implacáveis e previsíveis, elas mostram que o protecionismo trumpista é um caso clássico de miopia política. O que parece uma vitória fácil no curto prazo – aplausos de uma base eleitoral, manchetes agressivas – revela-se um desastre estratégico no médio e longo prazos.
O fato que se impõe rapidamente é que parceiros comerciais buscam alternativas, e a posição geopolítica dos EUA como líder do sistema multilateral se erosiona dia após dia.
O mundo do século 21 é radicalmente diferente daquele em que as ideias protecionistas de Trump foram concebidas. Cadeias produtivas globais, fluxos financeiros integrados e desafios transnacionais – como a crise climática e as lições da pandemia – exigem cooperação, não confronto.
Isso porque a interdependência econômica é uma realidade inegável: nenhuma economia é uma ilha. As tarifas não apenas falham em trazer os benefícios prometidos, mas também impõem custos diretos a consumidores e empresas.
Nos EUA, o aumento de preços e a perda de empregos, enquanto globalmente a confiança no comércio multilateral diminui.
Evitei mergulhar na guerra partidária ideológica, seja nos EUA, seja no mundo. Meu objetivo é refletir sobre como decisões políticas e governamentais impactam diretamente a vida dos povos. Resta saber quanto custará – para os americanos e para o mundo – essa teimosia em ignorar as regras básicas da economia global.
Os dados são claros: o protecionismo de 2025 está desmontando a economia global, e os números não mentem. O FMI, o Banco Mundial, o BLS e os departamentos de comércio dos EUA e da União Europeia confirmam os impactos negativos.
Como cidadão e como consumidor este colunista se sente vítima. Assim como grande parte dos leitores, imagino eu. E quando a poeira baixar, não haverá vencedores nessa guerra comercial – apenas vítimas. E o pé sangrando de quem, por escolha própria, atirou contra si mesmo.
O vácuo das instituições multilaterais e a urgência de um novo pacto global
Com o mundo em guerra e organismos paralisados, a reconstrução do multilateralismo é uma exigência histórica — não uma utopia


20 de abril de 2025
No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, o mundo buscou um novo pacto civilizatório. Da devastação de dois conflitos globais e do genocídio nazista, emergiu a consciência de que era preciso institucionalizar a cooperação internacional. Nasciam a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Mundial do Comércio (OMC) e outras estruturas multilaterais com o objetivo de evitar novos colapsos políticos, econômicos e humanitários. Por décadas, esses organismos foram alicerces da ordem internacional. Hoje, vivem o seu maior momento de fragilidade.
Contradições estruturais
Criada em 1945, a ONU é o maior símbolo do multilateralismo. Com 193 países-membros, sua missão central é a manutenção da paz e da segurança internacionais. Foi protagonista no fim do apartheid na África do Sul, promoveu missões de paz em mais de 70 conflitos e liderou a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No entanto, seu órgão mais poderoso — o Conselho de Segurança — é, em si, uma contradição moral e política.
O Conselho é formado por 15 membros, dos quais cinco são permanentes com poder de veto: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Todos esses países são declaradamente detentores de armas nucleares e, ironicamente, estão entre os maiores fabricantes e exportadores de armamentos do mundo. Como esperar neutralidade ou liderança ética de potências que lucram com o armamento dos conflitos que deveriam ajudar a resolver?
Crise de legitimidade
Outras instituições compartilham dessa crise de legitimidade. A OMS, criada em 1948 com 194 membros, foi essencial no combate à varíola e à poliomielite, mas sua atuação durante a pandemia de Covid-19 expôs tensões entre ciência, soberania nacional e interesses geopolíticos. A OMC, fundada em 1995 com 164 países, foi um motor do comércio internacional, mas hoje está paralisada pela incapacidade de lidar com disputas entre grandes economias e pela ausência de consenso sobre reformas estruturais.
A fragilidade do sistema multilateral atual evoca o fracasso da Liga das Nações, criada em 1919 após a Primeira Guerra Mundial. Sem força coercitiva, sem participação dos EUA e incapaz de conter a ascensão do nazismo, a Liga desmoronou às vésperas da Segunda Guerra. A ONU, embora mais robusta, enfrenta dilemas semelhantes: impotência diante de guerras prolongadas, paralisia decisória e crescente desconfiança de seus próprios membros.
O colapso como escolha
O enfraquecimento da ONU tem raízes em fatores diversos. Primeiro, a crescente polarização global, com o retorno da competição entre grandes potências. Segundo, o uso recorrente do veto no Conselho de Segurança, que bloqueia ações eficazes diante de crises como a guerra na Síria ou a guerra na Ucrânia. Terceiro, a dependência orçamentária de poucos países, o que torna a organização vulnerável a chantagens políticas.
Algumas declarações históricas de secretários-gerais da ONU ajudam a entender a gravidade do momento. Dag Hammarskjöld (1953–1961) advertiu: “A ONU não foi criada para levar a humanidade ao paraíso, mas para salvá-la do inferno.” Boutros Boutros-Ghali (1992–1996) afirmou que “sem reformas estruturais profundas, a ONU caminhará para a irrelevância.” E Kofi Annan (1997–2006), laureado com o Nobel da Paz, declarou: “Se a ONU falhar, será porque seus Estados-membros falharam.”
Em 2025, o mundo contabiliza mais de 50 conflitos armados ativos, segundo dados do Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Cerca de 20 são classificados como guerras — com pelo menos mil mortes anuais — em países como Iêmen, Sudão, Mianmar, Etiópia, Congo, Israel, Rússia e Ucrânia. A maioria deles ocorre à margem da ação efetiva das instituições internacionais.
Utopia ou necessidade?
Será utopia lutar energicamente pela paz mundial? Utopia, aqui, não deve ser confundida com ingenuidade. Trata-se da recusa em aceitar o colapso como destino inevitável. Em momentos críticos da história, a humanidade se viu diante do abismo e optou por resistir.
Durante a Idade Média, a peste negra dizimou milhões na Europa. Muitos acreditaram que ali estava o fim da civilização. Aqueles que ousaram imaginar a superação da pandemia foram chamados de “utópicos” — mas saíram vitoriosos. No século XX, a reconstrução europeia pós-guerra foi considerada improvável — e resultou na criação do Estado de bem-estar social. Ainda mais recentemente, o fim do apartheid na África do Sul parecia inatingível — até que se tornou realidade. A história mostra que é justamente no limiar da barbárie que as utopias se revelam mais necessárias.
A paz mundial, tão desejada por sábios, líderes religiosos, poetas e idealistas ao longo da história, enfrenta uma contradição paralisante: em meio a esse nosso mundo conturbado dos dias atuais observamos também que pela primeira vez, a humanidade tem meios concretos de enxergar o planeta como um só corpo e seus povos como partes de um único sistema interdependente. A paz global deixou de ser apenas um anseio nobre: tornou-se uma etapa natural da evolução social. Alguns já chamam essa nova consciência coletiva de “planetização”.
Mais que decidir, é hora de agir
Nada simboliza mais o risco global atual do que a guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia. Um dos envolvidos é membro permanente do Conselho de Segurança e potência nuclear. O fato de essa guerra ter sido iniciada sem qualquer possibilidade de contenção ou mediação eficaz da ONU revela a obsolescência da atual arquitetura internacional.
O sistema multilateral precisa de um renascimento urgente. Não se trata de utopia, mas de sobrevivência. A ONU precisa de reformas profundas: ampliação do Conselho de Segurança, fim do poder de veto absoluto, fortalecimento das agências humanitárias e mais autonomia orçamentária. A OMC deve se adaptar à nova ordem digital e às cadeias de suprimento geopolíticas. A OMS deve ganhar blindagem política para agir com independência científica em futuras pandemias.
A paz mundial, hoje, repousa sobre uma rede de instituições fracas, politizadas e desacreditadas. O risco é claro: se o mundo não renovar sua confiança no multilateralismo, retornará à lógica das potências — onde a força bruta vale mais que o diálogo. Já vimos esse filme antes. E o desfecho foi trágico.
A teoria do valentão
No âmbito internacional, os Estados Unidos, particularmente sob o governo de Donald Trump, incorporaram esse papel de valentão global


12 de abril de 2025
intimidação para dominar os mais frágeis, explorando suas vantagens físicas e psicológicas para consolidar poder. Esse comportamento, embora geralmente associado à infância, transcende os limites do pátio escolar e ecoa em dinâmicas políticas e econômicas globais. A Teoria do Valentão, que tento formular neste artigo, explica como a intimidação e o abuso de poder se perpetuam de forma insidiosa, tanto em relações interpessoais quanto no cenário internacional.
Minha experiência com o bullying
Esse tema encontra eco em minha experiência pessoal. Nos anos de adolescência, no Colégio Nossa Senhora das Vitórias, em Açu, enfrentei os desafios que muitos fragilizados enfrentam. Magro e franzino, frequentemente era o alvo nos jogos de voleibol. Os saques mais fortes e as pancadas mais agressivas vinham diretamente a mim, vindos de um colega substancialmente maior, cujas dimensões físicas triplicavam as minhas e cuja altura me superava em cerca de 20 centímetros.
Diante disso, tive de escolher: enfrentar ou abandonar. Escolhi permanecer, resistindo às humilhações e me colocando como contraponto à dinâmica do valentão. Essa vivência revelou muito sobre como o poder é exercido e como a resistência silenciosa pode moldar dignidade.
Psique do valentão: um olhar psicanalítico
Sigmund Freud definiu que o valentão opera sob o domínio do id, a parte impulsiva e primitiva da mente, buscando satisfação imediata. Além disso, a incapacidade de equilíbrio entre o ego (a racionalidade) e o superego (as normas sociais) transforma essas inclinações em comportamentos destrutivos.
Lacan complementa afirmando que o valentão projeta suas inseguranças no outro, utilizando a violência como reflexo de suas deficiências internas. Já Carl Jung conecta o comportamento do agressor à "sombra", o arquétipo que armazena os aspectos rejeitados da psique. O medo de encarar suas próprias vulnerabilidades faz com que o valentão intensifique suas ações opressoras como um mecanismo de fuga emocional.
Um valentão no jogo de poder global
No âmbito internacional, os Estados Unidos, particularmente sob o governo de Donald Trump, incorporaram esse papel de valentão global. Por meio de políticas protecionistas, tarifas exorbitantes e sanções econômicas, o governo americano impôs sua vontade sobre outros países, muitas vezes desconsiderando os impactos globais. A guerra comercial com a China é um exemplo claro dessa dinâmica.
Em 2018, Trump iniciou com tarifas de 25% sobre produtos chineses. Essa percentagem evoluiu ao longo dos anos, alcançando 145% em 2025, uma das taxas mais agressivas na história recente. A resposta da China veio rapidamente: Pequim aumentou suas tarifas sobre produtos americanos para 125%, além de impor restrições a produtos estratégicos como sorgo, baterias de lítio e carne de frango. Xi Jinping, presidente chinês, condenou essa postura como "bullying comercial" e afirmou que a China possui ferramentas prontas para resistir até o fim.
Essa batalha tarifária ocorre entre dois colossos econômicos e militares. Os Estados Unidos, com um PIB superior a US$ 27 trilhões e o maior orçamento militar do mundo, de US$ 900 bilhões, enfrentam uma China economicamente menor, com PIB de US$ 18,4 trilhões, mas altamente resiliente e equipada com o segundo maior exército do mundo e crescente sofisticação tecnológica.
Mexer com pequenos e oposição com iguais
Enquanto os EUA impõem severidade diante do Vietnã — com sua economia de apenas US$ 470 bilhões e uma renda per capita de US$ 4 mil —, as dinâmicas contra a China são mais equilibradas. Pequenas economias, como o Vietnã, têm pouca margem para retaliar contra uma potência econômica como os EUA. Já a China demonstra sua capacidade de resistir ao bullying comercial, abrindo novos mercados e fortalecendo iniciativas internas.
Outros países também sofrem. O México, com um PIB de US$ 1,3 trilhão e cujo comércio com os EUA compõe cerca de 75% de suas exportações, foi severamente afetado por tarifas impostas sobre commodities como aço. O Canadá, por sua vez, com um PIB de US$ 2,5 trilhões, viu sua relação comercial histórica com os EUA estremecer após medidas unilaterais que buscavam restringir sua venda de matérias-primas centrais como alumínio.
Groenlândia, Panamá e… a Europa
A ambição imperialista, disfarçada de estratégia comercial, ficou evidente em ações como a tentativa de Trump de adquirir a Groenlândia, rica em minerais e com relevância geopolítica crescente no Ártico. Já o interesse pelo controle estratégico do Canal do Panamá ilustra outra faceta do bullying americano, onde as infraestruturas globais são vistas como extensões de sua influência unilateral.
A União Europeia também foi alvo das políticas agressivas de Trump. Como principal parceiro histórico dos EUA, a Europa viu tarifas prejudiciais serem implementadas, colocando em risco setores estratégicos como a indústria automotiva alemã. Líderes europeus, como Ursula von der Leyen, criticaram veementemente a postura protecionista, reforçando que o unilateralismo americano estava minando as estruturas de governança global. Bruxelas, em alinhamento com Pequim, começou a reorganizar políticas comerciais para resistir às ações americanas, amparada por seu PIB conjunto de cerca de US$ 16 trilhões.
Bullying comercial e riscos globais
A recorrência do termo bullying nas críticas globais reflete o simbolismo das práticas americanas. Xi Jinping reafirmou recentemente que "ameaças nunca funcionarão com a China". O bullying comercial, afirmou ele, prejudica não apenas seus alvos diretos, mas também desestabiliza cadeias globais de suprimento, em um momento crítico de recuperação econômica pós-pandemia.
Assim como as forças físicas dependem do equilíbrio e da resistência, as economias globais respondem ao poder opressor criando contraforças. Países frequentemente alvos de bullying comercial, como o México e a China, diversificam suas parcerias comerciais e fortalecem suas lideranças internas. A dependência mútua é evidente, destacando que a força unilateral não é sustentável no mundo atual.
O verdadeiro significado do poder
Minha vivência no Colégio Nossa Senhora das Vitórias reflete, em microescala, a lógica do valentão: há uma força destrutiva na imposição de poder, mas sua vitória é temporária diante da determinação e resiliência. Esta incipiente Teoria do Valentão exemplifica as consequências de práticas agressivas, como as tarifas e sanções dos EUA, cujos impactos reverberam globalmente.
Só por meio do diálogo, da consulta e da cooperação será possível criar um sistema onde a justiça prevaleça sobre o domínio — isto porque tudo o que aflige a parte, aflige o todo.
O futuro global exige que abandonemos práticas que reforçam desigualdades e insegurança. Ao contrário da força bruta, líderes que constroem pontes e promovem o diálogo serão essenciais para o desenvolvimento de um equilíbrio estável em um mundo interdependente. Não custa nada visitar os livros de história para vermos que os valentões entram neles pelas portas dos fundos, quase sempre mencionados em notas de rodapé — enquanto os líderes servidores e solidários emergem no palco da história.
Inverno nuclear econômico bate às portas — Disputa pela hegemonia é caminho para colapso sistêmico
Nações poderosas competem por supremacia econômica, frequentemente em detrimento da estabilidade mundial


7 de abril de 2025
A guerra comercial entre Estados Unidos e China, tendo o mundo como pano de fundo!, iniciada pelas tarifas impostas por Donald Trump e intensificada pela resposta de Pequim, transcende uma mera disputa econômica. O confronto, que ganhou um novo e dramático capítulo em 7 de abril de 2025, revela um tabuleiro geopolítico em rápida transformação, onde cada ação eleva os riscos globais a níveis críticos. Trump qualificou a reação chinesa como sinal de “pânico”, mas suas palavras ecoam como um blefe audacioso em meio ao caos que sacode os mercados nesta segunda-feira. Longe de uma simples contenda, essa escalada ameaça desestabilizar a ordem internacional, com consequências imprevisíveis para ambos os lados e para o equilíbrio global.
A Resposta Firme de Pequim
A China retaliou com tarifas de 34% sobre produtos americanos, uma medida confirmada hoje, 7 de abril, em resposta à decisão de Trump de impor uma tarifa universal de 10% sobre todas as importações dos EUA. A vigorar a partir de 10 de abril, essa retaliação chinesa intensificou a tempestade nos mercados globais, que já registravam quedas expressivas. Para o professor Leonardo Trevisan, especialista em Relações Internacionais, o verdadeiro pânico não está em Pequim, mas nos mercados asiáticos e ocidentais, abalados pela incerteza. Em Hong Kong, o índice local despencou 13,22%, o pior desempenho desde a crise de 1997, enquanto os principais índices americanos — Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq — abriram o dia com perdas superiores a 3%. Enquanto Trump acusa a China de desespero, são os efeitos de sua política que geram apreensão. A volatilidade financeira global, agravada por esse novo round de tarifas, reflete o temor de um colapso sistêmico, evidenciando que o jogo de Washington pode estar saindo do controle.
Quem cederá primeiro nessa disputa de titãs? Nos EUA, o agronegócio, pilar do apoio político de Trump, sofre com a retaliação chinesa. A soja americana perde terreno para concorrentes como o Brasil, que agora suprem um mercado chinês mais aberto a alternativas em meio à escalada comercial. Em contrapartida, Pequim detém o controle quase monopolista das terras raras, essenciais à tecnologia moderna. Esse trunfo, somado à possibilidade de restrições adicionais às exportações desses materiais, dá à China uma vantagem estratégica, fortalecendo sua posição e desafiando a aposta arriscada de Trump no confronto comercial. Alheio ao derretimento das bolsas de valores tanto asiáticas, europeias e norte-americanas, o presidente norte-americano dobrou a aposta “se a China não retirar sua tarifa de 34 por cento para os produtos importados dos Estados Unidos, essa tarifa serão elevadas para 50 por cento do que eles queiram vender aqui”. Este é o estado das coisas.
Um Mundo em Reconfiguração
As políticas imprevisíveis de Trump estão redesenhando as relações globais, e os efeitos reverberaram com força nesta segunda-feira. A União Europeia e o Mercosul negociam uma aproximação para conter os danos das tarifas americanas, enquanto Japão, Coreia do Sul e China avançam em um acordo de livre comércio. Essa aliança asiática sinaliza uma mudança profunda na geopolítica regional, com impactos que ecoam mundialmente. No Brasil, o Ibovespa abriu o pregão em queda de 1,73%, pressionado pela aversão ao risco global. Ações de empresas como Vale e Petrobras recuaram 2% e 1,5%, respectivamente, acompanhando a baixa de 3,36% do minério de ferro na Bolsa de Dalian e o tombo do petróleo. O dólar disparou a R$ 5,90, refletindo a fuga de capitais para ativos seguros. Paradoxalmente, as ações de Washington parecem acelerar a reorganização de blocos econômicos, minando sua própria influência. Em outro momento falaremos sobre o sobe e desce nas bolsas de valores. Para um profundo estudioso do assunto, com o qual este articulista concorda “volatilidade nos mercados de ações mundo afora é conjuntural e não estrutural.”
Samuel Huntington e seu “choque de civilizações” voltam à tona nesse cenário. As políticas protecionistas de Trump aproximam nações do Extremo Oriente, sugerindo uma transição acelerada do poder global do Ocidente para o Oriente. O século XXI, previsto como a “era asiática” para 2040 ou 2050, pode estar se consolidando antes do esperado. A estratégia americana, ao invés de frear a China, parece catalisar essa mudança, reconfigurando o equilíbrio de forças em escala planetária.
A Sombra de uma Guerra
Uma questão inquietante emerge: estaria a perda de influência dos EUA, agravada por decisões controversas como as tarifas anunciadas por Trump, levando a um conflito armado? A disputa pela hegemonia, visível na competição tecnológica e na expansão econômica chinesa, alimenta temores de uma escalada bélica. Embora a China não busque, por ora, liderar unilateralmente a Ásia, as ações americanas podem estar pavimentando esse caminho. O risco de um confronto de proporções alarmantes paira como uma sombra no horizonte, intensificado pela instabilidade financeira desencadeada em 7 de abril.
A rivalidade ultrapassa as tarifas e invade o campo tecnológico. A China lidera em setores como o 5G, implementado primeiro em Pequim, e forma 440 mil engenheiros anualmente, contra 150 mil nos EUA e 35 mil no Brasil. A oferta de Trump para negociar o TikTok como moeda de troca tarifária é vista como sinal de fraqueza, especialmente após os rumores — desmentidos pela Casa Branca — de uma possível suspensão de 90 dias nas tarifas. O caso DeepSeek destaca o potencial inovador chinês, desafiando a supremacia americana e expondo as limitações da estratégia de Washington.
Fragilidades Internas nos EUA
Internamente, os EUA enfrentam divisões crescentes. O Senado votou 51 a 48 contra a pressão de Trump sobre o Canadá, revelando rachas na política comercial, enquanto a margem estreita na Câmara (218 republicanos contra 213 democratas) dificulta a coesão. O Federal Reserve de Atlanta alerta para a queda na confiança do consumidor, que voltou a níveis de 12 anos atrás, um cenário agravado pelo derretimento das Bolsas nesta segunda-feira. A aposta de Trump, baseada em promessas de prosperidade, pode se voltar contra ele. A retórica de enriquecimento para investidores choca com a realidade de preços em alta e poder de compra em declínio, agora sob pressão adicional com o dólar fortalecido e a fuga de capitais.
A influência chinesa se expande globalmente. Dos 191 países da ONU, 156 têm comércio mais intenso com a China, que absorve 35% das exportações brasileiras e controla 44% das terras raras. A UE busca no Mercosul uma saída para sua indústria automobilística, enquanto aliados como Coreia do Sul e Japão negociam com Pequim. A frase de Tucídides sobre o embate entre potências ressoa: a disputa é sobre “quem manda no mundo”, e o tabuleiro está em plena transformação, com os eventos de 7 de abril reforçando essa percepção.
A Ascensão Inexorável da China
A animosidade americana contra a China, presente nas gestões de Trump e Biden, tem raízes na ascensão econômica chinesa. Com presença crescente em todos os continentes, Pequim desafia a supremacia dos EUA. A guerra tarifária, intensificada pelas medidas anunciadas nesta segunda-feira, é apenas a superfície de uma rivalidade mais profunda, que inclui tecnologia e projeção global. A China compra 164 bilhões de dólares em soja americana anualmente, mas sua oferta de terras raras e a retaliação de 34% sobre produtos americanos, confirmada hoje, dão a ela um poder estratégico incomparável.
A reação doméstica nos EUA reflete o custo dessa política. A votação no Senado contra a pressão sobre o Canadá mostra uma nação dividida. O Fed de Atlanta aponta para uma recessão iminente, com a confiança do consumidor em queda livre, um cenário que ganhou contornos mais sombrios com as perdas nas Bolsas globais. A promessa de Trump de “ficar mais rico do que nunca” soa vazia frente ao aumento de preços em produtos como roupas e carros, agora exacerbado pela instabilidade financeira desencadeada pelas novas tarifas.
A aproximação entre Mercosul e UE, a reconfiguração do bloco Brics e a penetração econômica chinesa em setores estratégicos sinalizam um declínio relativo do poder americano. Economistas como Lawrence Summers alertam para essa tendência com urgência. A Alemanha vê no Brasil o maior mercado para carros elétricos chineses fora da China, enquanto a Volkswagen simboliza a luta da indústria europeia. A China, com aliados como o Afeganistão, domina o mercado de terras raras, ampliando sua influência global.
O Teste Decisivo de Trump
A retórica de Trump, que pede aos eleitores para “porem a mão no bolso” e avaliarem sua gestão, enfrenta um teste duro. A queda do poder de compra, como apontado pelo Fed, pode frear suas ambições, especialmente com o impacto imediato das tarifas nas Bolsas em 7 de abril. A votação contra o Canadá no Senado e a estreita margem na Câmara expõem a fragilidade política. A disputa comercial, somada à recessão iminente, ameaça a reeleição de Trump, ancorada em promessas de recuperação econômica.
O texto de Tucídides ganha nova relevância: a guerra entre uma potência estabelecida e uma emergente parece cada vez mais plausível. A China, com comércio dominante em 156 países, desafia a hegemonia americana. O Brasil exporta 35% para a China, contra 16,11% para os EUA, enquanto as importações seguem padrão similar. A soja americana, vital para o agronegócio, sofre com a concorrência, enquanto a China consolida seu poder econômico global, com os eventos desta segunda-feira reforçando essa tendência.
A competição tecnológica é outro campo de batalha. O 5G chinês, pioneiro em Pequim, supera os EUA, que formam menos engenheiros (150 mil) que a China (440 mil). O caso TikTok, usado como barganha por Trump, reflete desespero ante o avanço chinês. O DeepSeek é mais um exemplo do potencial tecnológico de Pequim, que ameaça a liderança americana em inovação e influencia o equilíbrio de poder global.
A guerra comercial de Trump, uma aposta de alto risco, pode ter consequências devastadoras. A estabilidade global, já fragilizada, enfrenta um teste crucial com a escalada confirmada em 7 de abril. A perda de influência dos EUA, acelerada por decisões questionáveis, alimenta o debate sobre um futuro conflito. A disputa pela hegemonia, como dizem, é sobre “quem manda no mundo”, e a China avança com passos firmes, enquanto os EUA lutam para manter sua posição.
Ao concluir este artigo em que apresento dados da realpolitik e também estatísticas alarmantes que obscurecem o futuro, faço aqui um contraponto que não é meramente otimista ou utópico:
A intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e China, evidenciada por tarifas unilaterais e retaliações mútuas, reacendida com força em 7 de abril de 2025, reflete um cenário global onde nações poderosas competem por supremacia econômica, frequentemente em detrimento da estabilidade mundial. Essa dinâmica assemelha-se a uma floresta onde árvores gigantes disputam incessantemente a luz do sol, lançando sombras que sufocam o crescimento das plantas menores e comprometem a biodiversidade essencial ao equilíbrio do ecossistema.
Para evitar que essa competição desenfreada leve a um colapso sistêmico, é imperativo que as potências econômicas adotem uma abordagem de cooperação mútua, reconhecendo que a verdadeira prosperidade surge quando todas as nações, grandes e pequenas, têm a oportunidade de florescer juntas. Somente através da colaboração e do respeito mútuo será possível construir um ambiente internacional de relativo bem-estar, sem esse clima de montanha-russa que nunca acaba e onde a diversidade econômica e cultural contribua para um futuro mais justo. Apertemos os cintos: Antes de a primavera chegar passaremos por um rigoroso e longo inverno de incertezas e imprevisibilidade.
Rachaduras no Velho Mundo, vozes do Sul: nova ordem econômica surgirá no caos global?
Trump promete 'grandeza', mas entrega caos
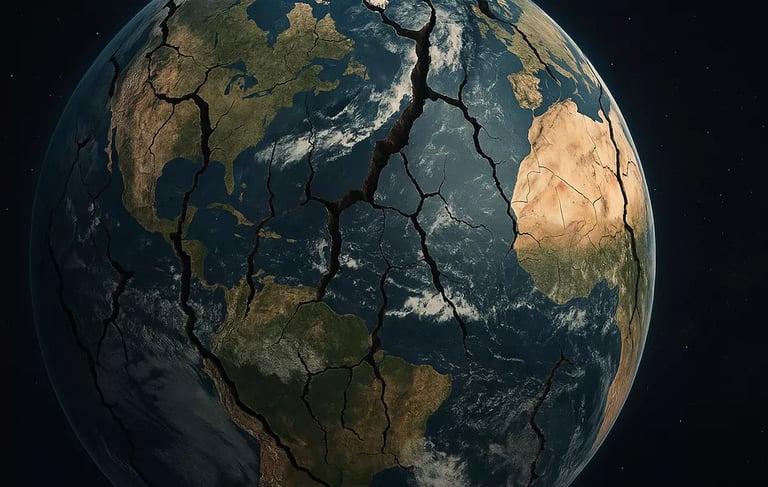

05 de abril de 2025
Em 2 de abril de 2025, Donald Trump anunciou tarifas de 10% a 47% sobre importações de 37 países, com alíquotas específicas: 34% para a China, 46% para o Vietnã, 24% para o Japão e 20% para a União Europeia. A medida, justificada como "restauração da grandeza industrial americana", entrou em vigor em 3 de abril.
Horas depois, a China retaliou com 34% sobre US$ 144 bilhões em produtos dos EUA, incluindo aviões Boeing e soja. "É uma resposta proporcional ao bullying econômico", declarou Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, em entrevista coletiva.
O impacto foi imediato.
O S&P 500 caiu 4,8% em um dia, apagando US$ 2,4 trilhões em valor de mercado — o pior desempenho desde março de 2020. O Nasdaq, índice de tecnologia, despencou 5,2%, com a Apple perdendo US$ 280 bilhões em valorização após alertas sobre o aumento do preço do iPhone para US$ 1.450.
"Estamos diante de uma tempestade perfeita: custos disparam, e os consumidores pagarão a conta", resumiu Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase, em comunicado aos acionistas. Depois o próprio Dimon escreveria em suas redes sociais que “existem 65% de chances de os Estados Unidos entrarem em recessão longa”.
Retaliações em cadeia: do Vietnã à Europa - A escalada não se limitou à China. O Vietnã, taxado em 46% — a alíquota mais alta —, viu sua moeda, o dong, desvalorizar 3% em 24 horas. "Essa é uma punição injusta a uma economia que emprega 2 milhões na indústria têxtil", protestou Pham Minh Chinh, primeiro-ministro vietnamita, em discurso transmitido nacionalmente.
Na Europa, a UE reagiu com planos de impor 20% sobre US$ 200 bilhões em importações dos EUA, incluindo whisky bourbon e motores Harley-Davidson. "É um ataque à ordem multilateral que construímos desde 1945", criticou Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, durante sessão no Parlamento Europeu.
O Japão, por sua vez, ameaçou restringir exportações de semicondutores essenciais para a indústria de defesa americana. "Não seremos espectadores passivos", afirmou Fumio Kishida, primeiro-ministro japonês, em conferência em Tóquio.
BRICS: protagonismo em tempos de mudança - Enquanto o Ocidente se fragmenta, os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) capitalizam o vácuo. A China, por exemplo, já redirecionou US$ 500 bilhões em exportações para o Sudeste Asiático, segundo o China Customs Statistics.
Já a Índia atraiu US$ 30 bilhões em investimentos de empresas como a Tesla, que transferiu parte da produção de baterias para Hyderabad. "O protecionismo americano é nossa oportunidade", declarou Nirmala Sitharaman, ministra das Finanças indiana, em fórum empresarial.
O Brasil, sob presidência do bloco em 2025, projeta ganhar US$ 80 bilhões com exportações de soja e carne bovina para a China, substituindo fornecedores americanos. "Estamos reescrevendo as regras do comércio global", disse Fernando Haddad, ministro da Fazenda, durante a Cúpula dos BRICS em Brasília.
A Rússia, por sua vez, ampliou vendas de petróleo para a China em US$ 250 bilhões, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA).
O preço humano: quando números têm rosto - As tarifas não são apenas estatísticas. Nos EUA, 8 milhões de empregos estão em risco, segundo o Economic Policy Institute. No Texas, a família Johnson, dona de uma pequena fazenda de soja, viu seu lucro anual evaporar. "Vendemos 60% da colheita para a China. Agora, o grão apodrece nos silos", desabafou Mary Johnson, em entrevista ao Washington Post.
No Vietnã, 1,2 milhão de trabalhadores têxteis enfrentam demissões em massa. Nguyen Thi Anh, costureira em Hanói, contou à AFP: "trabalho 14 horas por dia há uma década. Agora, nem isso me salvará".
Na África Subsaariana, o preço do trigo subiu 30%, ameaçando 50 milhões de pessoas com insegurança alimentar, segundo o Programa Mundial de Alimentos (PMA).
O fantasma de 1930 volta a assombrar - As tarifas de Trump ecoam o Smoot-Hawley Act de 1930, que ampliou a Grande Depressão ao reduzir o comércio global em 66%.
Hoje, o Peterson Institute estima perdas de US$ 1,2 trilhão no comércio até 2025, e a OMC prevê queda de 2,5% no volume de mercadorias. "Estamos repetindo os erros que juramos evitar", lamentou Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da OMC, em discurso em Genebra.
Até líderes republicanos expressam preocupação. Mitt Romney, senador por Utah, declarou ao Fox News: "Tarifas são um imposto sobre os pobres. Trump está sacrificando o futuro por um slogan".
Nos EUA, a inflação já pressiona preços de carros usados (+22%) e aluguel (+15%), segundo o Bureau of Labor Statistics.
A encruzilhada da humanidade - Trump promete 'grandeza', mas entrega caos. Enquanto o Nasdaq despenca e CEOs alertam para recessão, famílias no Iowa enterram safras não vendidas, mães no Vietnã vendem sangue para comprar arroz, e crianças no Níger morrem de fome em silêncio.
Os BRICS oferecem uma alternativa, mas não são santos. Se o bloco ignorar os excluídos — os 3 bilhões sem saneamento, os 828 milhões com fome —, será apenas mais um capítulo na saga da insensatez com altas doses de ganância.
A pergunta não é se venceremos esta guerra, mas se haverá humanidade suficiente para reconstruir depois dela. Como escreveu o poeta brasileiro Thiago de Mello: 'os estatísticos dirão que tudo está perdido. Mas os loucos saberão que tudo está por fazer'. Saberão mesmo?
A conferir nas próximas semanas.
O ovo da serpente em gestação o perigo que ignoramos
Essas sombras têm nome: extrema direita


03 de abril de 2025
Imagine um país afundado em desespero. A Alemanha das décadas de 1920 e 1930 era um caldeirão de humilhação e revolta, um terreno fértil onde o ovo do nazismo começou a eclodir. Após a derrota na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o país enfrentou as duras condições impostas pelo Tratado de Versalhes, assinado em 1919. Esse acordo forçou a Alemanha a ceder territórios, pagar indenizações colossais e limitar drasticamente seu poder militar, restringindo o exército a 100 mil homens e proibindo a produção de armamentos pesados.
A economia ruiu como um castelo de cartas. A hiperinflação atingiu níveis absurdos – em 1923, um pão podia custar bilhões de marcos – enquanto o desemprego devastava famílias. Socialmente, a República de Weimar, estabelecida em 1919, lutava para manter a estabilidade em meio a uma polarização crescente entre comunistas e nacionalistas.
Foi nesse caos que Adolf Hitler e o Partido Nacional-Socialista (Nazista) encontraram espaço para crescer. Prometendo restaurar o orgulho alemão e apontando judeus e outros “inimigos internos” como culpados, eles canalizaram a miséria em nacionalismo exacerbado. Em 1933, esse veneno tomou o poder e arrastou o mundo para uma nova guerra.
Bergman e o Grito Silencioso de uma Era
Agora, visualize Berlim em 1920 através de uma lente sombria. Nesse contexto histórico, o filme O Ovo da Serpente (1977), dirigido por Ingmar Bergman, surge como uma obra visionária. O longa acompanha Abel Rosenberg, um trapezista judeu-americano desempregado interpretado por David Carradine, perdido em um ambiente de decadência e experimentos científicos macabros, enquanto o nazismo se forma nas sombras.
Produzido por uma parceria sueco-americana e filmado em inglês, o filme estreou mundialmente em 28 de outubro de 1977. Seu impacto foi imediato, expondo com crueza os sinais de uma ideologia destrutiva. Críticos do The New York Times elogiaram a atmosfera sufocante, mas o público ficou dividido – entre o desconforto com a temática densa e a admiração pela ousadia de Bergman.
David Carradine brilha com uma melancolia contida, refletindo o desamparo da época. O Ovo da Serpente vai além: é um alerta sobre como serpentes nascem de ovos discretos, quase invisíveis, até que o perigo se torne inevitável.
A Gigante Europeia e Suas Fissuras
Pule para 2025, e a Alemanha é outra história – ou quase. Consolidada como a maior economia da Europa, o país ostenta um PIB de cerca de 4,5 trilhões de euros em 2024, segundo o Fundo Monetário Internacional. Indústrias como Volkswagen, BMW, BASF e máquinas sustentam essa liderança, apoiadas em inovação, exportações robustas (50% do PIB) e uma infraestrutura impecável.
Mas nem tudo brilha. A dependência do gás russo, abalada pela guerra na Ucrânia, e a transição cara para energias renováveis revelam rachaduras. Cinco eventos moldaram essa Alemanha moderna: a rendição de 1945, a divisão na Guerra Fria, a reunificação de 1990, Merkel em 2005 e a crise migratória de 2015. Um farol democrático, sim, mas com sombras do passado se mexendo.
Musk e o Fogo da Extrema Direita
Essas sombras têm nome: extrema direita. O ressurgimento do Alternativa para a Alemanha (AfD) entre 2024 e 2025 é prova disso. Nas eleições de fevereiro de 2025, o partido alcançou 20% dos votos no Bundestag, ficando atrás apenas da CDU/CSU. Nascido em 2013 contra políticas econômicas europeias, o AfD abraçou o anti-imigracionismo, o euroceticismo e até a Rússia.
Quem jogou lenha na fogueira? Elon Musk. Hoje co-chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos EUA sob Trump, ele declarou em um comício da AfD em janeiro de 2025: “Os alemães devem deixar de lado a culpa pelo passado e ter orgulho de sua identidade.” Outra frase sua, “O futuro da civilização pode depender desta escolha,” ecoou forte. Um gesto polêmico na posse de Trump, visto como saudação nazista, incendiou o debate. Musk atiça um fogo que parecia extinto.
O Dilema Alemão
No tabuleiro global, a guerra Rússia-Ucrânia, iniciada em 2022, pressiona a Alemanha. Sob Friedrich Merz (CDU) desde março de 2025, o governo apoia Ucrânia e OTAN com cautela. Sem armas nucleares, o país elevou gastos com defesa a 2% do PIB, uma guinada histórica. A interrupção do gás russo via Nord Stream força a busca por alternativas caras, como o GNL americano.
A apenas 1.200 km de Moscou, a tensão é palpável. A AfD defende reaproximar-se de Putin e abandonar Kiev, atraindo eleitores frustrados com a crise energética. A Alemanha dança no centro de um jogo perigoso.
Ecos do Passado ou um Novo Monstro?
O paralelo é arrepiante. Nos anos 1920, crise e ressentimento pariram o nazismo; em 2025, estagnação, imigração e polarização nutrem a extrema direita. Bergman já sabia: o extremismo cresce em silêncio, nas fissuras sociais. Greves, protestos e figuras como Alice Weidel, da AfD, lembram os passos de Hitler.
Musk adiciona tempero ao caldo. Com o X e sua influência nos EUA, ele amplifica ideias outrora marginais. Seu gesto de janeiro de 2025, debatido como saudação nazista, foi festejado por neonazistas. Projeções de “Heil Tesla” na Giga Berlin mostram o passado assombrando o presente.
Crises geram monstros – ontem, o nazismo; hoje, um novo autoritarismo? A AfD fala em “reemigração” e saída da UE, ecos de exclusão. A democracia alemã é mais forte que Weimar, mas a história grita: complacência mata. Estamos na corda bamba.
E a paz? Ela é possível – e inevitável – se quisermos sobreviver. Desde 1945, é o primeiro conflito com potências nucleares em jogo: Rússia e, indiretamente, OTAN. Cada pensamento de guerra exige um de paz mais forte. Cada avanço autoritário pede instituições multilaterais robustas para salvar a civilização. Estamos a uma chance da paz – e a Alemanha, do ovo da serpente ao agora, nos implora para agarrá-la.
https://www.brasil247.com/blog/o-ovo-da-serpente-em-gestacao-o-perigo-que-ignoramos
EUA em Declínio -- A Roma do Século XXI?
Os Estados Unidos se encontram em uma encruzilhada crítica


Os Estados Unidos, outrora o farol da democracia e a superpotência incontestável do século XX, encontram-se em uma encruzilhada crítica. A discussão sobre o declínio americano, antes relegada a círculos acadêmicos e críticos marginais, ganhou força no debate público, impulsionada por análises contundentes como as do economista Richard Wolff e pelas turbulências políticas e sociais que marcaram o início do século XXI.
A ascensão de Donald Trump à presidência, longe de deter esse processo, como prometido em sua retórica nacionalista, expôs e acelerou as fissuras e contradições que corroem a estrutura do império americano. A analogia com o declínio e queda do Império Romano, popularizada por Edward Gibbon em sua obra monumental, ressurge com força, oferecendo um espelho sombrio para a trajetória dos Estados Unidos no século XXI.
Este ensaio busca aprofundar a análise dessa encruzilhada, ampliando os aspectos comparativos entre o declínio romano e o americano, explorando a demolição da "cerca de Chesterton" na era Trump, e incorporando insights de pensadores contemporâneos como Noam Chomsky e Slavoj Žižek.
A Sombra de Roma: Paralelos entre Declínio Imperial
Edward Gibbon, em "Declínio e Queda do Império Romano", descreveu um processo multifacetado e gradual, marcado por uma série de fatores interconectados que minaram a força e a estabilidade de Roma. Ao traçar paralelos entre a trajetória romana e a americana, é possível identificar semelhanças alarmantes:
» Corrupção e Degradação das Instituições: Gibbon destacou a corrupção generalizada nas instituições romanas, desde o Senado até o exército, como um fator crucial para o declínio. Nos Estados Unidos, a influência do dinheiro na política, o lobby desenfreado, a polarização partidária e a erosão da confiança nas instituições democráticas refletem uma crise de governança e legitimidade. A nomeação de juízes para a Suprema Corte com base em critérios ideológicos, a politização do Departamento de Justiça e os ataques à imprensa livre são exemplos da corrosão das normas e instituições que sustentam a democracia americana.
» Apatia Popular e Perda de Valores Cívicos: Gibbon observou uma crescente apatia entre os cidadãos romanos, que se tornaram mais preocupados com o luxo e o entretenimento do que com o bem-estar da República. Nos Estados Unidos, o consumismo desenfreado, a cultura do espetáculo, a polarização ideológica e a despolitização de amplos setores da população contribuem para uma erosão dos valores cívicos e um enfraquecimento do senso de comunidade e responsabilidade social.
» Desigualdade Social e Econômica: A crescente desigualdade entre ricos e pobres foi um fator de instabilidade social em Roma. Nos Estados Unidos, a concentração de riqueza nas mãos de uma elite cada vez menor, a estagnação dos salários da classe trabalhadora, a precarização do trabalho e a falta de mobilidade social criam um abismo crescente entre os "ganhadores" e os "perdedores" da globalização, alimentando o ressentimento e a polarização.
» Sobrecarga Militar e Extensão Imperial: Roma estendeu seu império por vastos territórios, o que exigiu um enorme esforço militar para manter o controle e defender as fronteiras. Essa sobrecarga militar, combinada com as dificuldades econômicas, enfraqueceu o império. Os Estados Unidos, com sua rede global de bases militares, seu envolvimento em conflitos em diversas partes do mundo e seus gastos militares exorbitantes, enfrentam um dilema semelhante. As derrotas militares no Vietnã, Afeganistão e Iraque, e o atual impasse na Ucrânia, evidenciam os limites do poderio militar americano e o alto custo da projeção de força.
» Invasões Externas e Pressões Migratórias: Roma enfrentou constantes invasões de povos bárbaros em suas fronteiras, o que contribuiu para a fragmentação e o colapso do império. Os Estados Unidos, embora não enfrentem invasões militares tradicionais, lidam com pressões migratórias, tensões raciais e culturais, e a ascensão de potências rivais como a China, que desafiam sua hegemonia global.
A Demolição da Cerca de Chesterton
Como observado por Richard Wolff, a retórica de Donald Trump, ao proclamar o fim do declínio americano, revela uma compreensão superficial dos processos históricos. Trump, ao atribuir os problemas do país a administrações anteriores e prometer soluções fáceis e rápidas, encenou um "teatro barato" que desvia a atenção dos verdadeiros desafios estruturais.
A negação dos problemas estruturais, como a desigualdade crescente, a estagnação da classe trabalhadora, a crise do sistema de saúde e a deterioração da infraestrutura, agrava a crise. Essa negação se manifesta na relutância dos líderes políticos em reconhecer a realidade do declínio e em propor soluções abrangentes e de longo prazo.
G.K. Chesterton, escritor e filósofo inglês, formulou o conceito da "cerca de Chesterton" para ilustrar a importância de preservar as instituições e tradições que nos trouxeram até o presente. A cerca representa as normas, valores e práticas que, embora possam não ser imediatamente compreendidas, desempenham um papel importante na manutenção da ordem e da estabilidade social.
Trump, em sua presidência, agiu como um demolidor dessa cerca. Ele ignorou as normas e tradições da política americana, atacou as instituições democráticas, desrespeitou o Estado de Direito e semeou a divisão e o caos.
» Ataque às Instituições Democráticas: Trump questionou a legitimidade das eleições, atacou a imprensa livre, interferiu no trabalho das agências de inteligência e desafiou o sistema de freios e contrapesos. Suas ações minaram a confiança nas instituições democráticas e polarizaram a sociedade americana.
» Desrespeito ao Estado de Direito: Trump demonstrou desprezo pelas leis e normas, concedendo indultos controversos a aliados políticos, obstruindo a justiça e incitando a violência. Suas ações enfraqueceram o Estado de Direito e corroeram a confiança no sistema legal.
» Polarização e Divisão: Trump explorou as divisões raciais, culturais e ideológicas da sociedade americana, semeando o ódio e a intolerância. Sua retórica divisiva alimentou o ressentimento e a polarização, tornando o diálogo e o compromisso cada vez mais difíceis.
» A demolição da cerca de Chesterton por Trump deixou um legado de instabilidade, desconfiança e divisão. A reconstrução dessa cerca, a restauração da confiança nas instituições e a promoção da unidade nacional serão os maiores desafios para a América no futuro.
A Crise da Hegemonia Econômica e o Deslocamento do Poder Global
A supremacia econômica dos Estados Unidos, que sustentou sua hegemonia global no século XX, está sendo desafiada pela ascensão de novas potências, como a China e a Índia. A ascensão dos BRICS, com um PIB combinado já superior ao do G7, reflete a mudança do eixo de poder global.
A globalização, que inicialmente beneficiou os Estados Unidos, também contribuiu para o deslocamento da produção industrial para países com mão de obra mais barata, o que resultou na perda de empregos e na estagnação dos salários da classe trabalhadora americana.
A crise financeira de 2008 expôs as fragilidades do sistema financeiro americano e abalou a confiança na capacidade dos Estados Unidos de liderar a economia global.
A Crise Social e o Aumento da Desigualdade
O declínio econômico se traduz em crise social. A desigualdade cresce a passos largos, e a classe média e os trabalhadores de baixa renda pagam o preço. O salário-mínimo federal, estagnado em 7,25 dólares por hora desde 2009, é um exemplo gritante dessa deterioração.
A crise do sistema de saúde, com milhões de americanos sem acesso a cuidados médicos adequados, e a crise da educação, com o aumento dos custos universitários e o endividamento estudantil, são outros exemplos da deterioração das condições de vida da maioria da população.
A polarização racial e cultural, a violência armada e a crise dos opioides são outros sintomas da crise social que aflige os Estados Unidos.
A Urgência de uma Mudança Real
Para evitar um colapso ainda maior, os Estados Unidos precisam abandonar a arrogância e reconhecer a necessidade de reformas estruturais. A solução não está em medidas cosméticas, mas em uma revisão profunda das instituições, no fortalecimento da democracia e na redução da desigualdade.
É preciso repensar o papel dos Estados Unidos no mundo, abandonar a política de intervenções militares e buscar uma diplomacia mais eficaz e multilateral.
É preciso investir em educação, saúde, infraestrutura e energias renováveis, criando empregos e oportunidades para todos.
É preciso reformar o sistema político, limitando a influência do dinheiro na política, fortalecendo a democracia e garantindo o direito ao voto para todos os cidadãos.
A história ensina que nenhum império é eterno. Os Estados Unidos podem seguir os passos de Roma e sucumbir aos mesmos males ou aprender com a história e tentar reverter esse ciclo. Mas o tempo está se esgotando.
A Encruzilhada e o Futuro da América
Os Estados Unidos se encontram em uma encruzilhada crítica. O declínio imperial, a sombra de Roma, a demolição da cerca de Chesterton e as crises econômica, social e política convergem para um momento de profunda incerteza. A retórica da negação, o teatro político e a falta de liderança agravam a crise. A reconstrução da confiança, a restauração das instituições e a promoção da unidade nacional serão os maiores desafios para a América no futuro. O futuro da América dependerá da capacidade de seus cidadãos e líderes de reconhecer a realidade do declínio, abandonar a arrogância, aprender com a história e promover as reformas estruturais necessárias para construir um futuro mais justo, próspero e sustentável. A encruzilhada é desafiadora, mas ainda há espaço para a esperança. Se a crise atual serve como um chamado para uma transformação mais profunda, que transcende as fronteiras nacionais e abraça a visão de que 'A Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos', conforme ensinado por Bahá'u'lláh (1817-1892), então a América, e o mundo, podem emergir mais fortes e unidos. O futuro dirá se a nação será capaz de superar seus desafios e reinventar-se para o século XXI, não apenas como uma potência, mas como um participante ativo na construção de uma civilização global mais justa e pacífica.
https://www.brasil247.com/blog/eua-em-declinio-a-roma-do-seculo-xxi
17 de março de 2025
Até quando adiaremos a paz mundial?
Mais alguns dias e 2014 será apenas história. Não a história de grandes avanços da humanidade, mas a história de tropeços e tragédias os mais variados colocando sempre na corda bamba a sempre almejada paz mundial


A piora dos últimos sete anos reverteu todo o progresso dos últimos 60 anos.
Atividades terroristas, conflitos internos e aumento no número de refugiados foram os fatores que mais contribuíram para a deterioração da paz no mundo nesses últimos anos da segunda década do século 21.
Em um mundo cada vez mais hipnotizado por indicadores econômicos, com seus sinais de claro e escuro a distinguir povos desenvolvidos de não-desenvolvidos, torna propício esse momento para refletirmos que a violência causou um prejuízo de 9,8 trilhões de dólares em todo o mundo apenas em 2013, ou seja, 11,3% de toda a riqueza produzida. E isso equivale a um custo de 1.350 dólares por pessoa.
A questão que se impõe é: quais serão as funestas cifras da violência para este 2014 já com seus dias contados?
É desconcertante observar que 8% da população mundial (560 milhões de pessoas) busca sobreviver nos 11 países mais violentos do mundo. Entre os piores, encontram-se a Síria, o Afeganistão, o Sudão do Sul, o Iraque e a Somália.
Na outra ponta, temos informe seguro dando conta que 5,5% da população mundial (385 milhões de pessoas) vive nos países considerados com "alto índice" de paz. Sintomático o fato que sete dos 10 países mais pacíficos do mundo estão na Europa, como Islândia e Dinamarca. Estes dados bem pouco alentadores integram estudo recente do Institute for Economics & Peace e demonstram à larga o que já era perceptível: o mundo está piorando.
No entanto, no próximo anos assinalaremos o transcurso de trinta anos desde que foi publicado instigante chamamento aos povos do mundo pela Casa Universal de Justiça. Corria o mês de outubro de 1985 quando o valioso documento – certamente o mais espetacular, lúcido e assertivo estudo sobre o tema da paz mundial – foi compartilhado com mais que uma centena de governantes de estados e nações do mundo.
Em suas páginas ganharam relevo vigorosas considerações sobre a paz mundial enquanto processo, destacava os inúmeros esforços de governos e de instituições da sociedade civil e também as várias contribuições de líderes religiosos, pensadores, filósofos, cientistas e estudiosos em geral sobre as causas de fracassarmos no estabelecimento da paz e as avenidas que uma humanidade aflita deveria trilhar para ter atingir aquele estágio planetário há tanto aguardado – o estabelecimento de uma paz mundial, sólida e duradoura.
A certa altura encontramos o seguinte excerto:
"É corriqueira a percepção que as agressões e os conflitos têm de tal maneira caracterizado os nossos sistemas sociais, econômicos e religiosos, que muitos já se entregaram à noção de que tal comportamento é intrínseco à natureza humana e, consequentemente, é inextirpável.
"Com a consolidação desse ponto de vista, assistimos ao desenvolvimento de uma contradição paralisante nos afazeres humanos.
"Por um lado, as pessoas de todas as nações proclamam não só o seu anseio de paz e harmonia, mas também a sua disposição de estabelecê-las e de por termo às apreensões devastadoras que atormentam as suas vidas diárias. Por outro lado, concede-se aceitação indiscriminada à noção de que os seres humanos são incorrigivelmente egoístas e agressivos, e, portanto, incapazes de erigir um sistema social simultaneamente progressivo e pacífico, dinâmico e harmonioso - um sistema que dê liberdade à iniciativa e à criatividade individuais, mas baseadas na cooperação e na reciprocidade."
É trágico perceber que nestas semanas finais de 2014 cerca de 500 milhões de pessoas vivem em países com alta instabilidade e riscos de conflito. E conviver com o fato que 200 milhões dessas estão abaixo da linha da pobreza.
Desde 2008, 111 países pioraram, se tornando mais violentos. Ao mesmo tempo, apenas 51 países melhoraram, se tornando mais pacíficos.
Tais números prenunciam, sem a necessidade de estudos e reflexões adicionais, o óbito de uma Ordem mundial lamentavelmente defeituosa, um sistema mundial incapaz de lidar com suas graves contradições na administração da justiça e na distribuição de bem-estar social para todos os povos, independentemente de suas raças, cores, etnias, nacionalidades, credos e sistemas ideológicos.
O ano novo (2015) que logo vem bater à nossa porta recebe este portentoso déficit civilizacional, herança que é de sucessivas gerações de governantes desatentas ao verdadeiro desafio que lhes é de direito enfrentar: desafio de construir instituições multilaterais sólidas, com legislações inclusivas do ponto de vista do desenvolvimento humano, e que possuam mecanismos adequados para combater os viciados e multifacetados estigmas da corrupção social, do fundamentalismo religioso e do cego materialismo que, juntos e entrelaçados, impedem a humanidade de alcançar seu verdadeiro destino.
E este destino que não pertence a uma só nação, a um só povo, é um destino comum em que sejam assegurados a paz e o bem-estar mundial à totalidade dos 7 bilhões de seres humanos que povoam este "nosso pálido ponto azul" – o planeta Terra.
Todos, sem exceção. E nenhum ser humano a menos.
https://www.brasil247.com/blog/ate-quando-adiaremos-a-paz-mundial
