Educação e ciência
A alma silenciosa da China
Como a espiritualidade chinesa moldou ética poder e cotidiano sem deuses centrais articulando família Estado e sociedade
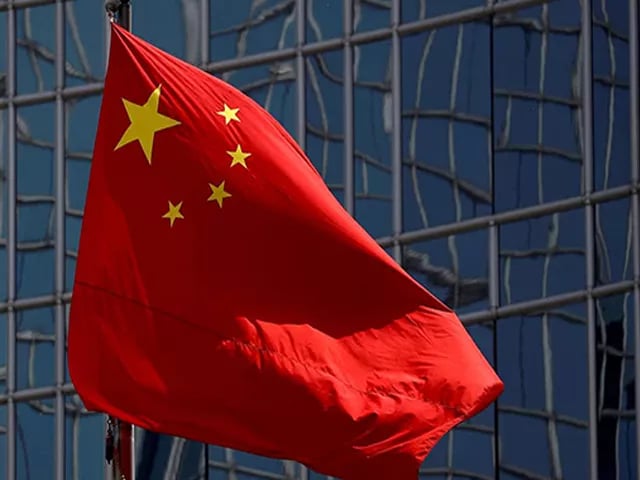
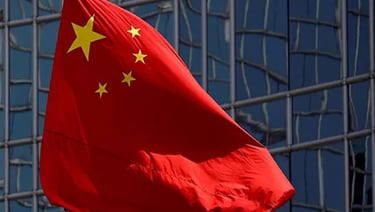
14 de janeiro de 2026
A corrida silenciosa da China por energia solar no espaço
Sem alarde, o país estrutura pesquisas para captar energia fora da atmosfera e reposicionar sua matriz energética no horizonte do século.
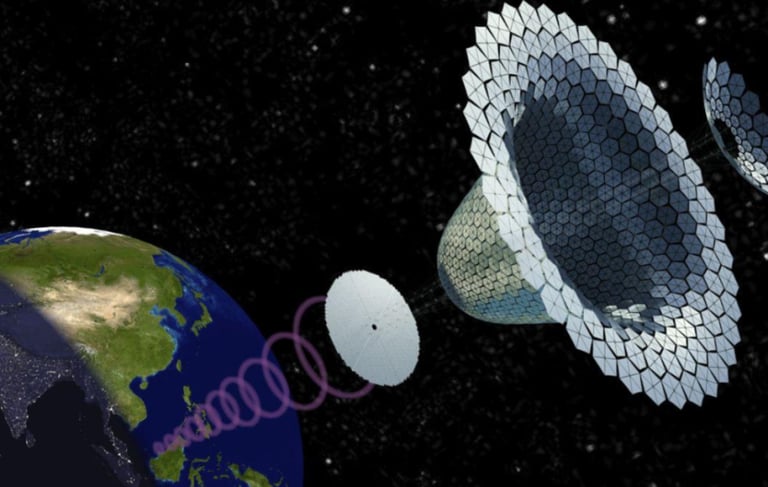
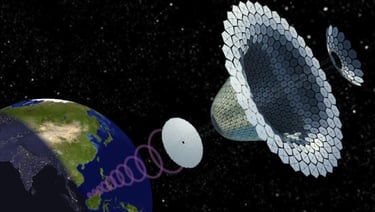
A China voltou a ocupar o centro do debate energético global ao confirmar, por meio de instituições ligadas ao seu programa espacial, estudos avançados para a geração de energia solar no espaço.
Não se trata de um anúncio retórico nem de ficção científica: o país trabalha, desde ao menos 2019, em um roteiro técnico para desenvolver a chamada energia solar espacial, conceito conhecido internacionalmente como Space-Based Solar Power. O projeto ainda está distante da execução plena, mas seus contornos são reais, documentados e estratégicos.
O princípio técnico é conhecido. Fora da atmosfera terrestre, painéis solares recebem radiação com intensidade maior e praticamente constante. Na superfície, a eficiência média dos sistemas fotovoltaicos é afetada pela alternância entre dia e noite, pela nebulosidade e pela absorção atmosférica. Em órbita, essas perdas deixam de existir. Segundo dados da China Academy of Space Technology, a captação solar no espaço pode ser até oito vezes mais eficiente do que em solo, dependendo da órbita e da tecnologia empregada.
Os estudos chineses indicam como objetivo final a instalação de uma estação em órbita geoestacionária, a aproximadamente 35.786 quilómetros da Terra. Nessa posição, a estrutura acompanha a rotação do planeta, permitindo transmissão contínua de energia para um mesmo ponto da superfície. A eletricidade captada seria convertida em micro-ondas e enviada a grandes antenas receptoras terrestres, capazes de reconverter o sinal em energia elétrica para a rede.
A transmissão por micro-ondas já foi testada em ambientes controlados e não é exclusividade chinesa. A NASA, a agência espacial japonesa JAXA e centros europeus estudam o mesmo princípio desde os anos 1970.
Em 2022, a China realizou testes experimentais de transmissão sem fio em solo e anunciou planos para demonstrações orbitais de pequena escala até o final da década de 2020.
O tamanho frequentemente citado da estação — cerca de um quilómetro de largura — não consta como especificação final em documentos oficiais. Trata-se de uma estimativa conceitual, usada para ilustrar a ordem de grandeza de um sistema capaz de gerar gigawatts de potência. Da mesma forma, comparações com o consumo global de petróleo pertencem ao campo das projeções teóricas, não de cálculos auditados por organismos independentes.
O cronograma divulgado é prudente. Testes em órbita baixa ao longo dos anos 2030. Sistemas intermediários nas décadas seguintes. Uma instalação de grande escala apenas por volta de 2050. Até lá, os obstáculos permanecem claros: custo de lançamentos, hoje ainda superior a US$ 2.000 por quilo; montagem robótica em órbita; durabilidade frente à radiação solar e micrometeoritos; além de acordos internacionais sobre uso e segurança da transmissão.
O dado central, contudo, é político e estratégico. A China trata energia e espaço como vetores de soberania de longo prazo. Não promete milagres. Investe em ciência pesada, engenharia incremental e tempo histórico. Se a energia solar espacial se tornar realidade, não será um salto repentino, mas uma obra de décadas — silenciosa, cara e profundamente transformadora.
https://revistaforum.com.br/opiniao/a-corrida-silenciosa-da-china-por-energia-solar-no-espaco/
11 de janeiro de 2026
Há coisas piores do que a morte
No romance As sombras do céu apagaram nossos rastros, Ozair Vasconcelos transforma o sertão em consciência moral e faz do silêncio uma força narrativa incontornável
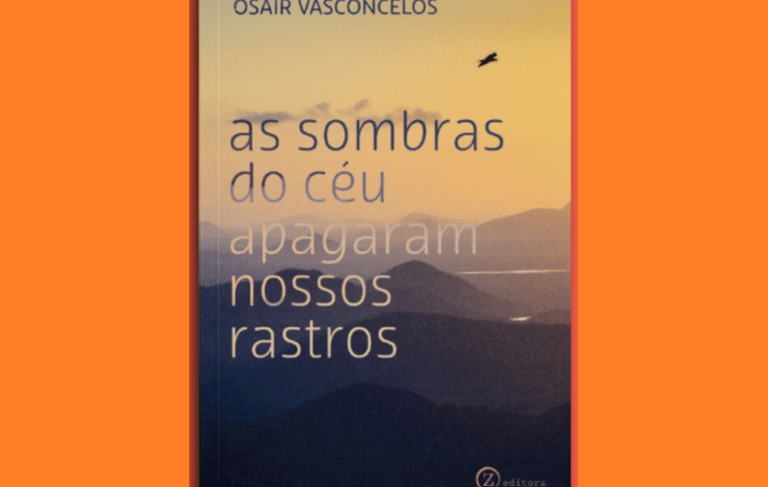
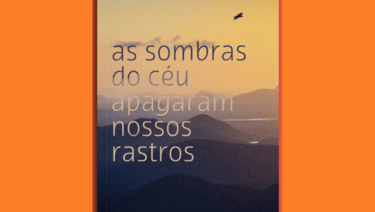
Todo começo de ano me concede quatro ou cinco dias de licença interior — um intervalo curto, mas necessário, para arejar a alma depois de doze meses escrevendo diariamente sobre política econômica, tarifas, guerras distantes e próximas, operações nos morros, emendas parlamentares, desmatamento, inteligência artificial, golpes financeiros, bancos suspeitos e a engrenagem ruidosa do poder. São dias raros em que o barulho do mundo diminui e a escrita deixa de ser trincheira para voltar a ser escuta.
É o meu freio de arrumação: diminuir o passo, reorganizar ideias, respirar outros ares antes que o calendário volte a apertar o cerco. Nesse silêncio provisório, a literatura reaparece como abrigo e reencontro. Hoje, deixo o noticiário de lado para falar de um escritor ainda pouco conhecido fora de seu território, mas dono de uma escrita que reúne a secura precisa de Graciliano Ramos, a pulsação humana de José Lins do Rego e o olhar amazônico de Milton Hatoum. Falo de Ozair Vasconcelos.
Há livros que não pedem licença ao leitor. Entram, ocupam espaço, desarrumam o interior e deixam marcas difíceis de apagar. As sombras do céu apagaram nossos rastros pertence a essa linhagem rara. Não é um romance empenhado em agradar nem em confirmar expectativas; exige atenção ética, fôlego narrativo e disposição para atravessar zonas de desconforto. Organizado em cinco capítulos derramados com precisão ao longo de 137 páginas, o livro aposta numa arquitetura enxuta, sem gordura estrutural, publicado sob a chancela da natalense Z Editora, o que já indica uma escolha editorial coerente com a densidade da obra.
A escrita de Ozair Vasconcelos revela domínio pleno da linguagem como matéria viva. A prosa não corre; avança em ondas longas, por vezes vertiginosas, por vezes abruptas, como se soubesse quando o leitor precisa respirar e quando deve ser submerso. A frase extensa, rítmica e acumulativa cumpre função sensorial: reproduz estados de confusão, arrebatamento e perda de controle. A linguagem não descreve o mundo — participa dele.
Há, no romance, algo profundamente cinematográfico. As imagens são secas, diretas, quase sem mediação, formando planos sucessivos que se sobrepõem como numa montagem rigorosa. Em muitos momentos, a narrativa avança como câmera baixa, rente ao chão, depois se eleva abruptamente para um plano aberto, onde céu e terra pesam sobre os personagens. Essa força imagética arrebata com a intensidade que só o cinema, depois da literatura, consegue alcançar. Não por acaso, é fácil imaginar Fernanda Torres encarnando Rosa Ana, com sua capacidade de conter vulcões internos, enquanto Wagner Moura poderia dar corpo e ambiguidade a Gonçalo — ou, em registros distintos, assumir as figuras de João e Inácio, personagens moldados pelo silêncio e pela tensão contida.
O episódio central envolvendo Rosa Ana concentra esse projeto narrativo. Ozair assume um risco alto ao construir uma cena em que erotismo e violência não se separam com facilidade. O texto não busca sedução; instala desconforto. A natureza não embeleza o acontecimento, antes o amplia e o observa. Árvores, folhas, vento e sons formam um coro inquietante que dissolve fronteiras entre corpo e paisagem. Trata-se de uma operação literária sofisticada, herdeira da tradição regionalista em que o sertão não é cenário, mas força moral ativa.
“Há coisas piores do que a morte e que um homem nunca quer ouvir.” A frase cai como sentença antiga, sem ornamento nem explicação. Condensa uma ética forjada no silêncio, onde morrer não é o limite do horror. O insuportável é ouvir aquilo que destrói o lugar do homem no mundo: a falência da proteção, a ruptura do pacto entre pai, filha e terra. É literatura que confia no peso da palavra curta e na inteligência do leitor.
O romance também desloca os sinais do desastre do chão para o alto. “Não é a terra que dá os primeiros sinais de algo estranho. É o céu.” E, adiante: “O céu jogava sombras sobre a terra.” O céu de Ozair não consola nem absolve; pesa, adverte, antecipa a tragédia. Dialoga diretamente com a melhor tradição regionalista brasileira, em que o Nordeste não é paisagem ilustrativa, mas consciência histórica. O céu torna-se personagem invisível, juiz silencioso que legitima o que virá.
A narrativa avança menos pelo que é dito e mais pelo que se cala. Augusta Maria, Salvador, Inácio e João são personagens moldados pela contenção. Os diálogos curtos carregam peso de sentença. Não há psicologização excessiva nem explicações morais fáceis. O autor confia no silêncio como recurso narrativo e no sertão como sistema ético fechado, regido por honra, vergonha e pertencimento.
Como todo projeto ambicioso, o romance não está imune a riscos. Em alguns trechos, a densidade imagética se aproxima do limite. Ainda assim, trata-se de escolha consciente, não de descontrole. Prefiro um escritor que arrisque a linguagem a outro que escreva com medo. Ozair Vasconcelos conhece a tradição, dialoga com ela e, ao mesmo tempo, se autoriza a seguir o próprio caminho.
As sombras do céu apagaram nossos rastros não é um livro confortável. É literatura de enfrentamento, escrita com consciência histórica e ambição formal. O leitor atento não sai aliviado, mas transformado — não por respostas recebidas, e sim pelas perguntas que permanecem.
A partir de amanhã, porém, esse breve intervalo se encerra. Voltaremos à dureza do cotidiano: às manchetes ásperas, aos conflitos sem metáfora, às urgências que não concedem pausa.
É justamente por isso que livros como o de Ozair Vasconcelos importam. Não servem para fugir do mundo, mas para voltar a ele com os sentidos mais atentos, a consciência mais alerta e a certeza de que, sem literatura, a realidade pesa mais. Muito mais.
https://revistaforum.com.br/opiniao/ha-coisas-piores-do-que-a-morte/
03 de janeiro de 2026
Diógenes e o alto custo das convenções
Exilado por adulterar moedas, o filósofo transformou o escândalo em método e, em 2026, continua a revelar quanto a obediência não pensada cobra da liberdade
.


No 2º dia de 2026, quando o segundo quarto do século XXI se impõe com sua aceleração permanente, métricas de desempenho e promessas de sucesso embaladas como necessidade, Diógenes de Sínope retorna como um incômodo útil. Não como personagem pitoresco da Antiguidade, mas como um teste ético. Diógenes nos obriga a perguntar, logo na largada do ano: quanto daquilo que chamamos de valor é escolha consciente — e quanto é apenas obediência bem-vestida?
Trazer Diógenes para o presente não é exercício arqueológico. É leitura do agora. Em 2026, cercados por discursos de eficiência, consumo e visibilidade, sua vida funciona como uma lâmina: corta excessos, separa necessidade de hábito e expõe a fragilidade de muitas certezas que tratamos como naturais. Ele não oferece conforto; oferece fricção. E talvez seja disso que mais precisamos neste início de ano.
Diógenes nasceu por volta de 412 a.C., em Sínope, colônia grega na Ásia Menor. Era filho de Isésio, um banqueiro responsável por operações monetárias e pela verificação da autenticidade das moedas em circulação. As fontes antigas relatam que pai e filho se envolveram num caso de adulteração monetária. Isésio foi preso. Diógenes, banido da cidade.
Esse exílio marca a ruptura decisiva. Privado de posição social e de proteção cívica, Diógenes inicia uma trajetória que não tenta recuperar prestígio, mas questionar a própria lógica que o define. Ele segue para Atenas e, depois, para Delfos, onde consulta o Oráculo. Sua pergunta é direta e pragmática: como recuperar a reputação diante da cidade?
A resposta vem em forma de sentença curta e ambígua, como convém a um oráculo: “desfigura a moeda”. A expressão grega — paracharattein to nomisma — carrega um duplo sentido. Nomisma é moeda, mas também é aquilo que vale por convenção: normas, costumes, valores aceitos sem discussão. A frase pode ser lida como confirmação do crime, mas também como deslocamento radical do problema.
Se o episódio ocorreu exatamente assim, é tema de debate entre historiadores. O que importa, do ponto de vista filosófico e jornalístico, é o uso que Diógenes faz dessa ambiguidade. Ele não passa a falsificar metais. Passa a pôr à prova aquilo que a sociedade trata como valioso. A partir dali, sua vida se torna uma investigação pública sobre o peso real das convenções.
É nesse caminho que Diógenes se aproxima do cinismo, corrente fundada por Antístenes. O cinismo não era um discurso elegante, mas uma ética prática. Seu ponto de partida era simples e perturbador: grande parte do que fazemos não nasce da necessidade, mas da repetição. Vestimos, acumulamos, casamos, competimos porque aprendemos que é assim que se vive.
Diógenes leva essa crítica ao limite. Reduz seus bens ao mínimo, vive em espaços públicos e transforma o cotidiano em argumento filosófico. A autossuficiência torna-se seu eixo moral. Quanto menos alguém precisa, menos se submete. E dessa redução nasce sua ideia de liberdade: não a liberdade abstrata, mas a capacidade concreta de não obedecer ao que não faz sentido.
Essa postura explica sua rejeição a vínculos que, para ele, multiplicavam dependências. O matrimônio, visto como ápice da vida social, era tratado com desconfiança. Não por desprezo às relações humanas, mas por entender que muitas delas eram organizadas por expectativas externas, não por reflexão real. Para Diógenes, viver acompanhado podia significar perder autonomia antes mesmo de perceber.
A mesma lógica orienta sua crítica à filosofia excessivamente conceitual. Diógenes via em Platão o exemplo de um pensamento distante da experiência. Quando Platão definiu o ser humano como “um bípede sem penas”, Diógenes respondeu com um gesto calculado: depenou uma galinha, lançou-a no espaço da Academia e disse: “Eis o homem de Platão”.
Não se tratava de humor vulgar. Era uma crítica precisa ao risco de conceitos que ignoram a vida concreta. Para Diógenes, filosofia que não altera a maneira de viver é apenas retórica bem organizada.
Essa coerência prática aparece com ainda mais força no episódio mais conhecido de sua biografia: o encontro com Alexandre, o Grande. O conquistador visita Diógenes, que repousava ao sol. Ao se aproximar, Alexandre se coloca à sua frente, projetando sombra sobre ele — um gesto involuntário, mas carregado de simbolismo.
Alexandre se apresenta, reconhece o filósofo e oferece conceder qualquer desejo. Diógenes não se levanta, não agradece, não pede riquezas. Apenas responde: “Sai da frente do meu sol.” O pedido é literal e definitivo. Tudo o que ele exige do homem mais poderoso do mundo é que não lhe retire aquilo que a natureza oferece gratuitamente.
Há ainda o episódio narrado por Mênipo de Gádara, quando Diógenes é capturado por piratas e posto à venda como escravo. Perguntado sobre suas habilidades, responde: “Sei comandar homens.” Comprado por Cheníades, torna-se educador de seus filhos. Mesmo sob condição jurídica de escravo, mantém intacta sua autonomia intelectual.
Diógenes viveu longamente para os padrões da Antiguidade. As fontes divergem, mas situam sua morte entre 324 e 321 a.C., após mais de oito décadas de vida — alguns autores falam em cerca de noventa anos. Há quem diga que morreu no mesmo ano que Alexandre. Verdade ou lenda, a coincidência é eloquente: o maior conquistador territorial e o homem que não quis possuir nada encerram o ciclo quase juntos.
Ao ser questionado sobre o destino de seu corpo, Diógenes respondeu: “Joguem-me aos cães.” Quando perguntaram se não temia as mordidas, completou: “Se estarei morto, como poderiam me ferir?” Não há desprezo pela vida nessa frase, mas recusa em organizar a existência a partir do medo.
Em 2026, Diógenes permanece atual porque aponta para o ponto cego do nosso tempo. Vivemos cercados de dispositivos que prometem relevância, consumo percebido como necessidade, pressa convertida em virtude. Ele nos força a um inventário incômodo: do que eu realmente preciso para viver, trabalhar, criar, discordar? Quanto do meu dia é decisão — e quanto é submissão elegante?
Se o Oráculo disse “desfigura a moeda”, o recado que atravessa os séculos é claro: mexa no que sua época chama de valor. Ponha à prova as convenções que se apresentam como inevitáveis. Diógenes não ensinou a viver melhor. Ensinou a viver com menos ilusões — e, no início de um novo ano, poucas lições são mais exigentes do que essa.
https://www.brasil247.com/blog/diogenes-e-o-alto-custo-das-convencoes
01 de janeiro de 2026
O que ainda está vivo em nós?
Em 2026, a pergunta de Albert Schweitzer deixa de ser filosófica e se torna acusação: o mundo funciona, mas aceita a morte lenta da empatia, da solidariedade e da decência.
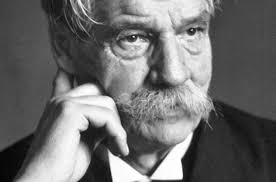
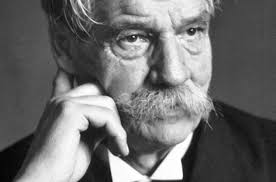
O primeiro dia de 2026 não inaugura um tempo neutro. Ele chega depois de um ano atravessado por guerras prolongadas, crises humanitárias persistentes, deslocamentos forçados em escala recorde e um desgaste visível da confiança pública. O mundo não ficou em pausa — decisões continuaram a ser tomadas, governos seguiram atuando e a tecnologia avançou, ainda que bolsas e mercados financeiros só retomem as atividades a partir do dia seguinte ao feriado. Algo essencial, porém, continuou se perdendo sem alarde. É nesse cenário que a vida e o pensamento de Albert Schweitzer ganham atualidade incômoda.
Nascido em 1875, na Alsácia então sob domínio alemão, Schweitzer construiu cedo uma trajetória rara. Doutor em Teologia, professor universitário e filósofo, tornou-se também um dos mais respeitados intérpretes de Johann Sebastian Bach de sua geração. Ainda jovem, era um concertista consagrado nos grandes palcos europeus — de Berlim a Londres, de Paris a Roma — e recebeu prêmios e honrarias importantes pelo rigor técnico e pela profundidade de suas interpretações. Prestígio intelectual, estabilidade financeira e reconhecimento público já estavam assegurados antes dos 30 anos.
Em 1905, tomou uma decisão que contrariava frontalmente a lógica dominante das elites europeias: ingressou no curso de Medicina com um objetivo claro e declarado — cuidar de populações africanas abandonadas pela ordem colonial. Formou-se médico em 1913 e seguiu para Lambaréné, no atual Gabão, onde fundou um hospital em condições extremas.
As primeiras instalações eram de pau a pique, erguidas em meio à floresta, sem saneamento básico e com escassez crônica de medicamentos. Para viabilizar o projeto, Schweitzer vendeu praticamente todo o seu patrimônio, incluindo prêmios, medalhas, troféus e bens pessoais acumulados ao longo da carreira musical e acadêmica.
A região enfrentava altas taxas de malária, tuberculose, hanseníase e doenças intestinais. Ao longo de mais de cinquenta anos, Schweitzer atendeu milhares de pacientes, realizou cirurgias, formou equipes locais e ampliou gradualmente o hospital, que chegou a reunir dezenas de edificações simples, construídas conforme a demanda clínica crescia.
Em intervalos regulares de três a cinco anos, ele retornava à Europa por cerca de três meses. Nessas viagens, realizava longas séries de concertos beneficentes para arrecadar recursos destinados à construção de novas alas, compra de equipamentos e manutenção do hospital africano.
Relatos de visitantes e pacientes registram cenas que se tornaram parte de sua história. Ao fim da tarde, na varanda do hospital, Schweitzer sentava-se ao piano e tocava Bach enquanto o sol se punha. Centenas de pacientes, muitos deitados nos gramados, ouviam em silêncio. Não era um gesto estético nem uma concessão ao lirismo, mas a expressão de uma ética vivida: cuidar do corpo sem abandonar a dignidade do espírito.
Em 1952, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. No discurso de aceitação, afirmou: “O exemplo não é a melhor forma de influenciar os outros. É a única.” A frase sintetiza uma vida inteira orientada pelo princípio do “respeito pela vida”, entendido não como abstração, mas como responsabilidade ativa diante de qualquer sofrimento humano.
É nesse contexto que sua advertência mais conhecida ganha peso factual: “A tragédia não é quando um homem morre; a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo”. Em 2026, a sentença descreve um fenômeno observável. Mais de 110 milhões de pessoas vivem hoje em condição de refugiados, segundo dados das Nações Unidas.
A repetição desses números sem reação proporcional revela algo além da crise humanitária: revela a normalização da indiferença.
O que não pode morrer dentro de alguém enquanto a vida segue? A fé que se traduz em ação. A esperança sustentada por escolhas difíceis. A solidariedade que não depende de conveniência. A fraternidade que não seleciona vítimas. E a decência como limite mínimo diante da dor alheia.
Abrir 2026 à luz de Albert Schweitzer não é um exercício de memória. É um teste de consciência histórica. Sociedades podem continuar funcionando quando a ética se ausenta — mas, nesse estágio, já começaram a colapsar por dentro.
https://revistaforum.com.br/opiniao/o-que-ainda-esta-vivo-em-nos/
01 de janeiro de 2026
Sem ilusões nem união: o mundo à deriva em 2026
Do ponto de vista de Krugman, Friedman, Žižek e Sachs, as crises perderam o poder de se autocorrigir; o que resta é aprender a navegar na instabilidade permanente
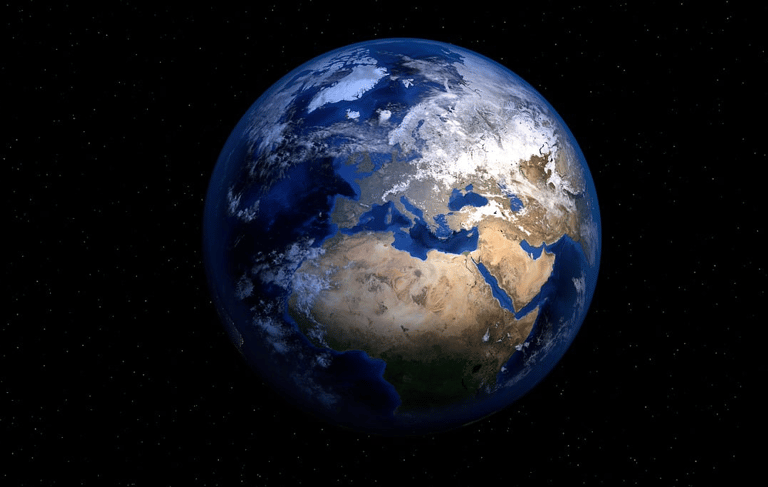

Quatro autores que raramente caminham lado a lado estão apontando para o mesmo horizonte. Um economista laureado, um analista do poder global, um filósofo da ruptura e um arquiteto da governança internacional convergem num diagnóstico incômodo: o mundo se aproxima de 2026 exausto, fragmentado e perigosamente habituado a viver sem projeto. Não se trata de futurologia nem de retórica alarmista, mas da leitura fria de sinais já visíveis.
O que entra em desgaste não é apenas um ciclo econômico ou um mandato político, e sim a própria crença de que o sistema global ainda opera por ajustes automáticos, consensos mínimos e correções graduais. Instituições seguem funcionando, mas por inércia; lideranças administram crises sem oferecer direção; sociedades aprendem a aceitar o improviso como normalidade. O colapso, aqui, não é abrupto nem espetacular — é silencioso, progressivo e profundamente corrosivo.
Em seus textos recentes, Paul Krugman tem adotado um tom mais contido, talvez justamente por escrever com maior liberdade intelectual. Ele não antevê uma crise financeira clássica nem um choque inflacionário fora de controle. Seu alerta é mais sutil: a erosão contínua da confiança pública, especialmente quando os indicadores macroeconômicos deixam de dialogar com a experiência cotidiana.
Mesmo em cenários de crescimento moderado, custos estruturais — moradia, saúde, educação e energia — seguem pressionando a política. Para Krugman, o risco central não é a explosão, mas o desgaste acumulado, aquele que mina governos por dentro e cria terreno fértil para soluções simplistas, frequentemente autoritárias.
Thomas L. Friedman observa 2026 a partir do tabuleiro internacional. Em ensaios e entrevistas recentes, descreve um mundo que abandona a retórica de valores universais e adota um pragmatismo cru. Alianças tornam-se funcionais, temporárias, negociadas caso a caso, sem qualquer ilusão civilizatória compartilhada.
Conflitos prolongados deixam de ser tratados como crises excepcionais e passam a integrar a estrutura permanente do sistema internacional. O resultado é um mundo menos ideológico, mas também menos confiável, no qual governar significa administrar riscos contínuos, não construir futuros estáveis.
É Slavoj Žižek quem leva esse diagnóstico ao plano mais perturbador. Para ele, 2026 pode consolidar um novo “normal” autoritário, não por meio de golpes clássicos, mas pela aceitação cotidiana da exceção. Emergências climáticas, sanitárias e securitárias fornecem o argumento permanente para suspensões graduais de direitos.
Nesse cenário, a restrição deixa de chocar. Estados passam a decidir quem circula, consome ou protesta com base em algoritmos, riscos e urgências indefinidas. O autoritarismo não se impõe; ele se administra. O mundo segue funcionando, mas com menos ilusões sobre liberdade, escolha e democracia.
Jeffrey Sachs oferece a leitura mais direta e normativa. Seus textos tratam 2026 como um prazo-limite, sobretudo diante da fragilização de tratados estratégicos, em especial na área nuclear. A ausência de novos acordos, combinada à proliferação tecnológica e à deterioração da confiança entre potências, cria um ambiente propício a erros de cálculo.
Para Sachs, o perigo não é abstrato nem distante. Ele é mensurável, político e evitável — desde que haja decisão. Caso contrário, 2026 pode ser lembrado como o ano em que o mundo escolheu a inércia e aceitou suas consequências.
O ponto mais grave dessas análises não é a possibilidade de ruptura, mas a disposição coletiva de normalizar a degradação. Não se anuncia um evento final, e sim a consolidação de um método: governar por exceção permanente, decidir por fadiga social, aceitar por ausência de alternativas.
O mundo pode atravessar 2026 ainda de pé — com eleições, mercados, tratados e discursos formais —, mas já operando sem convicção, sem horizonte e sem lastro ético. Quando a ingenuidade se encerra sem que a lucidez a substitua, o vazio costuma ser ocupado pelo cinismo, pela força e pela obediência resignada.
A história não falha nesse registro: sociedades não perdem a liberdade de uma vez; perdem-na quando passam a considerar normal viver sem princípios. É nesse ponto que 2026 deixa de ser apenas uma data e se transforma num teste decisivo.
https://revistaforum.com.br/opiniao/sem-ilusoes-nem-uniao-o-mundo-a-deriva-em-2026/
31 de dezembro de 2025
O salário do pensamento
Um século depois de Ford, o paradoxo persiste: empresas remuneram execução, mas é o pensamento que ancora o lucro, a inovação e o sentido.


A história é boa demais para ser verdadeira. E talvez por isso mereça ser contada. Diz-se que Henry Ford, o homem que acelerou o século XX, foi certo dia questionado por um jornalista: “Quem é o funcionário mais bem pago da sua empresa?”.
Ford o levou por entre ruídos metálicos, esteiras vibrando, martelos e motores. No meio do turbilhão, uma sala de vidro. Dentro dela, um homem dormia, pés sobre a mesa, chapéu cobrindo o rosto.
“Ele é o mais bem pago”, teria dito Ford. “Não faz nada. Apenas pensa.”
Não há registro algum desse diálogo. Nenhum biógrafo o confirma, e o próprio Museu Henry Ford classifica histórias parecidas como invenções de ocasião. Mas essa anedota resiste porque expõe algo essencial: pensar é o único trabalho que não pode ser delegado — e é também o mais subestimado.
O que vale o pensamento
Na lógica das empresas, o que se mede é o que se paga. Horas, metas, entregas. O pensamento, porém, não cabe em planilha. Ele amadurece em silêncio, entre distrações e lampejos.
E quando surge, transforma o rumo de tudo. O funcionário que pensa não é o que responde rápido, é o que formula perguntas novas.
Pensar estrategicamente é enxergar além da linha de produção. Pensar criativamente é quebrar o molde sem destruir o propósito. Pensar com atenção plena — o mindfulness — é habitar o instante sem se perder no ruído.
Cada forma de pensar carrega uma potência distinta, e todas têm um ponto em comum: exigem tempo, espaço e confiança.
Pensar custa caro — e rende mais
Ford sabia disso. Em 1914, ao dobrar os salários de seus operários, compreendeu que dignidade também é produtividade. Ele afirmava — e aí sim é fato documentado — que “pensar é o trabalho mais difícil que existe; é por isso que tão poucos o fazem”.
Cem anos depois, continua sendo verdade. Bill Gates reserva semanas inteiras apenas para pensar. Warren Buffett lê quatro horas por dia. Nenhum deles corre o tempo todo atrás de resultados; criam as condições para que o pensamento faça o trabalho que nenhuma planilha é capaz de realizar: imaginar o futuro antes que ele aconteça.
A pressa é inimiga da lucidez. Em ambientes corporativos, o excesso de tarefas é o novo analfabetismo: impede a visão, bloqueia o raciocínio, sabota a intuição.
Pensar exige pausa — e coragem para sustentar o silêncio que antecede a ideia.
O valor do silêncio
Talvez o homem que dormia na sala de Ford nunca tenha existido. Mas a imagem revela o que as fábricas modernas — agora de dados e algoritmos — insistem em esquecer: a pausa também produz.
O silêncio é o berço das ideias que mudam rotas. Não há criatividade sem intervalos, nem inovação sem repouso mental. A pressa gera repetição; o tempo de pensar gera descoberta.
Pensar continua sendo o trabalho invisível que sustenta todos os outros. Um pensamento pode construir uma empresa ou reinventar uma sociedade.
Por isso, a pergunta que Ford nunca precisou responder continua necessária: quanto vale um ser humano que pensa?
Talvez valha tudo o que o mundo ainda não conseguiu calcular.
https://revistaforum.com.br/opiniao/o-salario-do-pensamento/
30 de dezembro de 2025
Mistura explosiva entre igrejas e política partidária criou o inferno em que estamos
Religião instrumentalizada por máquinas partidárias transforma leis em dogmas, templos em comitês e cidadãos em soldados ideológicos


Há um erro de origem que precisa ser nomeado com clareza antes de qualquer crítica política: quando a religião entra na política para disputar poder, ela renuncia à sua própria razão de existir. E quando a política se apropria da religião para legitimar-se, abandona o solo comum da razão pública e da legalidade democrática.
O resultado não é apenas degradação institucional, mas desorientação espiritual coletiva. A democracia brasileira vive esse curto-circuito de forma cada vez mais visível: o púlpito transformado em palanque, o palanque disfarçado de altar, e a verdade reduzida a ferramenta de mobilização emocional.
Religião e política não são inimigas — mas pertencem a planos distintos da experiência humana. Devem coexistir como óleo e água: no mesmo recipiente social, sem jamais se confundir. A política opera no plano da organização externa da vida coletiva; a religião, no da transformação interior do ser humano. Uma cuida da administração do poder; a outra da formação do caráter. Quando essa fronteira é rompida, ocorre uma inversão perigosa: a fé passa a servir ao poder, e o poder passa a falar em nome de Deus. É como se uma mesa ou uma cadeira produzida pelo carpinteiro passasse a falar em seu nome. Existe algo mais tosco e ridículo do que isso?
A política, por sua própria natureza, é atravessada por disputas, negociações, interesses e estratégias. Ela precisa disso para funcionar. Mas justamente por isso não pode ser o espaço da elevação moral.
A religião, ao contrário, nasce para educar a consciência humana, não para vencer eleições. Seu papel histórico sempre foi o de criar ordem interior, promover tranquilidade social e despertar virtudes latentes que nenhuma lei consegue impor. Quando cumpre essa função, torna-se fundamento invisível da civilização; quando a abandona, transforma-se em superstição organizada ou em empresa de poder.
O velho axioma permanece implacável: não se constrói uma sociedade de ouro com indivíduos de chumbo. Nenhuma Constituição, nenhum tribunal, nenhuma maioria parlamentar substitui a ausência de virtudes básicas. Honestidade, veracidade, humildade, unidade, compaixão e senso de justiça não são meros ornamentos morais; são estruturas de sustentação da vida coletiva. Quando a religião se afasta dessa missão educativa para disputar hegemonia política, contribui diretamente para o empobrecimento ético que depois finge denunciar. E resulta no caos que está sempre batendo em nossas portas. Simples assim.
Os dados brasileiros ajudam a compreender a dimensão do fenômeno. O Censo Demográfico de 2022 revelou um país religiosamente mais plural: o catolicismo caiu para 56,7% da população; os evangélicos cresceram para 26,9%; religiões de matriz africana avançaram; e o grupo dos “sem religião” também aumentou.
Essa diversidade, em si, é saudável. O problema começa quando ela é convertida em ativo político, moeda eleitoral e instrumento de polarização.
O recorte etário aprofunda o alerta. O crescimento evangélico é mais intenso entre jovens, enquanto o catolicismo se concentra nas faixas etárias mais altas. Há, portanto, uma disputa explícita pelo futuro simbólico do país — simbólico aqui no sentido concreto de disputa por sentidos, valores, identidades coletivas e critérios morais que orientam o voto, o pertencimento e a lealdade social.
Quando lideranças religiosas entram no jogo partidário, sabem que não estão apenas pedindo votos, mas moldando visões de mundo. A fé deixa de ser caminho de amadurecimento espiritual e passa a ser tecnologia de mobilização política.
No Congresso Nacional Brasileiro, essa dinâmica ganhou forma institucional. A Frente Parlamentar Evangélica tornou-se uma das maiores articulações suprapartidárias, reunindo mais de duas centenas de parlamentares. Muitos mantêm vínculos orgânicos com igrejas, alguns ocupando cargos hierárquicos religiosos. Essa sobreposição não é neutra. Ela tensiona princípios republicanos básicos e fragiliza a distinção entre consciência pessoal e mandato público.
Essa distorção já havia sido antecipada pela filosofia clássica. Em Platão (428/427–348/347 a.C.), governar nunca significou favorecer classes, crenças ou facções, mas ordenar a cidade para que a felicidade alcançasse o conjunto da sociedade. Quando a política abandona esse princípio e passa a servir partes específicas, ela deixa de buscar justiça e passa a produzir desequilíbrio. Nesse vazio ético, discursos religiosos e identitários tornam-se atalhos convenientes para legitimar privilégios, dividir a cidade e mascarar interesses de poder com verniz moral.
Mas a crítica central não é política — é espiritual.
Quando textos sagrados são usados como slogans, quando o adversário vira inimigo de Deus, quando o voto se transforma em prova de fé, a religião deixa de ser luz e passa a ser instrumento de dominação moral e emocional. A história mostra que, sempre que isso ocorre, a espiritualidade definha e o fanatismo prospera. A religião, que deveria ser fonte de ordem e tranquilidade entre os povos, converte-se em fator ativo de conflito e divisão.
Há aqui um ponto decisivo: progresso material sem elevação espiritual produz civilizações eficientes, desiludidas e profundamente infelizes. O desenvolvimento técnico, desacompanhado de valores, amplia apenas a capacidade de errar em escala maior.
A verdadeira civilização nasce quando avanço material e maturidade espiritual caminham juntos — como lâmpada e luz. Separados, ambos fracassam: a lâmpada sem luz é inútil; a luz sem lâmpada não ilumina o mundo.
Por isso, a separação entre religião e política não é uma concessão secularista — isto é, não se trata de um gesto ideológico contra a fé ou de submissão da sociedade a um materialismo hostil à transcendência. Trata-se de uma exigência espiritual e republicana para proteger a religião da captura pelo poder e preservar a política do uso indevido do sagrado.
O Estado laico não é um Estado sem Deus; é um Estado que reconhece que nenhuma instituição humana pode falar em nome de Deus. Devemos acreditar, ter uma fé genuína e pura no Deus que nos criou — e não no Deus que nós criamos à imagem de nossas conveniências políticas.
Daí o desafio inevitável, que já não pode ser evitado com retórica piegas.
Que tal irmos direto ao olho do furacão que se a vizinha? Se muitas igrejas passaram a funcionar, na prática, como caixas eletrônicos informais para financiar campanhas, projetos de poder e interesses claramente corruptos, não será o momento de submeter essas estruturas ao mesmo rigor fiscal aplicado a qualquer organização que movimenta grandes volumes de recursos? Transparência não ameaça a fé; a protege. Investigar o caminho do dinheiro — do dízimo ao destino final —, apurar sonegação, lavagem e eventuais vínculos com economias criminosas não é perseguição religiosa, mas dever republicano. Em rápidas palavras: se a as igrejas entram na política, nada mais justo que a Receita Federal entre nas igrejas. Entendo que esse é o momento para uma operação carbono específico.
Religião não existe para conquistar governos, mas para formar consciências. Quando se esquece disso, ela perde sua força transformadora e trai sua missão histórica. E aqui afirmo, sem hesitação, como crença inabalável: confio no ensinamento do Prisioneiro de ‘Akká — Bahá’u’lláh (1817-1893) — de que a religião é o instrumento principal para o estabelecimento da ordem no mundo e da tranquilidade entre seus povos. Justamente por isso ela não pode ser rebaixada a ferramenta eleitoral.
Uma sociedade que sacrifica sua base espiritual no altar do poder pode até vencer eleições — mas perde a alma no processo. E se perde a alma, nada mais importante falta ser perdida.
29 de dezembro de 2025
Uma viagem a Atenas, guiada por Delta, Pi e espanto
Em janeiro, entendi que o destino da viagem não estava no mapa, mas no espanto diante das ruínas que ainda respiram história.


Atenas — janeiro passado.
Domingo sempre me parece um bom dia para largar a roda viva do jornalismo, com suas urgências e tempestades, e abrir espaço para outras escritas — aquelas em que o tempo desacelera e o olhar ganha fôlego. É nesse intervalo, quase um respiro editorial, que me atenho às viagens, aos desvios, às histórias que não pedem manchete, mas pedem alma. As ruas de Atenas pareciam escritas por um deus que se diverte com estrangeiros. Letras, curvas, ângulos e símbolos lembravam equações perdidas da adolescência. Era inverno, e o vento trazia maresia e séculos no mesmo sopro. Com o casaco apertado no peito, descobri cedo que nessa cidade orientação é privilégio dos iniciados.
Não faz muito tempo caminhei por ali, e cada placa, cada esquina, parecia propor um enigma. Perder-se tornava-se convite, não falha. A cidade falava em silêncio, e eu a ouvia pela pele. Atenas exige que o viajante duvide primeiro, compreenda depois.
Ads by
O primeiro encontro foi com Δ. No caderno escolar, Delta sempre significou mudança. Em Atenas, significava direção. Segui-o sem entender, guiado mais pela curiosidade que pelo mapa. O Π, no quadro-negro, era infinito; ali, marcou a porta de uma padaria onde o pão quente desfazia qualquer teorema. Cada símbolo abandonava a abstração e ganhava corpo, aroma, cotidiano.
Num café perguntei por um mapa. O garçom sorriu e ofereceu a versão “geométrica ou algebraica”. Escolhi a que não me humilhasse. A matemática, em Atenas, não resolve: provoca. Psi apontou para um morro. Xi sugeriu subir. Com humor, a cidade empurra o viajante para frente.
Quando encontrei a rua que procurava — nome extenso, quase tese universitária — entendi que desistir do controle pode ser libertador. Há sabedoria no extravio. A vida raramente entrega placas claras, prefere enigmas. Queremos atalhos; ela oferece labirintos. Descobri que caminhar sem certeza amplia o olhar, e Atenas foi professora paciente nesse aprendizado.
À tarde, a Acrópole dourou-se sob luz que parecia respirar. Sentei-me e deixei o tempo desacelerar. Ali viajar significou não cumprir itinerário, mas existir entre ruínas que lembram a breve duração humana. Janeiro já não parecia frio: era memória.
Imaginei Sócrates andando por ali, cabelo ao vento, perguntando: “O que buscas?”. Talvez não busquemos cidades, busquemos espelhos. Em cada desvio algo de “conhece-te a ti mesmo” se iluminou. Percebi que Atenas não me perdeu — refinou-me. A viagem tornou-se menos geográfica e mais íntima, como quem descobre um fragmento próprio em pedra antiga.
Voltei ao hotel carregando algo invisível na mala, impossível de comprar em loja. Idiomas são portais: traduzir é pouco, sentir é tudo. Se captei essa experiência em palavras, não sei. Mas deixo esta crônica como mármore ao leitor, para que interprete seu próprio Delta, seu Pi, sua Acrópole interior.
Porque, no fundo, destino não é chegada. Destino é o que descobrimos enquanto procuramos o caminho — e às vezes ele nasce justamente do prazer secreto de estar perdido.
https://revistaforum.com.br/opiniao/uma-viagem-a-atenas-guiada-por-delta-pi-e-espanto/
28 de dezembro de 2025
Kant na linha vermelha da falência ética mundial
A política internacional opera sem coerência, normaliza contradições perigosas e converte princípios em ornamentos, enquanto o imperativo categórico reaparece exigindo limites que ninguém mais está disposto a respeitar.


Ao longo deste ano, escrever foi menos reagir ao noticiário e mais tentar compreender o desenho mais amplo do tempo em que vivemos. Meus textos nasceram da constatação de que atravessamos uma época de contrastes extremos, em que avanços civilizatórios convivem com retrocessos éticos, e em que a promessa de progresso caminha lado a lado com novas formas de exclusão, violência e indiferença.
Desde cedo, percebi que muitos dos temas centrais já não cabem em molduras nacionais. A ideia de uma nova ordem mundial apareceu como consequência inevitável da interdependência entre os povos. Crises climáticas, guerras regionais, cadeias produtivas globais e tecnologias transnacionais tornaram obsoleta qualquer ilusão de isolamento. O mundo passou a exigir menos retórica de poder e mais coordenação, menos força bruta e mais arquitetura institucional.
Foi nesse contexto que revisitei Immanuel Kant, não como exercício filosófico, mas como ferramenta concreta de leitura do presente. Sua ideia de uma paz fundada em regras comuns e responsabilidade compartilhada voltou a fazer sentido diante do esgotamento do modelo baseado na intimidação permanente. A justiça internacional deixou de soar utópica e passou a se apresentar como necessidade prática de sobrevivência coletiva.
O mesmo choque entre progresso e falência estrutural se impôs ao observar a obra de Sebastião Salgado. Suas imagens que correm o mundo a mostrar que a vida é breve, mas a arte é longa documentam um planeta ferido por desigualdades, deslocamentos e devastação ambiental, sem jamais retirar do humano sua dignidade. Ali, a arte cumpre função jornalística: registra, denuncia e preserva memória.
A questão ambiental atravessou meus textos como dado incontornável. Em Nenhum planeta B, o argumento foi direto: não existe alternativa física ou tecnológica capaz de substituir os sistemas naturais que sustentam a vida. Sabemos disso há décadas, mas seguimos adiando decisões. O contraste entre conhecimento e ação talvez seja uma das marcas mais graves do nosso tempo.
No centro dessa reflexão, encontrei eco numa formulação escrita no século XIX, mas que parece descrever com precisão desconcertante o presente em Um conto de duas cidades, Charles Dickens abre seu romance assim:
“Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos, a idade da sabedoria e a idade da loucura, a época da fé e a época da incredulidade, a estação da luz e a estação das trevas, a primavera da esperança e o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, não tínhamos nada diante de nós, íamos todos diretamente para o céu, íamos todos diretamente para o inferno — em suma, a época era tão parecida com a atual, que algumas de suas autoridades mais barulhentas insistiam em que ela fosse recebida, tanto no bem quanto no mal, apenas no grau superlativo de comparação.”
Esse jogo de opostos atravessa tudo o que escrevi. Vivemos um tempo em que a solidariedade se amplia e, ao mesmo tempo, se deixa capturar pela lógica da autopromoção. Ao refletir sobre como boas ações passaram a depender de visibilidade, não critiquei a ajuda em si, mas a transformação do gesto em performance. Quando o bem exige vitrine, ele perde profundidade social.
A tecnologia aparece nesse cenário como força ambígua. Amplia possibilidades, mas dilui responsabilidades. Conecta indivíduos, mas fragmenta comunidades. Informa em escala inédita, enquanto confunde critérios. Não a tratei como solução mágica nem como ameaça absoluta, mas como campo permanente de disputa ética.
Somente mais adiante, em perspectiva histórica, abordei a tornozeleira eletrônica. Ao recordar as formas brutais com que sociedades antigas marcavam seus culpados — mutilações, ferro em brasa, execuções públicas —, o contraste se impõe. A tornozeleira representa uma evolução civilizatória: substitui a violência irreversível por contenção legal, preserva a vida e mantém aberta a possibilidade de reintegração social.
No penúltimo movimento desse percurso, ficou clara minha intenção central: buscar unidade na multiplicidade. Relacionar os grandes dilemas internacionais às experiências concretas do indivíduo. Mostrar que o mesmo mundo que redefine suas estruturas globais redefine também a forma como punimos, cuidamos, convivemos e existimos.
O saldo deste ano não é o conforto de respostas definitivas, mas uma leitura integrada do presente. Um jornalismo que tenta ir além do fragmento, que aposta em contexto, memória e horizonte. Talvez porque compreender o nosso tempo exija aceitar que vivemos, simultaneamente, o melhor e o pior dos mundos — e que a escolha entre eles se faz todos os dias.
https://revistaforum.com.br/opiniao/a-urgencia-governa-o-tempo/
20 de dezembro de 2025
A urgência governa o tempo
As possibilidades avançam em ritmo acelerado enquanto a responsabilidade encolhe, deslocando decisões centrais para um terreno de urgência permanente


Ao longo deste ano, escrever foi menos reagir ao noticiário e mais tentar compreender o desenho mais amplo do tempo em que vivemos. Meus textos nasceram da constatação de que atravessamos uma época de contrastes extremos, em que avanços civilizatórios convivem com retrocessos éticos, e em que a promessa de progresso caminha lado a lado com novas formas de exclusão, violência e indiferença.
Desde cedo, percebi que muitos dos temas centrais já não cabem em molduras nacionais. A ideia de uma nova ordem mundial apareceu como consequência inevitável da interdependência entre os povos. Crises climáticas, guerras regionais, cadeias produtivas globais e tecnologias transnacionais tornaram obsoleta qualquer ilusão de isolamento. O mundo passou a exigir menos retórica de poder e mais coordenação, menos força bruta e mais arquitetura institucional.
Foi nesse contexto que revisitei Immanuel Kant, não como exercício filosófico, mas como ferramenta concreta de leitura do presente. Sua ideia de uma paz fundada em regras comuns e responsabilidade compartilhada voltou a fazer sentido diante do esgotamento do modelo baseado na intimidação permanente. A justiça internacional deixou de soar utópica e passou a se apresentar como necessidade prática de sobrevivência coletiva.
O mesmo choque entre progresso e falência estrutural se impôs ao observar a obra de Sebastião Salgado. Suas imagens que correm o mundo a mostrar que a vida é breve, mas a arte é longa documentam um planeta ferido por desigualdades, deslocamentos e devastação ambiental, sem jamais retirar do humano sua dignidade. Ali, a arte cumpre função jornalística: registra, denuncia e preserva memória.
A questão ambiental atravessou meus textos como dado incontornável. Em Nenhum planeta B, o argumento foi direto: não existe alternativa física ou tecnológica capaz de substituir os sistemas naturais que sustentam a vida. Sabemos disso há décadas, mas seguimos adiando decisões. O contraste entre conhecimento e ação talvez seja uma das marcas mais graves do nosso tempo.
No centro dessa reflexão, encontrei eco numa formulação escrita no século XIX, mas que parece descrever com precisão desconcertante o presente em Um conto de duas cidades, Charles Dickens abre seu romance assim:
“Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos, a idade da sabedoria e a idade da loucura, a época da fé e a época da incredulidade, a estação da luz e a estação das trevas, a primavera da esperança e o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, não tínhamos nada diante de nós, íamos todos diretamente para o céu, íamos todos diretamente para o inferno — em suma, a época era tão parecida com a atual, que algumas de suas autoridades mais barulhentas insistiam em que ela fosse recebida, tanto no bem quanto no mal, apenas no grau superlativo de comparação.”
Esse jogo de opostos atravessa tudo o que escrevi. Vivemos um tempo em que a solidariedade se amplia e, ao mesmo tempo, se deixa capturar pela lógica da autopromoção. Ao refletir sobre como boas ações passaram a depender de visibilidade, não critiquei a ajuda em si, mas a transformação do gesto em performance. Quando o bem exige vitrine, ele perde profundidade social.
A tecnologia aparece nesse cenário como força ambígua. Amplia possibilidades, mas dilui responsabilidades. Conecta indivíduos, mas fragmenta comunidades. Informa em escala inédita, enquanto confunde critérios. Não a tratei como solução mágica nem como ameaça absoluta, mas como campo permanente de disputa ética.
Somente mais adiante, em perspectiva histórica, abordei a tornozeleira eletrônica. Ao recordar as formas brutais com que sociedades antigas marcavam seus culpados — mutilações, ferro em brasa, execuções públicas —, o contraste se impõe. A tornozeleira representa uma evolução civilizatória: substitui a violência irreversível por contenção legal, preserva a vida e mantém aberta a possibilidade de reintegração social.
No penúltimo movimento desse percurso, ficou clara minha intenção central: buscar unidade na multiplicidade. Relacionar os grandes dilemas internacionais às experiências concretas do indivíduo. Mostrar que o mesmo mundo que redefine suas estruturas globais redefine também a forma como punimos, cuidamos, convivemos e existimos.
O saldo deste ano não é o conforto de respostas definitivas, mas uma leitura integrada do presente. Um jornalismo que tenta ir além do fragmento, que aposta em contexto, memória e horizonte. Talvez porque compreender o nosso tempo exija aceitar que vivemos, simultaneamente, o melhor e o pior dos mundos — e que a escolha entre eles se faz todos os dias.
https://revistaforum.com.br/opiniao/a-urgencia-governa-o-tempo/
23 de dezembro de 2025
O idioma sitiado — entre a ocupação inglesa e o clamor da última flor do Lácio
Cada click cede território; listei 701 termos ingleses neste texto — deu trabalho. Se não defendermos a língua agora, despertaremos estrangeiros dentro do próprio vocabulário nacional, exilados em casa.
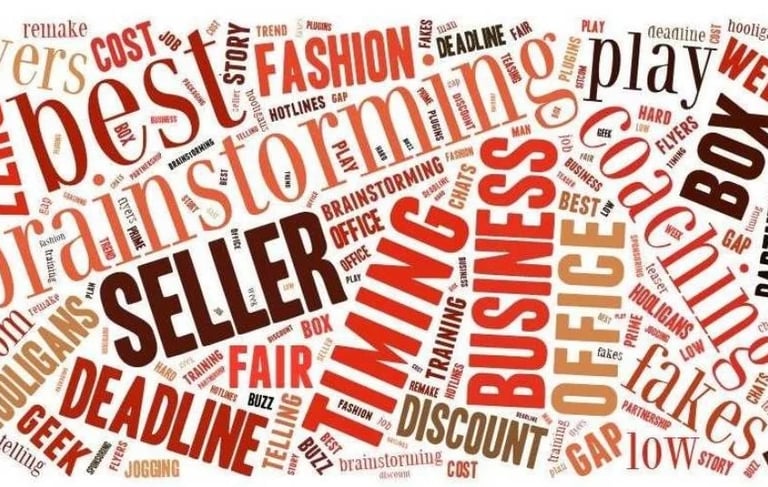
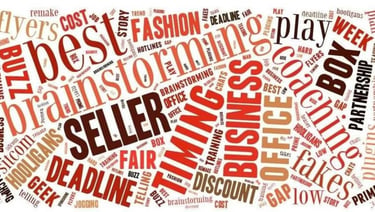
Quando escrevo estas linhas, recebo uma notificação no smartphone, chega um e-mail, acende o alerta de meeting no Zoom, alguém me manda um link com um post no feed, peço um print, “manda no WhatsApp, por favor”, e volto a encarar esta folha que já não é folha — é notebook, app, website, drive, nuvem e backup.
A língua portuguesa respira, treme, perde e ganha músculos diante dessa avalanche de anglicismos que transformam nossa fala num grande update cultural. Somos brasileiros; misturamos jeans com short, calça Lee com camisa branca, vintage com trendy, love com saudade, hello com “Oi, tudo bem?”. Pintamos o cotidiano com pincel bilíngue, às vezes sem notar.
Outro dia, no café, duas meninas comentavam um story que viralizou com memes, trolls e haters. “Dá um share! Quero printar e mandar pro crush”, dizia uma. Ao lado, um senhor lia jornal no tablet; atrás, um gamer reclamava do skin caro e prometia upgrade no setup. Na bancada, a barista ajustava o hair com presilha dourada — fashion, confiante.
Vivemos no delivery, pagamos no drive-thru, atravessamos o shopping center como quem entra em catedral de consumo, paramos no shop de importados e voltamos para o home office — ou melhor, para o famoso “Rome Office”, dito com sotaque que tenta transformar chinelo em dress code. Nosso inglês tropical tem sabor de pão na chapa com bacon metafórico.
No trabalho, o léxico virou campo minado: deadline, briefing, feedback, brainstorming. Contrata-se freelance, frila para os íntimos, abre-se startup, celebra-se mentoring, recorre-se a coach e corre-se para entregar relatório antes do deadline final.
Planejamos podcast, criamos playlist, devoramos streaming, fazemos login, redefinimos password, logout só quando o burnout nos derruba. O job exige fluência em inglês emocional. Na política, fala-se de income, tax, tariffs, commodities, best seller de planos econômicos que sobem e descem feito rollercoaster. Pegamos Uber para ir ali na esquina — andar virou atividade vintage.
Mas convém lembrar: essa invasão não é de hoje.
Nossos avós já tomavam drink no coquetel do clube, pediam filé ou bife, brindavam com rum, ouviam show no rádio e torciam pelo recorde do atleta. Vibravam com futebol, gol, pênalti, drible, surfe, voleibol, beisebol; jogavam pôquer nos fundos de algum bar. Compravam abajur para a sala, vestiam suéter, short, tênis novo no Natal. Iam ao trailer antes do filme, faziam piquenique, folheavam revistas no bufê. As moças comentavam flertes; os rapazes admiravam iate no lago. Córner, ringue, uísque.
Nada disso soava invasão — era assimilação lenta, com sotaque lusófono. Na padaria e depois no shopping, comiam sanduíche, passeavam ao som da bossa nova e observavam o playboy de terno claro brilhando no sol de janeiro.
Mas agora, o que era convivência virou ocupação. Não é empréstimo, é takeover. Se o idioma é nação, vivemos migração clandestina pelas fronteiras da fala.
Aceitamos sem negociar. Rimos orgulhosos de pronunciar coffee break com R arranhado, acreditando que duas sílabas inglesas valem mais que quatro portuguesas. Há nisso um complexo de vira-lata turbinado, vaidade que troca chão firme por tapete importado. Abrimos mão da farta herança do português — essa “última flor do Lácio”, resistente como árvore no sertão — e a oferecemos ao deus do marketing em troca de curtidas.
E aqui surge a pergunta que evitamos formular: devemos instituir uma lei federal que limite o uso indiscriminado de estrangeirismos em documentos oficiais, governamentais, acadêmicos, literários e educativos? Aliás, por onde anda nossa Academia Brasileira de Letras? Será que tem algo a dizer sobre isso? Duvido muito.
Não para proibir o mundo — mas para garantir que o Brasil continue reconhecendo sua própria voz. Língua é mais que ferramenta — é território.
Quando perdemos as palavras, perdemos o mapa. Simples assim.
É irônico imaginar Camões tweetando “Love é fogo que burns sem se ver”, ou Machado escrevendo “Ao winner, as batatas”, e ainda Drummond murmurando “And now, John Doe?” num beco sem saída digital, como se o destino tivesse botão reset. Fernando Pessoa confessaria “Tenho em mim todos os moods do mundo”, metade Lisboa, metade cloud. Eça descreveria “uma elite muito fashion, com status e pose de selfie aristocrática”, e Clarice sopraria “Liberdade é um feeling que quase dói”. Já Guimarães Rosa talvez dissesse: “Viver é perigoso — hard mode, meu amigo — as veredas têm checkpoint invisível para quem ousa escutar o mundo”. Rimos — mas é riso pálido, riso de quem percebe tarde que as muralhas do idioma foram violadas.
Nas praças digitais, cada click é um voto linguístico. Talvez devamos lembrar que “bom dia” continua mais generoso que hello, que “até logo” aconchega mais que bye, que “vamos conversar?” derruba muros que chat não derruba.
Não proponho muro — proponho ponte. Deixar entrar, mas não se extraviar. O idioma é casa: pode ganhar upgrade, Wi-Fi, smart home, mas deve responder ao toque do português que nos funda. Porque nenhum delivery substitui pão quente dito como pão quente.
E, convenhamos, se o futuro é global, raízes não fazem logout — permanecem, teimosas, mesmo quando o mundo insiste em download do novo.
Que não sejamos povo que troca sua própria voz por eco estrangeiro: o idioma que herdamos não é moda passageira — é eternidade em estado de palavra.
09 de dezembro de 2025
Respeito ensinado aos meninos liberta o futuro das meninas
Pesquisa Serenas – Livres para Sonhar? expõe que a violência contra meninas começa no recreio, não no boletim policial


O relatório “Livres para Sonhar?”, da Serenas, não é daqueles que se folheiam com neutralidade acadêmica. Ele chega como batida urgente na porta — dessas que interrompem o jantar e devolvem a consciência ao lugar de onde nunca deveria ter saído. E pergunta: quando começamos a fracassar com as meninas?
O documento revela salas de aula em que corpos pequenos carregam medos grandes, e o futuro — esse conceito repetido em discursos oficiais — começa a se encolher antes mesmo de entender a tabuada. Onde a mochila pesa menos que a vergonha. Onde apelidos ofensivos circulam com a naturalidade de bilhetes passados no fundo da sala. Onde a menina aprende cedo demais a administrar o próprio silêncio como estratégia de sobrevivência.
A violência que explode nos noticiários — feminicídios, agressões domésticas, desaparecimentos — não começa no crime adulto. Ela germina nos corredores escolares, onde não ousamos arrancar a raiz.
A repercussão jornalística existe, mas ainda é tímida. O Lunetas relatou meninas que evitam ir à escola para não serem avaliadas como objeto. O Brasil, acostumado a conviver com tragédias como quem convive com trânsito lento, precisa romper o ciclo da naturalização.
Porque o relatório da Serenas não fala de incômodos pontuais: fala da primeira estação de um caminho que pode terminar em violência, humilhação e, em casos extremos, morte. E não é exagero dizer que o feminicídio começa quando ensinamos uma menina a se encolher e um menino a se sentir dono do espaço.
Somos um país que cobra boas notas, mas não ensina respeito. Que exige compostura das meninas, mas chama insulto de “brincadeira de menino”. Que vê telejornais exibirem mortes de mulheres noite após noite — e a repetição converte horror em paisagem.
Quem cresce assistindo à dor feminina como manchete recorrente pode acreditar que sofrimento é destino. E isso não pode continuar.
Se queremos transformar o Brasil em um lugar seguro para suas mulheres, precisamos começar pelos meninos.
Educar meninas para se proteger é importante — mas educar meninos para não ferir é indispensável.
1. Respeito como conteúdo escolar obrigatório.
Consentimento não é assunto tardio. É alfabetização emocional básica. Meninos precisam aprender que o corpo da menina não lhes pertence, nem como piada, nem como toque, nem como comentário.
2. Protocolos de denúncia reais — não burocráticos.
Toda escola deve acolher denúncias com seriedade. Meninas não podem ser revitimizadas.
3. Formação contínua de professores.
Educadores bem preparados reconhecem sinais e interrompem abusos. Escola que acolhe transforma trajetórias.
4. Participação ativa das famílias — com homens envolvidos.
Pais precisam ensinar aos filhos que força é proteção, não imposição. Exemplo masculino educa mais que discurso isolado.
5. Mídia como agente de consciência.
Feminicídio não pode ser item de entretenimento trágico. Cada caso é um fracasso coletivo e deve gerar debate — não anestesia.
E, no fim, tudo se resume a uma pergunta simples e poderosa:
que tipo de homem estamos formando?
Se o menino cresce achando que meninas são “de aguentar”, se ninguém lhe diz que limite existe, se a dor alheia é normalizada, o ciclo se repete. E a vida se perde.
Mas existe fresta.
Quando a escola decide proteger, a cultura muda.
Quando o professor escuta, a menina floresce.
Quando o pai conversa, o filho se humaniza.
Quando a sociedade reage, o medo diminui.
O relatório da Serenas não é apenas diagnóstico — é ponto de virada, convocação moral.
Não basta saber. É preciso agir.
Não basta indignar-se. É preciso educar.
Não basta legislar. É preciso cuidar.
O título do documento traz dúvida: Livres para Sonhar?
E estamos longe de garantir essa liberdade.
Mas há um texto que ainda podemos escrever como país. Um trecho que começa nas famílias, passa pela escola e termina nas políticas públicas: o trecho em que meninas crescem inteiras — e não em alerta permanente.
Livres para viver. Livres para crescer. Livres — sem medo.
Esse deve ser nosso compromisso.
Sem hesitação.
Sem reticências.
https://www.brasil247.com/blog/respeito-ensinado-aos-meninos-liberta-o-futuro-das-meninas
08 de dezembro de 2025
Há um Saramago plantado no quintal de Josefa
A carta à avó revela ternura, culpa e gratidão: palavras que devolvem dignidade às mãos que sustentaram a infância de um escritor maior que o próprio destino


Há escritores que inventam mundos inteiros; alguns plantam ideias, outros erguem catedrais de metáforas, edificam narrativas como quem assenta pedras calçadas. José Saramago fez tudo isso — e ainda devolveu ao leitor o espelho simples da humanidade. O menino que cresceu entre oliveiras e pobreza, nascido no pequeno Azinhaga, descobriu cedo que a palavra é uma casa habitável. Nela cabem invernos, medos, fome, ternura e lembranças. A palavra — esse fio discreto que costura o tempo ao peito — serviu-lhe de abrigo e de arma. Com ela atravessou regimes, censuras, tempestades ideológicas. Com ela escreveu romances que se tornaram bússolas morais de um século inquieto.
E, talvez por isso, antes mesmo de se tornar o primeiro Prêmio Nobel da língua portuguesa, em 8 de outubro de 1998, já sabia que todo escritor volta inevitavelmente ao chão que o formou. Na cerimônia em Estocolmo, diria com humildade: “somos todos feitos da mesma pasta humana”, e completaria noutra passagem memorável: “a literatura é o testemunho de que a condição humana vale a pena”. Palavras que ecoam como quem agradece não apenas à Academia Sueca, mas à origem pobre que nunca renegou — porque sabia que dali veio o sustento da sua escrita.
Em 1968, publicado no jornal A Capital, Saramago escreveu uma carta-crônica à avó Josefa. Não é apenas um texto — é um abraço entre duas eras. É a memória afetiva transformada em palavra, como se o neto, já homem, tocasse o rosto enrugado da infância e dissesse: devo-te quem sou. Leio essa crônica como quem observa o menino pequeno caminhando na direção do escritor imenso. Nela, Saramago devolve à avó um retrato emocionante da vida que ela carregou sem ter lido livros, mas lendo o mundo com o corpo. É o testemunho de que a literatura nasce muitas vezes do olhar humilde dos que nada pedem e muito ofertam.
Carta para Josefa, minha avó (1968 – texto integral de José Saramago)
“Tens noventa anos. És velha, dolorida. Dizes-me que foste a mais bela rapariga do teu tempo — e eu acredito. Não sabes ler. Tens as mãos grossas e deformadas, os pés encortiçados. Carregaste à cabeça toneladas de restolho e lenha, albufeiras de água.
Viste nascer o sol todos os dias. De todo o pão que amassaste se faria um banquete universal. Criaste pessoas e gado, meteste os bácoros na tua própria cama quando o frio ameaçava gelá-los. Contaste-me histórias de aparições e lobisomens, velhas questões de família, um crime de morte. Trave da tua casa, lume da tua lareira — sete vezes engravidaste, sete vezes deste à luz.
Não sabes nada do mundo. Não entendes de política, nem de economia, nem de literatura, nem de filosofia, nem de religião. Herdaste umas centenas de palavras práticas, um vocabulário elementar. Com isto viveste e vais vivendo. És sensível às catástrofes e também aos casos de rua, aos casamentos de princesas e ao roubo dos coelhos da vizinha. Tens grandes ódios por motivos de que já perdeste lembrança, grandes dedicações que assentam em coisa nenhuma. Vives. Para ti, a palavra Vietname é apenas um som bárbaro que não condiz com o teu círculo de légua e meia de raio. Da fome sabes alguma coisa: já viste uma bandeira negra içada na torre da igreja. (Contaste-mo tu, ou terei sonhado que o contavas?)
Transportas contigo o teu pequeno casulo de interesses. E, no entanto, tens os olhos claros e és alegre. O teu riso é como um foguete de cores. Como tu, não vi rir ninguém. Estou diante de ti e não entendo. Sou da tua carne e do teu sangue, mas não entendo. Vieste a este mundo e não curaste de saber o que é o mundo. Chegas ao fim da vida, e o mundo ainda é, para ti, o que era quando nasceste: uma interrogação, um mistério inacessível, uma coisa que não faz parte da tua herança: quinhentas palavras, um quintal a que em cinco minutos se dá a volta, uma casa de telha-vã e chão de barro. Aperto a tua mão calosa, passo a minha mão pela tua face enrugada e pelos teus cabelos brancos, partidos pelo peso dos carregos — e continuo a não entender. Foste bela, dizes, e bem vejo que és inteligente. Por que foi, então, que te roubaram o mundo? Quem to roubou? Mas disto talvez entenda eu, e dir-te-ia o como, o porquê e o quando se soubesse escolher das minhas inumeráveis palavras as que tu pudesses compreender. Já não vale a pena. O mundo continuará sem ti — e sem mim. Não teremos dito um ao outro o que mais importava. Não teremos, realmente? Eu não te terei dado, porque as minhas palavras não são as tuas, o mundo que te era devido. Fico com esta culpa de que me não acusas — e isso ainda é pior. Mas por quê, avó, por que te sentas tu na soleira da tua porta, aberta para a noite estrelada e imensa, para o céu de que nada sabes e por onde nunca viajarás, para o silêncio dos campos e das árvores assombradas, e dizes, com a tranquila serenidade dos teus noventa anos e o fogo da tua adolescência nunca perdida: ‘O mundo é tão bonito, e eu tenho tanta pena de morrer!’
É isto que eu não entendo — mas a culpa não é tua".
José Saramago nasceu em 16 de novembro de 1922, filho de camponeses pobres. Releio essa carta e vejo que ela não é apenas memória — é origem. A avó Josefa, que não sabia ler, ensinou-lhe o primeiro alfabeto: o alfabeto das coisas essenciais. Aquelas mãos deformadas que ele descreve, marcadas pelo peso da lenha e da água, são páginas de um livro que nunca foi publicado, mas que ele leu com os olhos de menino. O riso dela, “um foguete de cores”, é a imagem mais terna de resistência que a pobreza pode produzir. Não é riso de ignorância; é riso de quem, apesar da dureza, descobriu alegria onde outros teriam encontrado cinzas.
Quando o neto adulto pergunta “quem te roubou o mundo?”, devolve à avó não apenas nostalgia — devolve reparação. Saramago, com milhares de palavras sob seu comando, reconhece que a mulher que o criou tinha apenas quinhentas. Esse descompasso é social e histórico. Ele recebe o Nobel dizendo que “todos somos feitos da mesma pasta” e que “a literatura é a prova de que viver vale”. E sabe, intimamente, que a massa que formou sua avó era a mesma que construiu um país inteiro — e nunca recebeu diploma. A literatura, ali, torna-se ponte entre o analfabetismo e a imortalidade.
A frase final da crônica — “o mundo é tão bonito, e eu tenho tanta pena de morrer” — não é apenas confissão; é revelação.
Quem viu pouco, amou muito. Quem leu pouco, compreendeu o essencial. Josefa olha o céu que nunca percorreu e ama o mundo como se o tivesse nas mãos.
Talvez este seja o cerne da obra de Saramago: o espanto diante da vida. Ele se foi em 18 de junho de 2010, nas Ilhas Canárias, mas sua avó continua sentada na soleira, rindo como foguete, enquanto o mundo, agora, a lê.
https://www.brasil247.com/blog/ha-um-saramago-plantado-no-quintal-de-josefa
07 de dezembro de 2025
Feynman e a genialidade sem espetáculo
Entre bongôs, equações e perguntas desconcertantes, ele provou que curiosidade disciplinada é a verdadeira assinatura da inteligência.
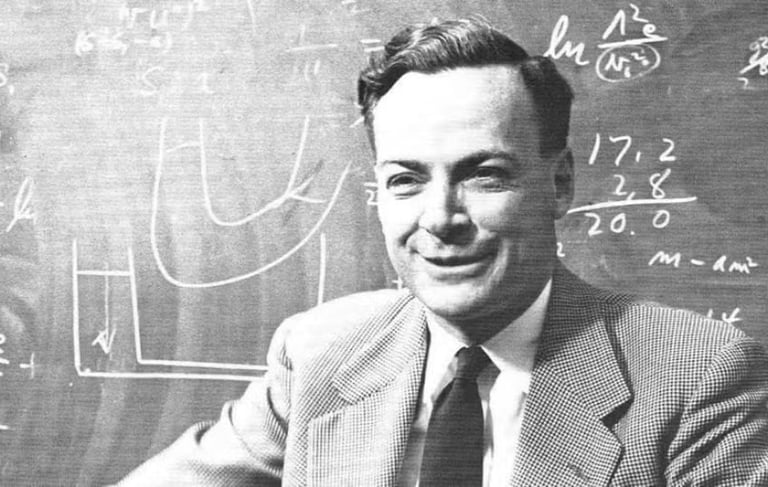
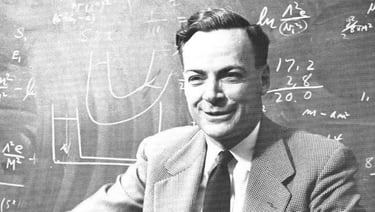
Richard Feynman habita uma zona rara da história: a daqueles que não pedem licença para pensar. Em tempos saturados por adjetivos distribuídos como confete — “gênio”, “brilhante”, “espetacular” — sua presença funciona como correção moral. Vivemos numa época em que a pressa de endeusar suplanta a capacidade de compreender, e em que a palavra dita perde densidade a cada repetição automática. A facilidade com que se distribuem superlativos diz menos sobre o talento alheio e mais sobre nossa ansiedade coletiva de transformar tudo em espetáculo. Ele lembrava uma verdade desconfortável: o primeiro princípio é não enganar a si mesmo — e somos sempre o alvo mais fácil de enganar. Difícil encontrar diagnóstico mais atual para uma era movida por curtidas, autopromoção e pela crença ingênua de que elogios vazios substituem substância.
Chegou a Los Alamos em 1943, convocado para o Projeto Manhattan com apenas 24 anos e carregando o luto antecipado de Arline, sua esposa, que morreria no ano seguinte. No ambiente militarizado que misturava urgência, segredo e hierarquia rígida, percebeu que a segurança do laboratório não passava de superstição uniformizada. Observou arranhões próximos de números óbvios, datas de aniversário usadas como senha, gestos repetidos sem reflexão — e abriu dezenas de cofres com lógica e um parafuso emprestado. Nunca levou nada. Deixava bilhetes pedindo melhorias. Expunha falhas estruturais apenas com método, atenção e ironia.
O pós-guerra o levou a Cornell e depois a Caltech, onde transformou salas de aula em espaços vivos de raciocínio. Seus quadros negros pareciam mapas em movimento; seus diagramas — hoje famosos — revelavam trajetórias subatômicas como se fossem rotas de um mundo secreto. Ele tinha pavor da reverência acrítica. Repetia uma convicção essencial: ciência é reconhecer que até os especialistas podem estar errados. Não era insolência; era ética. Para ele, clareza não significava simplificar demais, mas tornar compreensível sem trair a realidade — algo difícil num tempo em que muitos preferem frases de efeito a explicações honestas.
Em 1965, recebeu o Prêmio Nobel de Física pelo trabalho revolucionário na eletrodinâmica quântica ao lado de Schwinger e Tomonaga. Aceitou a honra, mas recusou a mitologia. O que movia Feynman não eram medalhas — eram perguntas. E perguntas não se ajoelham diante de palácios, comissões ou tradições.
Essa postura reapareceu em 1986, quando o ônibus espacial Challenger explodiu após 73 segundos de voo. A NASA apresentava relatórios que mais escondiam do que explicavam. Feynman pediu um copo com gelo, mergulhou nele um anel de vedação e mostrou, diante do país, que o problema estava ali — uma falha que a temperatura agravava e os relatórios mascaravam. Concluiu com a frase que ainda incomoda governos e instituições: para que a tecnologia funcione, a realidade deve prevalecer sobre os esforços de relações públicas.
Richard Feynman morreu em 15 de fevereiro de 1988, em Los Angeles, após lutar contra dois tipos de câncer. Enfrentou o fim com o humor seco que o acompanhara a vida inteira. Disse que seria entediante morrer duas vezes — e que bastava uma.
Num mundo que desperdiça superlativos e confunde visibilidade com mérito, Feynman nos devolve o rigor e a coragem intelectual que rareiam. Ele mostrou que pensar é um ato de honestidade, não de autopromoção; um enfrentamento do real, não um ritual de vaidade. E lembrou, por contraste, que bajulação em excesso é apenas ruído — e ruído não ilumina nada.
E deixou uma lição final, silenciosa e permanente: quando a verdade encontra quem a sustente, não precisa de espetáculo para vencer. Fazia eco às sábias palavras do pensador persa ao afirmar que “a verdade é um ponto, os ignorantes o multiplicaram.”
https://revistaforum.com.br/opiniao/2025/12/3/feynman-genialidade-sem-espetaculo-193484.html
03 de dezembro de 2025
O apanhador e a última trincheira da sinceridade humana
Ao rejeitar a coreografia das aparências, Holden Caulfield, protagonista de “O apanhador no campo de centeio”, revela o preço de dizer a verdade
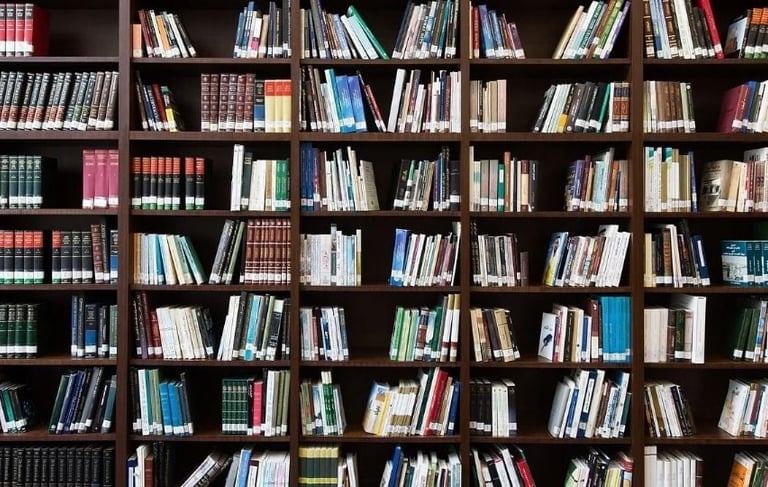
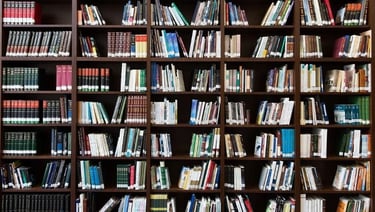
Dizem que certos livros aparecem na sua vida na hora exata, mas isso é conversa fiada. “O apanhador no campo de centeio” não aparece — ele invade. Entra feito um intruso pela porta que você jurava ter trancado, mexe nas gavetas escondidas, cutuca vergonhas que você finge que não sente.
Se Holden Caulfield escrevesse estas linhas, provavelmente diria algo como: “Sabe quando uma coisa te acerta em cheio e você nem estava pronto? Pois é. Foi isso”. E completaria, meio irritado, meio cansado das farsas do mundo: “É meio chato admitir, mas tem livro que entende você melhor do que qualquer gente”.
E, mesmo resmungando, continuaria lendo — porque certas feridas doem, mas doem dizendo a verdade. Talvez seja justamente aí, nesse lugar em que literatura e autenticidade se cruzam, que o romance de J. D. Salinger começa a operar sua magia mais duradoura.
A verdade é que “O apanhador no campo de centeio” não conversa apenas com o leitor; ele o desarma. E é desse desarmamento inicial — tão inesperado quanto necessário — que brotam as perguntas que acompanham o livro desde 1951, quando finalmente chegou às livrarias.
Poucos livros alteram a temperatura interna do leitor. “O apanhador no campo de centeio” faz isso sem estardalhaço: instala uma claridade áspera, um tipo de luz oblíqua que ilumina o que tentamos apagar e dá forma ao que ainda não sabíamos nomear. Essa capacidade de deslocar silenciosamente o eixo emocional de quem o lê explica por que o romance atravessa gerações sem empalidecer, mesmo na era das distrações fabricadas.
É um desses romances que atravessam as décadas como se ignorassem o tempo, como se soubessem que a humanidade, por mais sofisticada que se declare, continua tropeçando nas mesmas caixas de angústia.
Quando o romance veio ao mundo, carregava a marca de um autor que atravessara a Segunda Guerra, sobrevivera a cenas inenarráveis e testemunhara a implosão moral de uma geração.
J. D. Salinger, nascido em 1919, moldado entre o conforto burguês da Park Avenue e o silêncio devastado do pós-guerra, convivia com a tensão dos que viram demais — e, por isso, passaram a desconfiar de tudo. A vida de Salinger, cercada por mistério, parece extensão natural de sua obra. Estudou na rígida Valley Forge Military Academy, onde as primeiras sombras de Holden começaram a se insinuar.
Mais tarde, nas aulas de escrita criativa da Universidade de Columbia, encontrou o espaço para experimentar a oralidade que marcaria sua ficção. Mas foi na guerra que o romance fermentou — lenta e dolorosamente. Salinger viu a libertação de campos de concentração. Viu camaradas desaparecerem em neblina metálica. Viu feridas que não cabem em relatos. Nada disso ele pôs em discursos; tudo isso migrou para a sensibilidade rasgada do livro.
Em 1953, sufocado pela fama repentina, mudou-se para Cornish, New Hampshire. Reclusão. Silêncio. Rejeição absoluta a entrevistas e adaptações. Como se afirmasse: “a obra é o que importa — e só ela”.
Esse silêncio ecoou dentro de mim aos 19 anos, quando abri o romance pela primeira vez. Salinger sequestrou sentimentos que eu nem sabia nomear. A identificação com Holden Caulfield foi imediata: o olhar desconfiado, o incômodo com a falsidade cotidiana, a vontade de proteger o que ainda não sabe se defender.
Era como se alguém tivesse percebido como eu percebia o mundo — antes mesmo de eu encontrar palavras. Leitor de Victor Hugo, Galeano, Dumas e Flaubert, acostumado a catedrais narrativas, descobri com Salinger que a literatura também brota da geografia íntima dos sentidos.
Ali, cada pensamento é lâmina; cada gesto, confissão.
O romance inovou profundamente o século XX. Sua originalidade começa na forma como Holden ocupa a página — não como personagem, mas como presença. Sua voz chega áspera, errática, viva — aquela oralidade que soa espontânea, mas é trabalho fino de ourives. Nada ali parece decorado. É respiração transformada em frase.
A estrutura acompanha esse mesmo impulso. O livro rejeita o caminho reto; prefere o labirinto mental do adolescente que tenta sobreviver a si mesmo. A narrativa avança tateando: lampejos de lucidez, tropeços emocionais, mudanças bruscas de direção — tudo com a sensação de que qualquer cena pode ruir a qualquer momento.
E, no entanto, há precisão cruel nesse caos. Cada silêncio diz mais que muitos diálogos. Cada desvio revela outra camada do personagem. Holden não se explica: escapa.
E é nesse escape que o mundo adulto aparece como teatro gasto, ritual de aparências que perdeu sentido. Holden não formula isso como tese — sente como ferida.
E Salinger recusa qualquer moralismo. Não promete redenção: promete consciência. E a sustenta com frases que permanecem como cicatrizes. Algumas merecem ser respiradas com calma. Na tradução de Jório Dauster, publicada pela Companhia das Letras, lemos:
“Certas coisas deviam continuar como estão”.
É súplica, quase oração, para que a infância não seja maculada pela voracidade adulta. Em outra passagem, Holden admite:
“A gente começa a sentir saudade de tudo”.
E o lamento que atravessa gerações:
“Às vezes a vida é uma droga”.
Por fim, a frase que talvez seja a mais emblemática de sua solidão:
“Nunca conte nada a ninguém. Se a gente conta, começa a sentir saudade de todo mundo”.
Essas linhas não são apenas observações; são testemunhos. Radiografias morais do desalento moderno. Essa profundidade se torna ainda mais visível diante da hiperconectividade. Jovens de 20 a 25 anos foram jogados num oceano digital sem o preparo necessário para navegar em águas profundas.
Escolher exige maturidade — e maturidade é o que mais falta quando tudo chama, tudo grita, tudo disputa atenção. O livre-arbítrio, maior talento humano, depende da capacidade de prever consequências.
Mas o digital esconde as consequências. A escolha é livre; o resultado, não. É sedutor deslizar por feeds infinitos, cair em armadilhas invisíveis, confundir estímulo com pensamento. As plataformas foram construídas para viciar. A hiperestimulação fragmenta. O cérebro, bombardeado por alertas e distrações, aprende a saltar, não a permanecer.
E há dados — robustos — que confirmam o estrago cognitivo. Um estudo amplo da University of Valencia (2023) concluiu que a leitura em papel gera compreensão significativamente mais profunda.
A fixidez visual, o tato, o ritmo físico favorecem a memória e a reflexão. Outro estudo, publicado na base científica PMC (2019), mostra que estudantes retêm menos e interpretam pior em telas.
Textos literários longos perdem textura, profundidade, sombra. Resultado: mais leitura, menos compreensão; mais acesso, menos assimilação.
Imagine Holden Caulfield em 2025. Caminhando pelo metrô, fones enterrados, irritação estampada.
Diria que tudo aquilo é “falso pra burro”. Reclamaria dos “selos de curtida”, das fotos que fingem alegria, dos vídeos repetidos, das pessoas posando como vitrines de si mesmas. Apertaria o botão de desligar de repente, enjoado da “chatice” digital, desejando um campo aberto onde pudesse apenas ser — sem ter de performar.
“O apanhador no campo de centeio” permanece essencial porque devolve ao leitor o tato da experiência humana. Reivindica silêncio, lentidão, densidade — três bens que o mundo digital tenta apagar. A leitura do livro impresso lembra que compreender é permanecer.
Ler “O apanhador no campo de centeio” em papel não é um gesto de nostalgia. É recuperar a clareza que a pressa digital tenta nos tomar — página por página, sem anestesia, sem distrações.
E perceber, com desconforto necessário, que a profundidade continua sendo um território onde só o leitor inteiro consegue entrar.
30 de novembro de 2025
Nunca mais um país ajoelhado diante de quartéis
O 25 de novembro refunda o pacto democrático. Hierarquia militar não é salvo-conduto para violar eleições, intimidar instituições e afrontar o Estado de Direito


Há dias que reorganizam a memória coletiva — pelas luzes que acendem, pelos fantasmas que expulsam, pelas fronteiras que redesenham na consciência nacional.
O 25 de novembro de 2025 entra nesse registro raro. Não por revanche, não por espetáculo, não por catarse. Mas por algo mais simples, mais duradouro e mais difícil: pelo restabelecimento do óbvio. Pelo triunfo do que deveria ter sido inegociável desde sempre: a democracia como linha de chegada e ponto de partida, como pacto civilizatório e como limite impermeável à sanha destrutiva de quem tentou capturá-la.
Os golpistas, enfim, chegaram ao fim do caminho.
O Brasil, finalmente, chegou ao começo de outro.
A cena que diz tudo
Os meios de comunicação anunciaram, finalmente, aquilo que a História vinha ensaiando, mas não tinha coragem de afirmar em voz alta: Jair Bolsonaro começou a cumprir pena de 27 anos e três meses por golpe de Estado.
A frase seria improvável, se não fosse verdadeira. Seria ficção, se não fosse documento. Seria exagero, se não fosse sentença transitada em julgado. Game over. Fim do jogo.
A notícia correu o mundo e veio acompanhada de outra, inédita na República brasileira: militares de alta patente presos por atentado à democracia. Não eram personagens menores. Eram almirantes, generais, um ex-chefe da Defesa, um ex-chefe do GSI, o ex-comandante da Marinha, um ex-ministro da Justiça. O coração do Estado, usado como arma contra o próprio Estado.
Agora, desarmado.
Alexandre de Moraes — alvo preferencial de quem confundiu bravata com coragem — assinou o despacho que a História cobrava. E o fez com 29 páginas de fundamentos, provas, citações jurisprudenciais, recapitulação processual e uma frase que encerra uma era: “Inexistem recursos cabíveis.”
Para um país traumatizado por golpes reais, tentativas veladas e ensaios frustrados de quartel, essa sentença é quase literária: o ponto final de um capítulo muito mal escrito por mentes e mãos irresponsáveis.
Mas não havia metáfora nessa tarde de 25 de novembro. Havia documentos. Havia certidões. Havia mandados. Havia escoltas. Havia algemas invisíveis de legalidade que finalmente se fecharam.
Lamento que meu pai — o bom agrônomo, historiador e advogado Adonias Bezerra de Araújo — não tenha vivido até esta data para testemunhar o desfecho vergonhoso que nossa história impôs a si mesma. Nasci no Rio Grande do Norte e passei os primeiros seis anos de vida nos cafundós do Judas, no interior paranaense. Minha família não fugiu do calor ou do cansaço; fugiu da ditadura militar de 1964, que empurrou vidas inteiras para longe das suas raízes.
Fui uma planta agreste transplantada para um terreno de geadas severas, e naquele frio aprendi que o arbítrio tem cheiro, peso e cicatriz.
Conheço na pele o que um Estado ditatorial pode fazer quando se julga acima da lei, quando confunde poder com punição, quando trata famílias como números descartáveis.
Ainda assim, naquele desterro gelado, aprendi com meus pais que não havia espaço para ressentimento nem ódio. O que havia, e permanece até hoje, era a obrigação de lutar por direitos humanos, dignidade e proteção das minorias — sempre pelo caminho do pacifismo, sempre acreditando que justiça não é vingança, mas reparação moral do que fomos obrigados a viver. Talvez por isso seja, desde sempre, apartidário. Quero sempre a liberdade de poder pensar por mim mesmo.
A solidão de um líder derrotado pelos próprios atos
Bolsonaro recebeu o oficial de justiça às 16h40. Assinou. Calado. O homem que outrora vociferava contra urnas, ministros, jornalistas, mulheres, governadores, vacinas e fatos — agora falava apenas quando autorizado. Seus filhos o visitaram, um por vez, como quem visita um parente que insistiu em acreditar que a democracia era um obstáculo, e não um teto protetor.
A esposa, Michelle, pediu para visitá-lo no dia seguinte. E, sem grande alarde, a vida seguiu seu percurso burocrático: atos publicados, decisões notificadas, custódias agendadas. O Brasil não parou como queriam alguns tresloucados. É assim que democracias respondem a quem tentou destruí-las: com papéis, não com porretes; com audiências, não com ameaças; com ritos, não com armas.
Bolsonaro está inelegível até 2060.
Até lá, o país terá mudado, a geração que hoje vota estará se aposentando, e seus netos talvez estudem em aulas de História aquilo que ele próprio não conseguiu ler enquanto escreveu — na prática — o infame manual do golpismo fracassado.
Os generais, enfim, diante da lei
Augusto Heleno, general do Exército, que tratava a Constituição com a intimidade de um bedel de quartel, agora presta exames de corpo de delito.
Paulo Sérgio Nogueira, general do Exército, que deveria proteger a hierarquia e a disciplina, foi levado para uma sala separada em um prédio militar, sob custódia.
Almir Garnier, almirante, que à frente da Marinha viu o país dividido e escolheu a pior margem do rio, agora cumpre pena em uma estação de rádio da Marinha.
Braga Netto, general do Exército, o homem que tentou transformar poder em blindagem, dorme em uma cela especial na Vila Militar, no Rio de Janeiro.
Todos os que deveriam ser o freio foram justamente o acelerador de uma aventura que desrespeitou a liturgia, a memória institucional e a inteligência nacional.
Não foram presos por divergirem de decisões políticas. Foram presos porque participaram de uma trama criminosa para derrubar um resultado eleitoral. Não se trata de opinião. Trata-se de sentença.
E ela não foi escrita em um canto escuro.
Foi lavrada pela mais alta corte do país, depois de dois anos de provas, testemunhas, delações, contraprovas, perícias, votos, audiências e contraditório pleno. Desde 18 de dezembro de 2023 até aquele fim de tarde de 2025, tudo foi registrado, examinado, impugnado e decidido — como manda uma democracia que pode até apanhar muito, mas não cai.
O foragido, a delação e o país diante do espelho
Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal, agora deputado sem mandato, escolheu Miami como refúgio e fantasia como argumento. Não voltará tão cedo. A Justiça brasileira pede sua prisão. Os EUA assistem, diplomáticos, ao ex-policial federal transformar fuga em currículo.
Mauro Cid, coronel do Exército, que tentou proteger o chefe com a submissão de um escudeiro medieval, acaba perambulando entre o regime aberto e a lembrança de um país que ele ajudou a quase incendiar. Sua delação premiada faz parte das provas que derrubaram a farsa. As noites de sexta-feira em que Cid não pode sair de casa talvez sejam a metáfora perfeita: pequenas prisões para quem ajudou a construir grandes ameaças. Entrou para o Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (Provita).
A Justiça foi lenta? Foi rápida? Foi dura? Foi branda?
A pergunta importa menos do que outra: foi justa?
E a resposta, ao contrário do que esperam os que insistem em ver perseguição onde há apenas consequência, é simples: Sim, foi.
Porque ninguém está acima da lei.
Porque generais respondem por seus atos — não pelos seus uniformes, suas fardas, suas medalhas militares.
Porque ex-presidentes cumprem sentença — não cumprem rituais de imunidade.
Porque as instituições foram testadas e preferiram o caminho mais difícil: o da legalidade.
José Múcio, ministro da Defesa, resumiu o momento com uma frase que deveria ser moldura de parede institucional: “Os CPFs estão sendo responsabilizados e as instituições preservadas.”
É exatamente isso que diferencia democracia de vendetta: a regra aplicada ao indivíduo, não à corporação.
O país que tentou ser sequestrado
A tentativa de golpe não foi um delírio coletivo. Foi uma organização criminosa com metas, hierarquia, tarefas, estratégia e execução. Não começou com atos descoordenados. Começou no Alvorada, nos discursos inflamados, na desinformação metódica, nas reuniões com embaixadores, nas lives paranoicas, nos militares que confundiram disciplina com devoção pessoal, e nos advogados que trocaram o Direito pelo delírio jurídico, que confundem o príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry.
O Brasil esteve perto do abismo — não por acaso, mas por planejamento minucioso, ardiloso e mal-ajambrado.
O que se encerra agora é o processo judicial.
O que ainda precisa começar é o processo civilizatório de compreender como chegamos tão perto do pior.
Os que se indignam porque a lei se cumpriu
Flávio Bolsonaro, senador, como era previsível, pediu prisão domiciliar para o pai. Não pediu isso quando seu pai ameaçava ministros. Não pediu isso quando seu pai inflamava quartéis. Não pediu isso quando seu pai queria usar as Forças Armadas como muleta política. E não pediu isso quando seu pai dizia que direitos humanos são coisa para vagabundos.
Pede agora, quando a lei encontrou o escorregadio destinatário.
A democracia não funciona como herança familiar.
Funciona como espelho: reflete apenas os atos. Arthur Schopenhauer advertia que a liberdade termina no instante da escolha; dali em diante, somos cativos das consequências que ela produz.
E não deu outra.
O Brasil que emerge do outro lado
A execução da pena não é vitória de um lado sobre o outro. Não é triunfo da esquerda, nem desforra da mídia, nem revanche de ministros do Supremo. É, sobretudo, a vitória da legalidade sobre a ilegalidade. É uma lição dolorosa, mas necessária: quem atenta contra a democracia acaba no banco dos réus — e permanece ali até que a Constituição dê a última palavra.
O Brasil não está dividido entre quem gosta ou não gosta de Bolsonaro. Chega de falsos maniqueísmos. Somos capazes de elaborar a história de forma coesa, coerente e fluida.
Está dividido entre quem entende e quem não entende que não existe projeto político possível fora do Estado de Direito.
E quem não entende talvez precise estudar o dia 25 de novembro de 2025 como se estuda um terremoto: não para temer o próximo, mas para se precaver dele.
O que realmente termina hoje
Termina o processo.
Termina a ilusão de impunidade dos que acreditavam que patente é salvo-conduto.
Termina a fábula dos que vendiam patriotismo enquanto negociavam a democracia no mercado negro das instituições.
Termina o ciclo dos que achavam que a História lhes devia permanência.
Termina o país infantilizado pelo discurso da força.
Termina — enfim — a época da irresponsabilidade.
E começa, com todas as dores, custos e traumas, a única página que interessa: a da reconstrução da confiança.
A democracia não venceu porque é forte.
Ela venceu porque é insistente.
Ela venceu porque, mesmo ferida, escolheu sobreviver.
E, no fim das contas, é isso que separa o Brasil que cai do Brasil que levanta: a capacidade de reconhecer que a lei não é uma ameaça — é o que restou de civilizado entre nós.
https://www.brasil247.com/blog/nunca-mais-um-pais-ajoelhado-diante-de-quarteis
26 de novembro de 2025
A busca por uma regra única: da Teoria Unificada à Teoria de Tudo
A Teoria de Tudo desafia a ciência a unir o infinitamente pequeno ao imensuravelmente grande — e provar que o universo inteiro obedece a uma única lei racional.
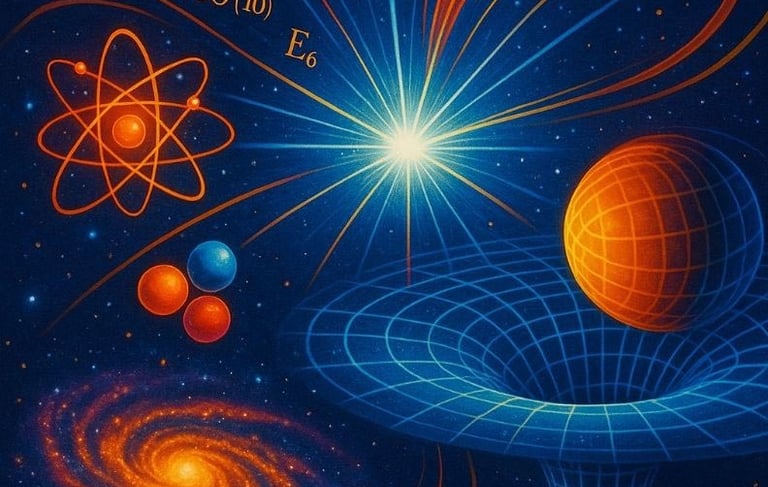
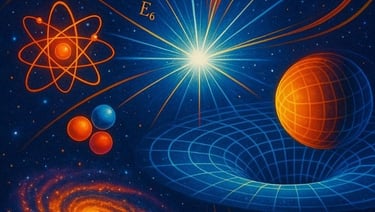
Desde que o primeiro ser humano levantou os olhos para o céu e se perguntou de onde vinha o relâmpago, o fogo ou o brilho das estrelas, a ciência vem perseguindo uma ideia grandiosa: que tudo o que existe talvez obedeça a uma única regra. Essa ambição, que une fé e razão num mesmo impulso, ganhou nomes técnicos — Teoria da Grande Unificação (GUT) e Teoria de Tudo (ToE) — mas carrega o mesmo sonho ancestral: compreender o universo inteiro como um poema com um só verso.
A Teoria da Grande Unificação tenta reunir três das quatro forças fundamentais da natureza: a força eletromagnética, que faz a luz, os ímãs e a eletricidade funcionarem; a força fraca, responsável por certas formas de radioatividade; e a força forte, que mantém unidas as partículas dentro do núcleo atômico. Cientistas acreditam que, nos instantes logo após o Big Bang, essas forças eram uma só. À medida que o universo esfriou e se expandiu, essa unidade se quebrou, e o cosmos passou a operar com forças distintas — como uma música que se desdobra em diferentes instrumentos.
Para explicar essa harmonia original, físicos criaram modelos matemáticos de nomes quase místicos — SU(5), SO(10), E₆ — que sugerem a existência de partículas ainda invisíveis e até a possibilidade de que o próton, tido como estável, possa um dia se desintegrar. Nenhum experimento confirmou isso, mas a hipótese segue viva, pois aponta um caminho para algo ainda maior: a Teoria de Tudo.
A ToE tenta incluir a quarta força, a gravidade — aquela que dá forma aos planetas e curva o espaço-tempo — no mesmo quadro das demais. O problema é que ela age em escalas cósmicas, enquanto as outras atuam no reino minúsculo das partículas subatômicas.
Hoje, a física vive com duas verdades paralelas: a Relatividade Geral de Einstein para o macrocosmo e a Mecânica Quântica para o microcosmo. Ambas funcionam perfeitamente, mas não se encaixam entre si. A ToE quer ser a ponte que falta entre esses dois mundos.
Entre as tentativas de cruzar esse abismo, a mais conhecida é a Teoria das Cordas, segundo a qual tudo o que existe — do elétron ao quasar — seria feito de minúsculas cordas vibrantes. Cada vibração gera um tipo de partícula. Uma versão mais ousada, a M-Teoria, imagina que essas cordas pertençam a estruturas maiores chamadas “branas”, talvez existentes em 11 dimensões.
Outras propostas, como a Gravidade Quântica em Laços, veem o próprio espaço e tempo como uma rede de fios microscópicos que tecem a realidade.
Essas teorias ainda são tentativas, mas carregam algo profundamente humano: o desejo de encontrar sentido, unidade e beleza no caos aparente.
Buscar a Teoria de Tudo é buscar o espelho do universo — e nele ver a curiosidade infinita de quem ousa perguntar por que existe.
24 de novembro de 2025
Revolução silenciosa das universidades chinesas humilha velha elite ocidental
Rankings globais revelam a decadência ocidental: universidades antes intocáveis assistem ao avanço chinês, que já ocupa oito das dez primeiras posições.


As universidades chinesas acabam de aplicar um golpe silencioso — porém irreversível — no imaginário acadêmico do Ocidente. O ranking Leiden 2024, referência mundial em métricas científicas, trouxe à luz uma realidade que há anos se consolidava nos gráficos, nas curvas de evolução, nos relatórios especializados: entre as dez instituições que mais publicaram pesquisas de impacto entre 2019 e 2022, oito são chinesas. Trata-se de um deslocamento estrutural, não de uma anomalia estatística. O epicentro da produção científica já não está em Boston, Stanford ou Cambridge: está em Hangzhou, Xangai, Wuhan, Guangzhou. Harvard continua como farol histórico; Toronto surge como exceção norte-americana resistente. O restante do Ocidente observa, perplexo, a mudança do eixo do conhecimento enquanto ainda repete diagnósticos formulados no século passado.
Esse ranking não é um episódio isolado: é sintoma de um movimento contínuo, sólido, planejado. Para compreender a magnitude do deslocamento, vale observar as dez universidades mais produtivas do mundo, acompanhadas de características que explicam seu lugar na vanguarda global:
1. Zhejiang University (37.457) – inovação disruptiva aliada a um ecossistema empresarial integrado ao campus, formando um dos ambientes científicos mais férteis do planeta.
2. Harvard University (36.654) – redes acadêmicas globais e forte financiamento privado que sustentam laboratórios de ponta e influência histórica.
3. Shanghai Jiao Tong University (35.373) – potência incontornável em engenharia avançada e geração de patentes industriais.
4. Sichuan University (29.536) – referência em medicina, farmacologia e pesquisa translacional de alta precisão.
5. Central South University (27.615) – liderança em metalurgia moderna e engenharia de materiais estratégicos.
6. Huazhong University of Science and Technology (27.549) – destaque em robótica, computação quântica e inovação aplicada.
7. Sun Yat-sen University (25.858) – excelência consolidada em biotecnologia, ciências da saúde e centros clínicos de referência.
8. University of Toronto (25.439) – prestígio em neurociência, políticas públicas baseadas em evidências e pesquisa interdisciplinar.
9. Xi’an Jiaotong University (24.574) – inovação em sistemas energéticos, engenharia mecânica e tecnologias de infraestrutura avançada.
10. Tsinghua University (24.574) – hub de IA e ciências exatas, conhecida como a “MIT do Oriente”, embora já ultrapasse equivalentes ocidentais em áreas estratégicas.
Essas posições não refletem acaso; refletem escolhas políticas deliberadas. A China tratou universidades como infraestrutura de soberania, não como adornos institucionais. Investiu em laboratórios, formação de quadros, pesquisa dura, atração de talentos globais e integração entre Estado, academia e mercado. Enquanto isso, parte do Ocidente dispersou energia em cortes orçamentários, disputas ideológicas internas e descolamento crescente entre conhecimento e desenvolvimento nacional. A China avançou com método, continuidade e ambição — e o resultado está exposto no ranking.
Esse movimento, inevitável para quem lê dados sem vieses, foi reconhecido por algumas das vozes mais lúcidas e influentes do próprio Ocidente. O Nobel de Economia Joseph Stiglitz afirmou que “a China se tornou uma das economias mais inovadoras do mundo” e que seu investimento em ciência, tecnologia e educação “está remodelando a fronteira global do conhecimento”. Stiglitz não fala por entusiasmo, mas por observação histórica: identifica que a China não adota inovação como palavra de efeito, e sim como estratégia de longo prazo.
No mundo da tecnologia, Eric Schmidt, ex-CEO do Google e autoridade global em IA, reforçou o alerta ao afirmar que “a China está prestes a ultrapassar os Estados Unidos em inteligência artificial” e que possui “mais engenheiros, mais dados e mais ambição política” para dominar a área. Schmidt lê o avanço chinês não como acidente, mas como consequência de recursos estruturais que os EUA já não monopolizam.
Até no núcleo do establishment diplomático a percepção mudou. O falecido Henry Kissinger, em uma de suas últimas entrevistas, afirmou que “a China alcançou um nível de desenvolvimento tecnológico que poucos no Ocidente previram” e que sua capacidade de inovação “deve ser levada extremamente a sério”. Vindo de Kissinger — arquiteto da reaproximação sino-americana e crítico obsessivo de improvisações estratégicas — a frase soa como um obituário da antiga crença no predomínio incontornável do Ocidente.
Na Europa, a análise converge. Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, declarou que “a China tornou-se líder global em inovação tecnológica e científica” e que seu modelo de investimento em pesquisa “é hoje um dos mais eficazes do mundo”. Para Schwab, o avanço chinês não é episódio isolado: é realinhamento estrutural da economia do conhecimento.
Essas quatro declarações, vindas de polos distintos de autoridade intelectual, ajudam a contextualizar o que o ranking Leiden revela: não se trata apenas de mudança quantitativa, mas de mudança de estrutura mental. E é nesse ponto que uma transição lógica se impõe: para entender o presente, é preciso desmontar os três preconceitos centrais que moldaram a forma como o Ocidente interpretou — e distorceu — o avanço científico da China ao longo das últimas décadas.
Durante muito tempo, esses preconceitos funcionaram como muletas psicológicas, dispositivos de defesa cognitiva, artifícios narrativos para manter viva a ilusão da superioridade permanente. Eles permitiam ao Ocidente olhar para a China sem realmente vê-la. Hoje, a realidade demoliu essas muletas.
O primeiro preconceito, o mais antigo e infantil, dizia que “a China copia”. Era um mantra confortável, quase terapêutico: se copia, não ameaça; se imita, não cria. Mas a verdade empírica revela outra coisa. Relatórios da Clarivate e da Nature mostram que a produção científica chinesa cresceu em velocidade até cinco vezes superior à dos EUA. A ONU registrou que a China produziu, entre 2014 e 2023, 38 mil patentes em IA generativa, contra 6.276 dos EUA. Quem copia não lidera revoluções tecnológicas — quem copia não registra patentes que moldam o século XXI.
O segundo preconceito, mais sofisticado, afirmava que “produzem muito, mas sem qualidade”. Tentava transformar quantidade em argumento de desvalorização. Mas os dados destroem essa narrativa. A China ultrapassou os EUA em artigos citáveis, lidera publicações altamente citadas e domina áreas de fronteira como energia renovável, nanotecnologia, supercondutividade e engenharia biomédica. Qualidade científica não é opinião: é impacto mensurável — e o impacto chinês é incontornável.
O terceiro preconceito, impregnado de arrogância cultural, dizia que “falta originalidade”. Esse mito prosperou porque servia de conforto ideológico. Mas estudos publicados na ScienceDirect mostram que a China apresenta crescimento acelerado em artigos classificados como novidade conceitual. O relatório da ONU sobre IA generativa revela que 85% dos avanços disruptivos da última década têm participação direta ou indireta de pesquisadores chineses. O Ocidente dizia que a China “fabricava”. A China fabricou o futuro. O Ocidente dizia que a China “não concebia”. A China concebeu novos paradigmas de IA, química avançada e computação quântica. O Ocidente dizia que a China “jamais lideraria”. A China lidera — sem pedir autorização.
O mais irônico é que todo esse avanço ocorreu sem fanfarra. Enquanto o Ocidente aperfeiçoava narrativas, a China aperfeiçoava laboratórios. Enquanto se discutiam identidades, eles discutiam semiconductores. Enquanto se evocava nostalgia, eles evocavam futuro. Não houve autopromoção, teatro ou messianismo — houve método.
O ranking Leiden 2024 não é apenas uma fotografia estatística: é o retrato de uma mudança de época. É a certidão de óbito das velhas certezas do Ocidente e o testemunho da ascensão de uma nova geopolítica do conhecimento — mais plural, mais assimétrica, mais surpreendente para quem acreditou que a história havia se aposentado.
E, como sempre, resta a frase que resume com precisão o que está diante de nós: nada vem por acaso. A China colhe exatamente aquilo que decidiu plantar. O Ocidente tenta, agora, correr atrás da própria sombra — com atraso, com espanto e com a sensação súbita de que o século XXI começou sem consultá-lo.
20 de novembro de 2025
Como o Brasil sabotou seu único Nobel
A inveja científica e o preconceito social fizeram o Comitê do Nobel recuar. Cem anos depois, a ferida continua aberta — e a lição, ignorada.


Carlos Chagas é, talvez, o maior símbolo da ciência brasileira e o retrato mais nítido de como o Brasil trata seus gênios: com indiferença, suspeita e inveja. Em 1921, seu nome chegou sozinho à mesa do Comitê do Prêmio Nobel de Medicina. Nenhum outro concorrente. Nenhum outro cientista do planeta havia feito tanto: descobrir e descrever sozinho uma doença completa — do parasita ao sintoma humano.
Tudo começou em 1907, quando o jovem médico mineiro foi enviado a Lassance, interior de Minas Gerais, para combater um surto de malária. Mas, ao observar as casas de pau-a-pique e os rostos picados por insetos noturnos, percebeu que algo mais grave se escondia. Recolheu os barbeiros, examinou-os, deixou que picassem saguis, identificou no sangue dos animais o Trypanosoma cruzi — nome dado em homenagem a seu mestre, Oswaldo Cruz.
Em 14 de abril de 1909, ao examinar o sangue de uma menina de dois anos chamada Berenice, encontrou o mesmo parasita. Nascia ali, completa, a Doença de Chagas — o único caso na história da medicina em que um único pesquisador identificou o agente causador, o vetor, o ciclo silvestre e as manifestações clínicas de uma nova enfermidade.
Chagas continuou a investigar: descreveu as formas cardíacas e digestivas, a insuficiência crônica, os aneurismas apicais, os megacólons, os megaesôfagos. Criou, em Lassance, o primeiro laboratório de campo do país. Fez ciência em meio à poeira e à pobreza — e, por isso mesmo, foi punido. A elite médica carioca, incomodada com o “sanitarista do interior”, iniciou uma campanha de difamação: diziam que a doença não existia, que era mistura de outras patologias. Quando o Comitê do Nobel recebeu as cartas anônimas e os artigos venenosos vindos do próprio Brasil, preferiu a omissão: em 1921, não concedeu o prêmio a ninguém.
Chagas morreu em 1934 sem jamais receber o reconhecimento devido. Mas o escândalo não foi só dele — foi de todos nós. O país que gera gênios parece incapaz de suportá-los. O mesmo destino acompanhou Machado de Assis, que revolucionou a literatura universal com a ironia silenciosa de Dom Casmurro, e Carlos Drummond de Andrade, cuja poesia elevou o cotidiano à grandeza da eternidade. Nenhum deles foi sequer lembrado por Estocolmo.
A lista de omissões é longa e vergonhosa. O Nobel se empobreceu ao ignorar a língua portuguesa, ao deixar de reconhecer vozes que moldaram o imaginário humano fora do eixo Europa–EUA. E quando, décadas depois, premiou Bob Dylan — merecidamente — por transformar poesia em música, o gesto não apagou a falta: Chico Buarque de Holanda, escritor, romancista, compositor e poeta, há mais de 60 anos mostra que a palavra pode ser resistência e beleza ao mesmo tempo. A ausência de Chico no Nobel é a confissão de que o prêmio, por vezes, ouve mal o que vem do sul do mundo.
O talento, afinal, não precisa de chancela estrangeira para ser legítimo. O que falta ao Brasil não é um prêmio, é coragem para celebrar seus próprios gênios enquanto ainda respiram. A medalha ausente talvez não esteja em Estocolmo, mas em nossa incapacidade de reconhecer grandeza antes que o mundo o faça — e em nosso velho vício de destruir o que deveríamos proteger.
Reconhecer Carlos Chagas é reconhecer que o Brasil tem cérebro, alma e destino. Que a genialidade não nasce nas cátedras nem nos salões, mas na curiosidade e na obstinação.
Que o Nobel, ao nos ignorar, perdeu mais do que nós, e fato. A Fundação Novel perdeu a chance de provar que o conhecimento não tem fronteira nem idioma, e que a ciência, quando é grande, fala a língua universal da dignidade.
https://revistaforum.com.br/opiniao/2025/11/17/como-brasil-sabotou-seu-unico-nobel-192249.html
16 de novembro de 2025
Quando o Alzheimer vira manchete, a verdade precisa ser maior que o exagero
A confusão entre resultados pré-clínicos e terapias inexistentes alimenta falsas esperanças
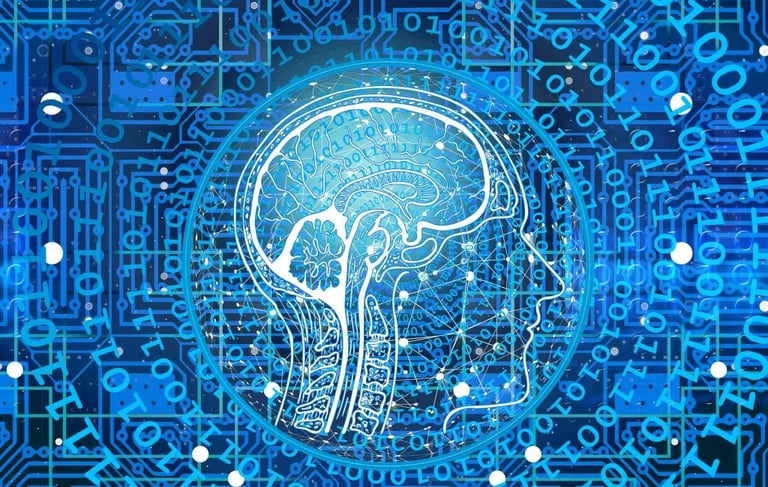
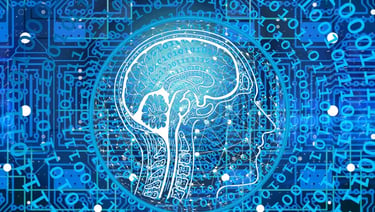
“Nanorrobôs suíços revertem o Alzheimer e restauram memórias em semanas.” A frase se espalhou como se tivesse sido escrita para consolar o mundo. Mas nenhuma sociedade pode se permitir acreditar sem examinar. Promessas tecnológicas, quando não conferidas, produzem ilusões caras, expectativas frágeis e um tipo perigoso de esperança mal ancorada.
A análise começa com um fato simples: não há ensaio clínico humano comprovando reversão do Alzheimer com nanorrobôs. A notícia exagerou o alcance atual das pesquisas suíças e confundiu público e famílias vulneráveis.
A ETH Zurich realmente mantém programas sofisticados de microrrobôs biomédicos. Pesquisadores como Simone Schürle-Finke e Bradley J. Nelson lideram estudos sobre navegação magnética e entrega de medicamentos. São investigações sérias, relevantes, mas restritas a modelos vasculares artificiais e testes em animais de grande porte, não em pacientes humanos.
Nenhuma dessas pesquisas suíças demonstrou reverter Alzheimer ou restaurar memória humana. A ausência de ensaios clínicos, relatórios científicos ou dados revisados indica que a manchete extrapolou muito além do aceitável. A comunidade científica é clara: até agora, nenhum robô microscópico devolveu lembranças perdidas, e qualquer afirmação nesse sentido carece de fundamento.
O avanço real veio de Barcelona e Chengdu. Em outubro de 2025, o IBEC e o West China Hospital Sichuan University publicaram estudo com resultados sólidos sobre nanopartículas aplicadas a camundongos com Alzheimer.
Essas nanopartículas supramoleculares reduziram entre 50% e 60% da proteína beta-amiloide em apenas uma hora. O estudo foi rigoroso, revisado e produzido por laboratórios experientes. Embora limitado a animais, abriu uma via promissora na compreensão de mecanismos vasculares associados ao desenvolvimento da doença.
Os autores, entre eles o bioengenheiro Giuseppe Battaglia, destacaram que o alvo principal foi a restauração da integridade da barreira hematoencefálica. Quando essa barreira falha, o cérebro perde a capacidade de eliminar resíduos tóxicos. Ao recuperá-la, parte do sistema natural de limpeza cerebral volta a funcionar de maneira mais eficiente.
Nos testes, houve melhorias comportamentais moderadas nos camundongos. Nada próximo de recuperação total de memória, muito menos de lembranças remotas. Ainda assim, foi o experimento mais significativo do ano.
Mesmo com esses avanços, o salto entre roedores e seres humanos continua enorme. A replicação em primatas, seguida de fases clínicas sucessivas, constitui um percurso longo. Segurança, toxicidade, distribuição intracerebral e estabilidade das partículas precisam ser avaliadas antes de qualquer aplicação clínica.
A “Technology Roadmap of Micro/Nanorobots”, publicada em 2025, descreve mais de vinte obstáculos antes que esses dispositivos possam ser usados em hospitais. Propulsão estável, controle direcional, biocompatibilidade, degradação segura, ausência de reações imunológicas e produção em escala industrial permanecem desafios fundamentais para transformar protótipos avançados em terapias disponíveis.
A Organização Mundial da Saúde estima cinquenta e cinco milhões de pessoas vivendo com demência. A pressão por soluções rápidas é imensa, mas não pode distorcer o estágio das evidências disponíveis hoje.
Manchetes apressadas, ao insinuarem que um tratamento está pronto quando ainda está em fase pré-clínica, criam terreno fértil para equívocos, golpes, terapias não reguladas e frustração. A comunicação científica exige precisão, especialmente quando trata de doenças devastadoras como o Alzheimer.
A nanotecnologia pode, no futuro, transformar profundamente a forma como tratamos doenças neurodegenerativas. Reverter falhas vasculares, reduzir depósitos proteicos e estimular regeneração estrutural são caminhos reais, investigados com rigor. Mas nenhum deles chegou ao ponto de restaurar memórias humanas perdidas, e qualquer afirmação contrária não respeita o estado atual da ciência.
A nanotecnologia talvez inaugure uma era em que o Alzheimer deixe de apagar vidas inteiras. Mas esse dia ainda pertence ao futuro. Até lá, ciência e jornalismo precisam caminhar juntos: rigor na pesquisa, clareza na informação e absoluto respeito pela fragilidade das famílias que buscam respostas verdadeiras, não ilusões confortáveis.
16 de novembro de 2025
Asas do Desejo' mostra que a eternidade se dobra quando o amor toca o chão - Por Washington Araújo
Entre Berlim e Teotihuacan, Wim Wenders em 1987 filmou o invisível e deu rosto ao mistério humano. Em O Despertar dos Anjos, publicado em 2001, reencontrei essa mesma fronteira: o instante em que a alma desce à terra para aprender a sentir, amar e existir


Há filmes que não passam diante de nós — nós é que passamos por eles. Alguns, como Asas do Desejo (1987), de Wim Wenders, não se limitam a contar uma história; eles nos escutam, nos traduzem, nos medem em silêncio. Há obras que parecem filmar a alma, e Wenders o faz com a precisão de quem sabe que a existência é feita de intervalos, de vazios que respiram entre um gesto e outro. Cada cena é uma pergunta disfarçada: o que é estar vivo, afinal?
Berlim, cidade dividida por muros visíveis e invisíveis, torna-se metáfora do próprio ser humano — metade carne, metade anseio. Nela, anjos caminham entre os vivos, escutando pensamentos, desejos e pequenas ruínas cotidianas. Damiel, o anjo interpretado por Bruno Ganz, observa, mas não participa; conhece o sentido, mas ignora o sabor. Até que o amor o convoca a descer — e ele aceita. Renuncia à eternidade para aprender a fragilidade. A partir desse salto, o preto e branco cede lugar às cores, como se o mundo tivesse finalmente aprendido a respirar.
A câmera de Wenders não narra, revela. Ela acompanha Damiel entre bibliotecas, circos e ruas esfareladas pela história, e transforma o olhar em oração. A filosofia nasce da imagem, e não do discurso. Viver, ali, é um ato de fé — fé na matéria, na queda, no instante.
Foi sobre essa mesma fronteira entre o invisível e o humano que escrevi, anos depois, O Despertar dos Anjos, publicado em 2001 pela Editora LetraViva e traduzido para outras línguas. Mas o início dessa travessia veio muito antes: setembro de 1994, quando percorri Nova Délhi, Jerusalém, Berlim e o Cairo, em busca de algo que não tinha nome — talvez o rumor do sagrado nas cidades dos homens. Cada uma dessas cidades me revelou um modo distinto de compreender o silêncio: o silêncio do deserto, o silêncio das cúpulas, o silêncio dos escombros.
Essa jornada me levou, enfim, ao México. Em Teotihuacan, subi os degraus da Pirâmide da Lua, que se eleva a 43 metros e guarda cerca de 248 degraus até o topo. Lá de cima, o horizonte parecia pulsar em câmera lenta — o ar rarefeito misturado ao cheiro de pedra antiga. A cidade, que os astecas chamaram de cidade dos deuses, é uma ruína viva, uma lembrança de que o homem constrói para entender o que jamais alcançará. Ali compreendi que a ascensão espiritual começa pela descida: quanto mais perto do chão, mais nítido o invisível.
Rever Asas do Desejo é redescobrir que o cinema, quando atinge sua plenitude, não é arte — é estado de consciência.
Quatro diálogos me acompanham desde então, como marcas de fogo.
“Quando a criança era criança, queria que o rio fosse rio e o mar fosse mar.” — É a lembrança da pureza anterior à linguagem, quando o mundo ainda era mundo, e não interpretação.
“É maravilhoso, viver como homem.” — Uma confissão sem pompa, onde a vida não é glória, mas espanto: existir é um privilégio que dói.
“Agora sei o que nenhum anjo sabe.” — Saber é sofrer, e só quem sofre entende o milagre do instante.
“Estamos juntos, aqui e agora.” — A frase mais simples do filme é também a mais revolucionária: o amor acontece no tempo, e o tempo é tudo o que temos.
Asas do Desejo é mais que cinema — é a meditação de um homem que aprendeu a olhar o invisível.
E lembro algo que li há muito tempo, numa madrugada de chuva:
as estrelas são as lágrimas dos anjos, a chorar por não terem o corpo e a vida — e por nunca saberem o que é amar. E é isso.
15 de novembro de 2025
Quem escuta o mar ouve a voz de Alfonsina
Ela se dissolveu nas águas, mas deixou versos como bússolas. Cada onda repete seu nome, lembrando-nos que a poesia é o único modo de permanecer.


Há poetas que escrevem com a tinta do tempo, outros com a tinta do sangue. Alfonsina Storni escreveu com ambas.
Na Buenos Aires do início do século XX, uma cidade de espelhos e interdições, ela ousou dizer o que o mundo proibia às mulheres: que o corpo é pensamento, que o desejo é um idioma da alma e que a liberdade pode custar a própria vida. Em cada poema, Alfonsina expôs a carne e o espírito, como quem abre uma janela para o infinito e, por um instante, respira o impossível.
Sua poesia nasce de um lugar onde ternura e revolta coexistem. Há nela a doçura da esperança e a aspereza da lucidez. Quando escreveu “Tu me queres alva, me queres de espuma, me queres de madrepérola”, não era uma confissão — era um protesto. O homem a queria pura como a manhã, mas ela ardia por dentro como o meio-dia. Décadas mais tarde, a canção Alfonsina e o mar, composta por Ariel Ramírez e Félix Luna, transformaria esse mesmo branco em ausência: “Pela areia suave que o mar lambeu, suas pequenas pegadas não voltam mais.” O que antes era imposição — a pureza — torna-se libertação. A brancura agora é o esquecimento necessário de um mundo que a quis imóvel.
Em outro poema, Alfonsina suplica: “Dá-me teu sal, teu iodo, tua fúria, ar do mar!... e morro, mar, sucumbo em minha pobreza.” É o grito de quem pressente o mergulho. A canção parece responder-lhe, com compaixão: “Sabe Deus que angústia te acompanhou, que dores antigas calou tua voz.” Há, entre o verso e a música, uma conversa que atravessa o tempo — o diálogo entre a mulher e o mito, entre a poeta e o mar que a esperava desde sempre.
Em Poemas de Amor, ela escreve: “Tenho sido aquela que desfilou orgulhosa o ouro falso de alguns versos e se julgou gloriosa.” É um sorriso melancólico, a ironia de quem sabe que a glória é pó. Na canção, esse orgulho se transforma em rendição: “Para te deitar, embalada no canto das conchas marinhas, a canção que o mar canta no fundo escuro do mar.” O ouro falso virou coral, e o som das conchas substituiu os aplausos. A poeta já não busca reconhecimento — apenas repouso.
Seus versos às vezes miram a cidade: “Ruas tristes, cinzentas e iguais, onde às vezes aparece um pedaço de céu.” A monotonia do concreto contrasta com o chamado líquido da eternidade. Na música, essa travessia se completa: “Um caminho só de pena e silêncio chegou até a água profunda.” O mesmo caminho que ela percorreu: do ruído urbano à paz marinha, da vida às profundezas.
No poema Alma Desnuda, ela revela: “Sou uma alma nua nestes versos, alma angustiada e só, que vai deixando suas pétalas dispersas.” A imagem é de uma mulher que se despede em fragmentos — pétalas, pegadas, ecos. E a canção, como um espelho, devolve-lhe: “Sua pequena marca não volta mais.” A poeta se dissolve, mas deixa perfume. E então, o verso que fecha a canção e rasga o silêncio: “Se telefonarem pra mim, diga que Alfonsina não está.” Não há lamento. Há serenidade. Alfonsina não foge da vida — apenas devolve o corpo ao mar.
Na madrugada de 25 de outubro de 1938, em Mar del Plata, ela se vestiu com calma, caminhou até o Atlântico e entrou nas águas frias. Não houve drama, apenas cansaço. Sofria de câncer de mama e de uma solidão mais profunda que a doença. Seu suicídio foi também um ato estético, uma afirmação de liberdade última: o direito de dissolver-se no elemento que sempre a habitou. Entrar no mar foi sua forma de continuar respirando — só que em outro ritmo.
Ao saber da notícia, Félix Luna escreveu a letra de Alfonsina e o mar, e Ariel Ramírez compôs a melodia. Mercedes Sosa a transformou em eternidade. Sua voz terrosa, feita de dor e ternura, parecia chamar Alfonsina pelo nome, como quem fala com uma irmã. Depois vieram outras vozes: o israelense Avishai Cohen, que a reinventou em tom de jazz e melancolia; a espanhola Ana Belén, que a dramatizou como quem encena um destino; e a italiana Mina Mazzini, que lhe emprestou a elegância do veludo e da saudade. Cada uma, ao cantar, levou consigo um punhado de areia argentina, uma lágrima salgada do mesmo mar.
Ouvir Alfonsina e o mar é entrar num território onde a dor se torna oração. Não há ali desespero, há compreensão: o reconhecimento de que tudo o que nasce deve, um dia, retornar. Alfonsina não buscou a morte; buscou a continuidade. E o mar, imenso e maternal, recebeu-a como quem acolhe uma filha.
Há quem morra para ser lembrado, e há quem morra para continuar cantando. Alfonsina pertence à segunda categoria. Sua voz, branca como a espuma e densa como o sal, continua a falar — não em pedra, nem em mármore, mas em mar.
https://revistaforum.com.br/opiniao/2025/11/14/quem-escuta-mar-ouve-voz-de-alfonsina-192080.html
14 de novembro de 2025
Macondo proibida
Cinquenta e oito anos depois, a aldeia criada por Gabo é banida da terra que mais fala em liberdade — e menos entende o que ela significa
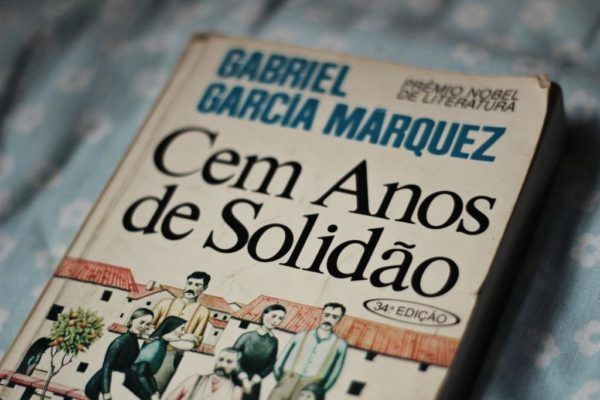
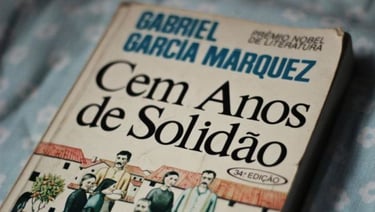
Há uma ironia sombria em ver Cem Anos de Solidão proibido nas escolas dos Estados Unidos. Uma nação que ergue monumentos à liberdade de expressão decide agora, em pleno século XXI, proteger seus jovens de Gabriel García Márquez — o escritor que transformou a dor humana em esplendor literário. Os EUA, que ensinaram o mundo a consumir sonhos enlatados, temem agora a fantasia que revela suas próprias feridas.
No ano letivo de 2024–2025, a organização PEN America registrou 6.870 casos de censura e proibição de livros em 23 estados e 87 distritos escolares norte-americanos. A Flórida lidera o ranking, seguida pelo Texas e Utah. Entre os quase 4 mil títulos afetados estão O Sol é para Todos, de Harper Lee, O Olho Mais Azul, de Toni Morrison, 1984, de George Orwell, Beloved, também de Morrison, e Maus, de Art Spiegelman. E agora, também Cem Anos de Solidão. A justificativa? “Conteúdo sexual e moralmente inadequado”.
Quando José Arcadio Buendía ouviu o cigano Melquíades dizer que “as coisas têm vida própria, é só despertar-lhes a alma”, ele estava descrevendo exatamente o poder da literatura. É o que o realismo mágico sempre fez: despertou almas. O que há de tão perigoso nisso? Talvez o perigo esteja em acordar consciências adormecidas — algo que certos governos e ideólogos preferem manter no mais profundo dos sonos.
Lembro-me vividamente de quando li Cem Anos de Solidão pela primeira vez, ainda adolescente, em uma tarde em que o mundo parecia caber dentro de um livro. Foi ali que descobri que escrever não era um passatempo, mas uma forma de existir. Gabo — como gosto de chamá-lo, e me permito essa intimidade porque ninguém lê cinco vezes uma obra sem criar uma relação de copa e cozinha com seu autor — me ensinou que a realidade podia ser reinventada pela linguagem, que havia beleza no absurdo e sabedoria na loucura…
A proibição de Cem Anos de Solidão — sob a alegação de “conteúdo sexual” — não revela prudência moral, mas repulsa ideológica. O que se teme não são as cenas de amor entre Amaranta Úrsula e Aureliano Babilônia, mas a revelação de que toda civilização, mesmo a mais puritana, carrega seu incesto simbólico: o de repetir, geração após geração, os mesmos erros que jurou corrigir. “O segredo de uma boa velhice é um pacto honesto com a solidão”, disse Úrsula, matriarca e metáfora de todo um continente. Os EUA, com sua moral de vitrine e seu pudor estratégico, preferem encobrir o espelho do que encarar a própria imagem. A censura, nesse caso, é menos uma defesa dos jovens e mais uma confissão pública de medo — medo de que a literatura revele o que a política insiste em negar.
Proibir Gabo é como apagar uma constelação do céu noturno na esperança de que a noite pareça menos densa. Os EUA censores, envoltos em slogans sobre “liberdade”, mostram sua deformação moral ao interditar o livro que ensinou a humanidade a nomear o indizível. Macondo é mais do que uma aldeia tropical: é uma metáfora de todas as nações que esqueceram o que prometeram ser. “O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las era preciso apontar com o dedo.” Que ironia: agora, o …
Na saga dos Buendía, Gabo denunciou a ganância estrangeira por meio da multinacional bananeira que explora, massacra e abandona o povo de Macondo. Essa crítica continua viva e atual: troque a companhia bananeira de então por uma petrolífera robusta como a PDVSA venezuelana ou nossa exuberante Petrobras, ou ainda por uma tradicional conglomerada como a Juan Valdez — marca criada pela Federação Nacional de Cafeicultores da Colômbia (FNC) — e o cenário permanece o mesmo: o lucro estrangeiro sobre a terra la…
Há em Cem Anos de Solidão uma denúncia contra o esquecimento, a arrogância e a desmemória histórica. Quando Aureliano Segundo diz que “as estirpes condenadas a cem anos de solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a terra”, ele não falava apenas de Macondo — falava de todos nós, de qualquer povo que troca o pensamento pela conveniência. As proibições literárias não protegem crianças; protegem a ignorância adulta. São muros erguidos contra a imaginação, a mais subversiva das formas de liberdade.
A literatura latino-americana sempre incomodou porque não pede licença: ela mistura o sagrado e o profano, o mito e a política, o sexo e a solidão. Ao tentar silenciá-la, os censores revelam o que mais os assusta — não o erotismo das palavras, mas o erotismo do pensamento. “Acho que vou enlouquecer de tanto lembrar”, confessa Remédios, e talvez seja isso o que o império não suporta: lembrar. Lembrar de sua própria solidão, de suas guerras inúteis, de seus amores de conveniência e de sua fé em deuses que …
Enquanto houver livros como Cem Anos de Solidão, haverá resistência. Porque cada leitor que atravessa Macondo entende que o realismo mágico não é um gênero literário — é um modo de sobreviver à loucura do mundo. Se os EUA insistem em apagar Gabo, é porque pressentem que suas palavras são mais duradouras que seus impérios — e que toda censura é, no fundo, cem punhaladas no corpo e na alma da liberdade.
https://sul21.com.br/opiniao/2025/11/macondo-proibida-por-washington-araujo/
07 de novembro de 2025
Macondo proibida
Cinquenta e oito anos depois, a aldeia criada por Gabo é banida da terra que mais fala em liberdade — e menos entende o que ela significa


Há uma ironia sombria em ver Cem Anos de Solidão proibido nas escolas dos Estados Unidos. Uma nação que ergue monumentos à liberdade de expressão decide agora, em pleno século XXI, proteger seus jovens de Gabriel García Márquez — o escritor que transformou a dor humana em esplendor literário. Os EUA, que ensinaram o mundo a consumir sonhos enlatados, temem agora a fantasia que revela suas próprias feridas.
No ano letivo de 2024–2025, a organização PEN America registrou 6.870 casos de censura e proibição de livros em 23 estados e 87 distritos escolares norte-americanos. A Flórida lidera o ranking, seguida pelo Texas e Utah. Entre os quase quatro mil títulos afetados estão O Sol é para Todos, de Harper Lee, O Olho Mais Azul, de Toni Morrison, 1984, de George Orwell, Beloved, também de Morrison, e Maus, de Art Spiegelman. E agora, também Cem Anos de Solidão. A justificativa? “Conteúdo sexual e moralmente inadequado".
Quando José Arcadio Buendía ouviu o cigano Melquíades dizer que “as coisas têm vida própria, é só despertar-lhes a alma”, ele estava descrevendo exatamente o poder da literatura. É o que o realismo mágico sempre fez: despertou almas. O que há de tão perigoso nisso? Talvez o perigo esteja em acordar consciências adormecidas — algo que certos governos e ideólogos preferem manter no mais profundo dos sonos.
Lembro-me vividamente de quando li Cem Anos de Solidão pela primeira vez, ainda adolescente, em uma tarde em que o mundo parecia caber dentro de um livro. Foi ali que descobri que escrever não era um passatempo, mas uma forma de existir. Gabo — como gosto de chamá-lo, e me permito essa intimidade porque ninguém lê cinco vezes uma obra sem criar uma relação de copa e cozinha com seu autor — me ensinou que a realidade podia ser reinventada pela linguagem, que havia beleza no absurdo e sabedoria na loucura.
A proibição de Cem Anos de Solidão — sob a alegação de “conteúdo sexual” — não revela prudência moral, mas repulsa ideológica. O que se teme não são as cenas de amor entre Amaranta Úrsula e Aureliano Babilônia, mas a revelação de que toda civilização, mesmo a mais puritana, carrega seu incesto simbólico: o de repetir, geração após geração, os mesmos erros que jurou corrigir. “O segredo de uma boa velhice é um pacto honesto com a solidão”, disse Úrsula, matriarca e metáfora de todo um continente. Os EUA, porém, parecem incapazes de firmar tal pacto.
Proibir Gabo é como apagar uma constelação do céu noturno na esperança de que a noite pareça menos densa. Os EUA censores, envoltos em slogans sobre “liberdade”, mostram sua deformação moral ao interditar o livro que ensinou a humanidade a nomear o indizível. Macondo é mais do que uma aldeia tropical: é uma metáfora de todas as nações que esqueceram o que prometeram ser. “O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e, para mencioná-las, era preciso apontar com o dedo.” Que ironia: agora, o império que se diz moderno precisa que alguém aponte o óbvio.
Na saga dos Buendía, Gabo denunciou a ganância estrangeira por meio da multinacional bananeira que explora, massacra e abandona o povo de Macondo. Essa crítica continua viva e atual: troque a companhia bananeira de então por uma petrolífera robusta como a PDVSA venezuelana, ou nossa exuberante Petrobras, ou ainda por um tradicional conglomerado como a Juan Valdez — marca criada pela Federação Nacional de Cafeicultores da Colômbia (FNC) — e o cenário permanece o mesmo: o lucro estrangeiro sobre a terra latino-americana.
Há em Cem Anos de Solidão uma denúncia contra o esquecimento, a arrogância e a desmemória histórica. Quando Aureliano Segundo diz que “as estirpes condenadas a cem anos de solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a terra”, ele não falava apenas de Macondo — falava de todos nós, de qualquer povo que troca o pensamento pela conveniência. As proibições literárias não protegem crianças; protegem a ignorância adulta. São muros erguidos contra a imaginação, a mais subversiva das formas de liberdade.
A literatura latino-americana sempre incomodou porque não pede licença: ela mistura o sagrado e o profano, o mito e a política, o sexo e a solidão. Ao tentar silenciá-la, os censores revelam o que mais os assusta — não o erotismo das palavras, mas o erotismo do pensamento. “Acho que vou enlouquecer de tanto lembrar”, confessa Remédios, e talvez seja isso o que o império não suporta: lembrar. Lembrar de sua própria solidão, de suas guerras inúteis, de seus amores de conveniência e de sua fé em deuses que já não respondem.
Enquanto houver livros como Cem Anos de Solidão, haverá resistência. Porque cada leitor que atravessa Macondo entende que o realismo mágico não é um gênero literário — é um modo de sobreviver à loucura do mundo. Se os EUA insistem em apagar Gabo, é porque pressentem que suas palavras são mais duradouras que seus impérios — e que toda censura é, no fundo, cem punhaladas no corpo e na alma da liberdade.
04 de novembro de 2025
O dia em que o Louvre compreendeu o Egito
Roubo das joias de Napoleão tornou-se metáfora da História: a França sente, por instantes, a mesma dor que o Egito - e tantos outros - ainda carregam há séculos


Na manhã fria de domingo, 19 de outubro de 2025, Paris acordou com sirenes em vez de violinos. Às 9h30, quatro homens mascarados estacionaram um caminhão discreto ao lado da ala Denon, no coração do Museu do Louvre. Vestiam coletes amarelos, como se fossem técnicos de manutenção. Em minutos, ergueram uma escada hidráulica até a janela da Galeria Apolo, quebraram o vidro, abriram duas vitrines e levaram oito joias da coroa francesa. Tudo cronometrado: sete minutos.
Quando a polícia chegou, restava apenas o vazio — e um retrato trincado de si mesma, onde antes reluziam diamantes, esmeraldas e a memória imperial de Napoleão.
O roubo das joias foi cirúrgico. Calculado com a frieza de quem estuda a rotina do museu mais visitado do planeta. Os ladrões sabiam que, naquele horário, o Louvre ainda estava abrindo as portas. Sabiam também que 30% das câmeras das galerias — conforme um relatório do Tribunal de Contas francês — não funcionavam. Fugiram por ruas já cheias de turistas e desapareceram em motos, como se Paris tivesse se tornado cúmplice do próprio roubo.
Horas depois, o ministro da Justiça declarou: “É como se todos os franceses tivessem sido roubados.”
Sim — mas não só os franceses.
O museu que nasceu do saque
O Louvre é o orgulho francês, mas também seu retrato mais incômodo.
Erguido como fortaleza em 1190 por Filipe Augusto para proteger Paris das invasões normandas, transformado em palácio real durante o Renascimento e, após a Revolução Francesa, convertido em museu nacional em 10 de agosto de 1793, tornou-se o guardião daquilo que a França chama de “patrimônio universal”. Mas a universalidade, nesse caso, nasceu da conquista.
Foi Napoleão Bonaparte quem primeiro entendeu que conquistar territórios era também conquistar suas almas artísticas. Entre 1796 e 1815, ao invadir a Itália, o Egito e a Bélgica, impunha cláusulas humilhantes: as cidades derrotadas deviam enviar seus tesouros para Paris. Assim nasceu o primeiro Louvre imperial — abarrotado de estátuas gregas, telas renascentistas, múmias egípcias e pergaminhos confiscados sob a bandeira da civilização.
O Código de Hamurabi chegou a Paris como “presente diplomático” — na verdade, um espólio arqueológico.
A Vênus de Milo foi retirada de seu solo original para se tornar símbolo da França.
A Vitória de Samotrácia, arrancada de uma ilha grega, foi içada na escadaria do museu como se o triunfo alheio fosse francês.
O Egito, então, foi quase um saque institucionalizado. As expedições napoleônicas abriram tumbas, arrancaram sarcófagos e transportaram centenas de peças por navio. A “missão científica” que acompanhava o exército produziu o monumental Descrição do Egito — e o vazio deixado nas margens do Nilo.
Hoje, a ala egípcia do Louvre exibe joias de uma civilização eterna: o Escriba Sentado, de olhar vivo após quatro milênios; a colossal estátua de Ramsés II; o Sarcófago de Emehetep coberto de hieróglifos intactos; e o Busto de Akhenaton, símbolo da primeira revolução espiritual da humanidade.
Muitos visitantes acreditam que o sarcófago de Tutancâmon está ali, mas ele jamais deixou o Egito — permanece sob guarda do Museu do Cairo, hoje transferido para o Grand Egyptian Museum, em Gizé. A lenda, contudo, ajuda a compreender a força do fascínio que o Louvre exerce sobre o imaginário do mundo.
O Louvre que conheci
Estive cinco vezes no Louvre ao longo dos meus 66 anos de vida. Em todas elas — da primeira visita aos 24 anos até a mais recente — experimentei o mesmo arrebatamento que se sente ao cruzar um portal invisível entre o humano e o infinito.
Naquela primeira vez, minha curiosidade juvenil foi sequestrada por um sentimento que só os grandes encontros provocam: a vertigem diante do gênio humano, a constatação de que a engenhosidade é o idioma que sobrevive às ruínas.
Diante da Mona Lisa, da Vitória de Samotrácia e dos corredores intermináveis onde a história parece respirar, compreendi que a criação humana se derrama como um rio no leito dos séculos — acima das fronteiras, das bandeiras e dos nacionalismos.
O Louvre sempre me causou esse duplo fascínio: maravilhamento e desconforto.
Maravilhamento pela capacidade humana de transformar o instante em eternidade; desconforto por saber que, sob o brilho das vitrines, repousam memórias arrancadas de outros povos.
Cada retorno ao museu foi também um reencontro com o paradoxo da civilização — o mesmo que agora se revela em sua forma mais literal.
A ironia do destino
Dois séculos depois das conquistas napoleônicas, o império virou museu, mas o museu jamais deixou de carregar o império dentro de si.
As obras que antes chegaram em carroças e galeões agora repousam sob sensores de movimento, protegidas por alarmes e guardadas por discursos sobre “preservação”.
E, no entanto, nesta manhã de outubro, o alarme soou de dentro — não como aviso, mas como metáfora: o guardião sentiu o que é perder o que guardava.
O Louvre, acostumado a deter o espólio dos outros, sentiu na pele o que é ser espoliado.
A frase do ministro — “é como se todos os franceses tivessem sido roubados” — ecoou como confissão involuntária: sim, a dor do roubo é insuportável. E foi essa dor que a França, por séculos, infligiu ao mundo.
Povos inteiros viram seus deuses empacotados, seus ídolos embarcados, seus séculos encerrados em caixas com destino a Paris.
Hoje, egípcios, gregos, turcos, nigerianos e italianos pedem de volta o que lhes foi tirado. Alguns processos correm na diplomacia: o Egito quer a restituição de estátuas; a Itália reivindica sete objetos arqueológicos; a Grécia insiste no retorno das esculturas do Partenon — repartidas entre Londres e Paris.
O roubo do Louvre, portanto, é mais que uma falha de segurança. É uma imagem invertida da história. O império que colecionou o mundo acorda agora com o mundo colecionando a sua vergonha.
Paris, capital da ironia
Enquanto as investigações prosseguem, os franceses caminham diante do museu fechado. Fotografam a fachada, comentam a audácia dos ladrões. Alguns se sentem ultrajados. Outros, envergonhados.
O governo promete reforçar a segurança nacional do patrimônio, revisar protocolos, instalar câmeras. Mas nenhuma tecnologia é capaz de vigiar o passado.
Na história, o Louvre já foi palco de outros roubos: em 21 de agosto de 1911, quando a Mona Lisa desapareceu — levada por Vincenzo Peruggia, um funcionário italiano que acreditava estar “devolvendo” a obra ao seu país; em 1976, quando a espada cravejada de pedras preciosas usada por Carlos X na coroação evaporou; em 1983, quando armaduras renascentistas sumiram; em 1989, quando uma armadura italiana foi roubada e só voltou em 2021.
O museu mais vigiado do mundo, ironicamente, vive sendo roubado. Talvez porque não exista alarme contra o tempo — e o tempo cobra.
Quando o roubo vira consciência
Este novo furto, calculado e silencioso, talvez tenha um efeito que Napoleão jamais imaginou: devolver à França um pouco do desconforto moral que espalhou pelo planeta.
A dor que hoje o Louvre sente — a perda de algo grandioso, carregado de história e valor — é exatamente o que tantas civilizações sentiram ao ver seus deuses, papiros e esculturas partindo rumo ao “progresso europeu”.
Não se trata de negar o Louvre — ele é um dos templos mais extraordinários da humanidade. Mas é preciso repensá-lo: não apenas como guardião da criação humana, mas como testemunha de um saque global que a arte sublimou.
A civilização começa quando um povo aprende a proteger o que é seu; e amadurece quando reconhece o que é dos outros.
O Louvre, ferido e introspectivo, talvez esteja diante de sua obra mais difícil: restaurar sua própria essência.
Entre o brilho das joias roubadas e o peso das peças que guarda, há uma lição que não cabe em vitrines — a de que nenhum museu é maior que a verdade que omite.
O Louvre foi roubado
Mas, talvez pela primeira vez, o roubo sirva não para empobrecer — e sim para jogar luz sobre os crimes que a História se recusa a enterra
https://www.brasil247.com/blog/o-dia-em-que-o-louvre-compreendeu-o-egito
21 de outubro de 2025
Crime e Prescrição, por Washington Araújo
Se Dostoievski tivesse vivido no Brasil, não teria escrito “Crime e Castigo”, mas “Crime e Prescrição”

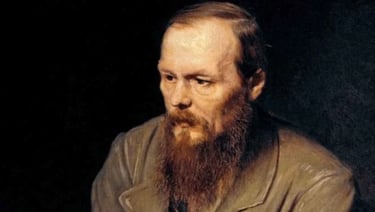
Se Dostoievski tivesse nascido no Brasil, Raskólnikov não seria atormentado pela culpa — apenas aguardaria o prazo da prescrição. O sangue seco na cena do crime teria se dissolvido na lentidão dos tribunais, convertido em processo arquivado, transformado em manchete esquecida. Aqui, o castigo não é o desfecho: é a ausência dele. A culpa, quando surge, não queima, apenas sussurra até perder o timbre.
No Brasil, o crime não se conclui, apenas muda de foro. É uma coreografia bem ensaiada entre o poder e a paciência, uma dança lenta em que cada passo processual serve para adiar o fim da música. As leis, com seus prazos generosos e labirintos de recursos, são o tapete sobre o qual os culpados desfilam com elegância. A prescrição não é exceção — é um estilo de vida, uma arte nacional de fazer o tempo servir à conveniência.
Se Dostoievski tivesse olhado esse país, talvez escrevesse não sobre o tormento da consciência, mas sobre o requinte da justificativa. Raskólnikov seria um deputado em busca de foro privilegiado; Sônia, uma consultora de imagem ensinando-o a parecer arrependido na televisão. A tragédia daria lugar ao cinismo, e o arrependimento à assessoria de imprensa.
Essa reflexão, contudo, não é uma jabuticaba brasileira. O fenômeno da impunidade vestida de formalidade jurídica também se alastra por democracias antigas e novas, de diferentes continentes, onde o poder aprendeu a disfarçar o erro sob o manto elegante da legalidade.
O Brasil é um terreno onde o crime floresce em vasos de impunidade. Aqui, o erro não pesa — flutua. Os corruptos trocam de partidos como de ternos, e a vergonha é apenas um intervalo breve entre duas entrevistas. A punição se tornou um rumor e a ética, um adereço de discurso. Somos uma civilização que aprendeu a transformar delitos em narrativa de sucesso e aplaudir quem consegue trapacear com sofisticação.
No coração dessa ironia está o que Dostoievski melhor compreendeu: o ser humano é um abismo que raciocina. O escritor russo não descrevia personagens — dissecava consciências. Seus protagonistas falavam como quem se interroga diante do espelho do próprio erro. Criador de diálogos interiores que pareciam cavernas, Dostoievski fez da dúvida uma forma de revelação. Sua genialidade estava em capturar o instante em que o pensamento se torna culpa e a culpa, pensamento — algo que nem o cinema conseguiu reproduzir inteiramente.
Foi ele quem inaugurou a literatura como autópsia moral. De Kafka a Sartre, de Camus a Clarice Lispector, todos beberam desse mesmo subterrâneo: o de olhar o homem por dentro, onde o crime não é apenas ato, mas sintoma.
Mas no Brasil essa escavação seria inútil. Aqui, o que há não é introspecção, é anestesia. A consciência foi substituída por jurisprudência. Os dilemas morais, por pareceres técnicos. O país se comporta como um corpo que aprendeu a conviver com a febre sem jamais procurar a causa da doença. A impunidade nos habita como uma substância invisível — uma espécie de morfina cívica que torna suportável o intolerável.
E talvez fosse essa a metáfora central de “Crime e Prescrição”: o Brasil como um organismo que não cicatriza, mas se acostuma com a ferida. Um país que cobre as marcas com novas camadas de maquiagem institucional, até o rosto se tornar irreconhecível.
Enquanto isso, seguimos colecionando escândalos como quem coleciona selos — com paciência, com método, com certo orgulho da raridade de cada caso.
No fim, Dostoievski entenderia: o verdadeiro castigo brasileiro é não sentir mais nada. Nem indignação, nem vergonha, nem espanto. Aqui, o crime amadurece até virar costume. E quando o costume se instala, a justiça deixa de ser esperança para virar rumor de outro século.
No Brasil, a tragédia não termina em redenção — termina em prazo. E o que prescreve, antes da pena, é o caráter coletivo.
https://revistaforum.com.br/opiniao/2025/10/19/crime-prescrio-por-washington-araujo-190084.html
19 de outubro de 2025
Darcy faria falta em qualquer época; nesta, faz falta dobrada
Darcy Ribeiro antecipou que educação definiria o destino nacional; sua ausência mostra um país reduzido a improviso, intolerância e desigualdade institucionalizada contra milhões.
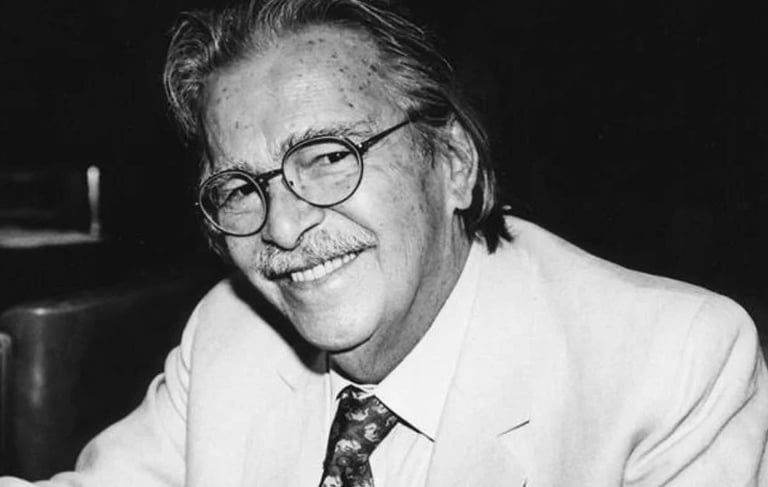
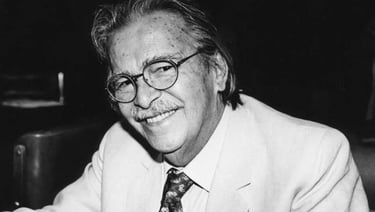
Convivi longos anos no Senado Federal com Darcy Ribeiro, à época em que era senador da República. Sempre muito culto, apaixonado pelas próprias ideias e atento às dos outros, espontâneo ao emitir opiniões, passional quando ouvia o Hino Nacional ou, no exterior, via a bandeira brasileira. Era desses homens que não cabem em um só ofício: antropólogo, educador, romancista, político. Darcy não se limitava a observar o Brasil; buscava reinventá-lo. Hoje, quando a mediocridade ocupa cadeiras de poder e a intolerância corrói a vida pública, a falta que ele nos faz é a falta de projeto, de grandeza, de coragem.
Darcy tinha uma visão orgânica da nação. Não via os brasileiros como somatória de indivíduos dispersos, mas como povo em construção, obra inconclusa. Daí sua obsessão por educação, pela escola como instrumento de transformação e como trincheira contra a desigualdade. Foi ele quem disse, com a contundência que só os visionários possuem: “A crise da educação no Brasil não é uma crise; é um projeto.” Denunciava, com clareza, que manter o povo na ignorância sempre foi estratégia de poder. Meio século depois, essa denúncia permanece atualíssima, como se escrita ontem.
Não era apenas pensador. Foi homem de ação. Esteve ao lado de Brizola na fundação dos CIEPs, escolas integrais que poderiam ter revolucionado a educação brasileira. Imaginava crianças tendo acesso não apenas a aulas, mas a alimentação digna, cultura, esporte, cidadania. O projeto foi interrompido, ridicularizado, desmontado. Hoje, quando ainda discutimos merenda escolar e professores mal remunerados, percebemos a dimensão de sua ausência: Darcy ofereceu caminhos, mas preferimos os atalhos da improvisação e do descaso.
Havia nele também a paixão pelo Brasil profundo. Seus estudos sobre povos indígenas não foram distantes ou burocráticos: foram mergulhos existenciais, convívio, respeito. Darcy não apenas escreveu sobre os indígenas, mas aprendeu com eles, defendeu sua dignidade, denunciou sua perseguição. Foi perseguido por isso, exilado, mas não recuou. Sua obra O Povo Brasileiro é talvez o mais completo retrato de quem somos: um país mestiço, complexo, criativo, capaz de gerar beleza e violência na mesma intensidade.
E como romancista, Darcy também se rebelou contra as fronteiras acadêmicas. Quis contar histórias, dar voz a personagens, ampliar a imaginação nacional. Entendia que a literatura, assim como a antropologia, também podia ser ferramenta de emancipação. Darcy escrevia como quem luta. Pensava como quem ama. Agia como quem sonha.
A falta que ele faz não é apenas a ausência de um intelectual. É a ausência de um horizonte. O Brasil de hoje, fragmentado por ódios fabricados e fake news, carece de alguém que lembre que somos um só povo, que não há futuro sem educação, que não há nação sem dignidade.
Darcy faria falta em qualquer época; nesta, faz falta dobrada.
Enquanto não surgem outros Darcys, resta-nos reler suas obras, recuperar seus projetos, assumir sua coragem. Porque, sem isso, seremos apenas um país à deriva, construindo cada dia menos, destruindo cada dia mais.
18 de outubro de 2025
Nobel de Literatura escreve na única língua que até o diabo respeita
A língua mais indecifrável da Europa consagra Krasznahorkai como voz literária global. Suas frases apocalípticas desafiam leitores, tradutores e, dizem, até o diabo.
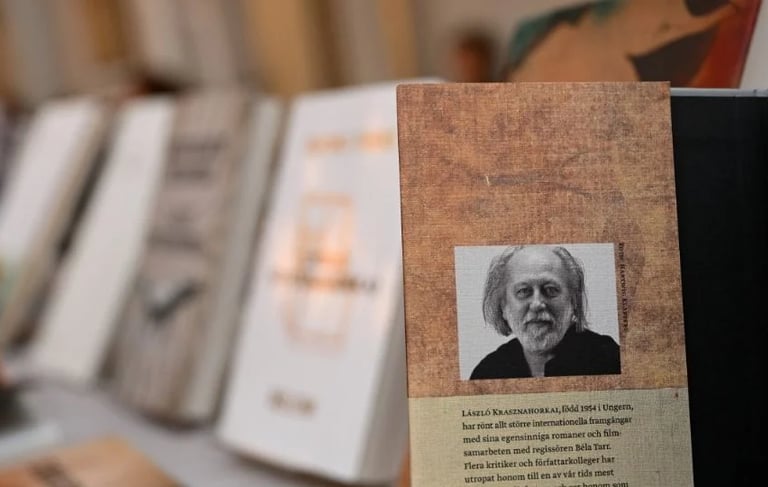
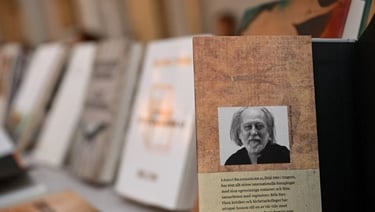
Em minhas muitas viagens pelo mundo — e foram mais de três vezes em mais de 62 países, no intervalo de 1983 a 2024 — amadureci uma convicção inabalável: a única língua que o diabo respeita é, de longe, o húngaro. Isso mesmo. O Ente Mau, com sua astúcia e fluência multinacional, entende significados, linhas e entrelinhas de centenas de idiomas, dialetos e dialetinhos. Mas tropeça, se atrapalha e, se bobear, cai sentado ao ouvir uma frase húngara.
Em Budapeste, portanto, ele se vê vulnerável. Os humanos dali têm, portanto, uma vantagem tática: podem confundi-lo com palavras incompreensíveis. O que, convenhamos, é uma excelente arma de resistência.
Não é exagero. O idioma húngaro é um Everest linguístico. Quem ousa escalá-lo descobre que a gramática parece ter sido escrita por um anjo distraído ou por um demônio meticuloso — há controvérsias.
A pronúncia? Um balé de sons que desafia até as línguas mais flexíveis. O plural não se comporta como plural, os sufixos multiplicam-se como coelhos, e o verbo parece praticar ioga: dobra-se, contorce-se e aparece sempre num lugar diferente da frase. Aprender húngaro é como jogar xadrez tridimensional contra alguém que não avisa quais são as regras.
Dito isso, faz todo sentido que um mestre das palavras tão intraduzíveis tenha levado para casa o prêmio literário mais cobiçado do planeta. László Krasznahorkai — nome que parece conjuração! — acaba de ser laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. Um escritor húngaro que escreve frases do tamanho de quarteirões, cheias de curvas, abismos e fendas semânticas. Ler Krasznahorkai é como atravessar um labirinto de espelhos com um copo d’água na cabeça — e chegar ao fim sem derramar uma gota.
A Academia Sueca justificou o prêmio dizendo que sua obra é “convincente e visionária, reafirmando o poder da arte em meio ao terror apocalíptico”. E não é hipérbole. Seus livros têm mais pontos de tensão que uma reunião de condomínio com aumento de taxa. Susan Sontag o chamou de “mestre do apocalipse”. O cineasta Béla Tarr transformou suas histórias em filmes longos, lentos e hipnóticos — e foi aclamado no mundo todo.
Um deles, Harmonias de Werckmeister, nasceu do romance A Melancolia da Resistência, lançado em 1989 na Hungria e apenas em 1998 no mercado de língua inglesa. A trama começa quando um circo chega a uma cidadezinha levando — veja bem — uma baleia empalhada. Sim, uma baleia. Empalhada. Se Franz Kafka estivesse de bom humor e Fiódor Dostoiévski tivesse tomado um café a mais, talvez escrevessem algo assim.
Krasznahorkai tem 71 anos e nasceu em 1954 na pequena Gyula, em plena Hungria comunista. Filho de um advogado e de uma funcionária do Ministério do Bem-Estar Social, foi militar desertor — desertou porque, segundo contou, não suportava ordens absurdas —, tocou piano em banda de jazz e estudou literatura em Budapeste. Seu primeiro romance, Satantango (1985), foi um sucesso instantâneo no país e ganhou uma adaptação cinematográfica de mais de sete horas de duração (sim, sete!). O diabo que se arrisque a ver até o final.
A proeza linguística do escritor vai além da temática sombria. Ele publica romances com um único ponto final em 400 páginas — caso de Herscht 07769, lançado no ano passado nos Estados Unidos. Imagine o leitor — sem fôlego, tateando vírgulas como quem procura oxigênio no deserto — tentando encontrar onde termina uma frase. Não termina.
É como correr uma maratona com os olhos. E ainda assim, quem chega ao fim sente que valeu cada passo. Como ele próprio disse certa vez: “Minhas frases são longas porque o mundo não cabe em sentenças curtas.”
Krasznahorkai não é daqueles que escrevem para agradar algoritmos ou fazer dancinhas literárias no TikTok. Em entrevista ao The New York Times em 2014, disse que buscava “um estilo absolutamente original”, livre de ancestrais literários. Nada de versões recicladas de Kafka, Dostoiévski ou Faulkner.
Ele queria ser ele mesmo: um terremoto sintático. E conseguiu. Como também afirmou: “Eu escrevo para ouvir o silêncio que vem depois do caos.”
Steve Sem-Sandberg, do comitê do Nobel, falou de seu “estilo épico poderoso e musicalmente inspirado”. Musicalmente inspirado — talvez ecoando aquelas noites em que ele tocava piano, enquanto imaginava um mundo prestes a desabar.
Para os húngaros, ver Krasznahorkai receber o Nobel tem um gosto especial. Ele é apenas o segundo cidadão do país a alcançar tal feito, depois de Imre Kertész, laureado em 2002. O húngaro, afinal, é língua de poucos prêmios, mas de profundezas insondáveis. Quando alguém escreve nela com maestria, é como se domasse um dragão — e ainda obrigasse o dragão a recitar poesia.
Há algo de saborosamente irônico nisso: o idioma mais intrincado do planeta servindo de canal para uma literatura que expõe o mundo em ruínas, o colapso das certezas, a beleza que nasce das rachaduras. Krasznahorkai não escreve para confortar. Escreve para inquietar, como quem puxa o tapete da realidade e pergunta: “E agora, o que você vai fazer em queda livre?”.
Em outra de suas frases lapidares, declarou: “O apocalipse não é um evento, é um estado de espírito.”
Nos últimos anos, o Nobel buscou ampliar seu horizonte geográfico e cultural. Ganhou a sul-coreana Han Kang com A Vegetariana, o tanzaniano Abdulrazak Gurnah e a francesa Annie Ernaux. Agora chega a vez de um homem que escreve em uma língua falada por menos de 13 milhões de pessoas — e compreendida fluentemente, arrisco dizer, por metade delas. O húngaro é o idioma mais parecido com um cofre: poucos têm a chave.
Para quem acha que dominar um novo idioma é fazer o aplicativo de línguas sorrir com coraçõezinhos, recomendo: tente pronunciar Krasznahorkai corretamente. Tente entender um verbo húngaro no passado perfeito condicional. Tente escrever uma carta de amor sem parecer que está invocando entidades. Se conseguir, o diabo vai se levantar e aplaudir de pé.
Por ora, fica a lição de Budapeste: mesmo nas trevas do apocalipse, a arte vence. Mesmo nas frases mais longas que a vida útil de uma lâmpada de poste, a literatura respira. E mesmo quando o idioma é uma muralha, há quem a escale para gritar lá de cima que a imaginação humana é indomável. Krasznahorkai é esse grito. E o húngaro, esse eco que nem o diabo entende — e talvez por isso mesmo respeite.
10 de outubro de 2025
Código humano da linguagem
Cada prefixo revela uma forma de existir: o per que busca o máximo, o co que une, o re que refaz e o in que aprofunda
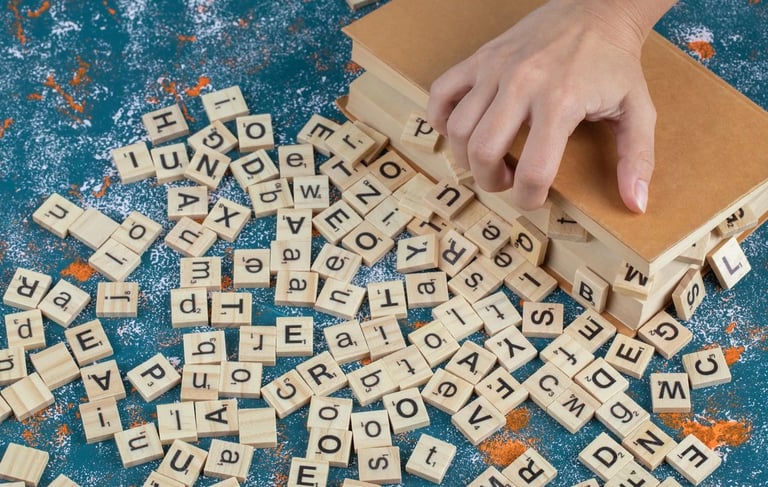
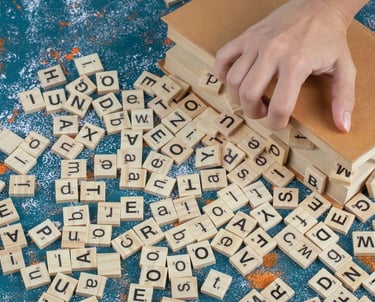
Há uma alquimia secreta nas palavras. Elas respiram, reagem, se combinam. São organismos vivos, feitos de som e sentido. Cada prefixo é uma centelha de pensamento. Uns inflamam, outros apaziguam; alguns constroem pontes, outros levantam muros. Entre eles, há um que parece conter a fórmula do limite: o per.
Sempre tive uma curiosidade quase obsessiva pelo fenômeno da linguagem humana. Desde a adolescência me fascina a etimologia — esse mistério das origens sonoras do pensamento. Quis entender como as palavras nascem, se adaptam, criam raízes e, como árvores de mesma seiva, se multiplicam em troncos diferentes. Fascina-me ver como um único prefixo pode gerar mundos inteiros: mudar o destino de uma ideia, alterar o gesto de um povo, aproximar ou afastar consciências. É na genealogia das palavras que enxergo a cartografia do espírito humano.
Em química, o per representa o grau máximo. É o ponto em que uma molécula, saturada de átomos, beira o colapso. O instante entre plenitude e ruína. E há nisso uma exata metáfora da vida humana — porque também nós desabamos quando ultrapassamos o ponto de equilíbrio.
O per é o prefixo do excesso e da perfeição. “Perfeito” vem do latim perfectus: o que foi feito até o fim. Nada lhe falta — e por isso mesmo, nada mais pode crescer. Toda perfeição é um começo que se encerra.
Mas há outros termos que revelam o duplo rosto do per: perdão, perigo, perverso, perene, perseverar. Em todos, um traço de risco. O per toca o extremo — o ponto em que o humano se transcende ou se destrói.
Perdoar, por exemplo, é amar no limite. É o amor que suporta mais do que a própria estrutura parecia permitir. O per é o território da entrega, o gesto de quem dá tudo e, por isso, se transforma.
A perfeição, afinal, é sempre breve. É o instante em que algo está inteiro, antes de começar a se desfazer.
Mas o mundo não se sustenta apenas com intensidades. Toda forma precisa de vínculo para não se esfarelar. E é aí que surge o segundo prefixo — o co.
O co vem do latim cum: estar com. Está em companheiro, comunidade, confiança, compreender, construir. Cada uma dessas palavras descreve um modo de partilhar o mundo.
Enquanto o per nos eleva, o co nos enraíza. O primeiro busca o ápice; o segundo, o encontro. O per é vertical; o co, horizontal.
Companheiro é aquele com quem se reparte o pão; compreender é tomar junto o sentido; construir é erguer com.
O co é o prefixo civilizatório — o cimento das relações, a ética da coexistência. Nenhuma fé, ciência ou arte nasce isolada. Tudo é cooperação. Até o silêncio, quando compartilhado, se torna linguagem.
O co é a lembrança de que viver é um verbo plural. Que nada floresce na solidão, e que toda grandeza é comunhão.
Mas há quedas, rupturas, regressos. A vida pede não apenas união, mas reconstrução.
E aí entra o terceiro prefixo — o re.
O re é o prefixo do retorno e da esperança. Vem do latim iterum: outra vez. Está em renascer, recordar, recomeçar, resistir, reconciliar. Cada palavra com re traz a promessa de que nada está perdido para sempre.
Recordar é trazer de volta ao coração. Recomeçar é devolver ao tempo uma nova chance. Resistir é manter-se de pé quando tudo em volta cede.
O re é o prefixo do humano que recusa a ruína como destino.
Reconstruir, reconciliar, repensar: três verbos que definem civilizações inteiras. Depois das guerras, das falências, dos desenganos, é sempre o re que resta — o que refaz, o que insiste, o que renova.
Mas há um movimento ainda mais profundo: o in.
O in vem do latim intra: dentro. Está em inspiração, intuição, início, inteiro, intensidade, interior.
Enquanto o per é o gesto do máximo, o in é o gesto do mergulho. É o prefixo da consciência e da introspecção.
Inspirar é deixar entrar o ar que cria. Intuir é perceber sem precisar provar. Integrar é reunir o disperso. O in é o espaço interior da verdade, onde o mundo se aquieta.
Esses quatro prefixos — per, co, re e in — desenham a gramática da condição humana.
Buscamos o máximo (per), precisamos do outro (co), refazemos o que se quebra (re), e mergulhamos dentro de nós (in).
Tudo o que é vivo obedece a esse ciclo.
E talvez seja essa a perfeição possível: não a ausência de falhas, mas a harmonia entre o que se expande, o que se une, o que se refaz e o que se recolhe.
A vida, afinal, é uma conjugação de prefixos — uma forma de linguagem que nos explica, mesmo quando as palavras faltam.
05 de outubro de 2025
A exploração disfarçada de competitividade espalha no Brasil a vírus do Dumping Social
Salários insuficientes, jornadas excessivas, ausência de proteções sociais e condições insalubres de trabalho tornam-se "vantagens competitivas"


No silêncio das fábricas que fecham suas portas e no desespero dos trabalhadores que perdem seus direitos básicos, prospera uma das mais perversas armas da concorrência desleal: o dumping social. Esta prática devastadora, que transforma direitos trabalhistas em obstáculos descartáveis, ameaça não apenas a dignidade de milhões de brasileiros, mas desestabiliza as bases de um mercado de trabalho justo e próspero.
O dumping social é como um atleta que usa drogas para vencer uma corrida: ganha vantagem artificial sacrificando sua própria saúde e a integridade da competição. Nesta analogia perversa, as "drogas" são os direitos trabalhistas suprimidos, o "atleta" é a empresa predatória, e a "corrida" é o mercado global onde todos deveriam competir em condições justas.
Imagine um restaurante que consegue oferecer pratos mais baratos porque não paga salários dignos aos garçons, não oferece equipamentos de segurança aos cozinheiros e força funcionários a trabalhar 12 horas sem descanso. Esse estabelecimento pratica dumping social: usa a exploração humana como ingrediente secreto para baixar artificialmente seus preços, prejudicando concorrentes honestos que respeitam seus trabalhadores.
Diferentemente do dumping tradicional, que envolve a venda abaixo do custo de produção, o dumping social manipula os próprios custos através da exploração da mão de obra. Salários insuficientes, jornadas excessivas, ausência de proteções sociais e condições insalubres de trabalho tornam-se "vantagens competitivas" perversas que geram danos não apenas aos trabalhadores, mas a toda sociedade.
O dumping social age como um cupim invisível roendo as vigas mestras do edifício trabalhista brasileiro: silencioso, persistente e devastador. Enquanto corrói os alicerces dos direitos conquistados, força empresas éticas a escolher entre sucumbir à concorrência desleal ou abandonar seus princípios morais.
O arsenal jurídico - O Brasil possui um arcabouço legal robusto para combater o dumping social, embora sua aplicação ainda seja incipiente. A legislação antidumping brasileira, baseada no Decreto nº 1.355/1994, Lei nº 9.019/1995 e Decreto nº 1.602/1995, estabelece os fundamentos legais para a defesa comercial, incluindo práticas sociais desleais.
O Código Civil brasileiro, em seus artigos 186, 187 e 927, tipifica o dumping social como ato ilícito, estabelecendo responsabilização por danos causados à sociedade. O Projeto de Lei 1615/2011, do deputado Carlos Bezerra, propõe regulamentação específica para punir o dumping social como prática de concorrência desleal, mas ainda aguarda aprovação.
O Tribunal Superior do Trabalho desenvolveu jurisprudência própria sobre o tema, reconhecendo que práticas reiteradas de violação aos direitos trabalhistas configuram dumping social, passível de indenização por danos morais coletivos.
Cenário brasileiro e casos emblemáticos - O Brasil ocupa posição ambígua neste cenário. Por um lado, o país possui legislação trabalhista robusta, com direitos consolidados como férias remuneradas, 13º salário e FGTS. Por outro, enfrenta constantes pressões para flexibilizar essas proteções sob o argumento da competitividade internacional.
Três casos recentes ilustram a gravidade do problema no país. Primeiro, a condenação milionária da Uber pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que impôs multa de R$ 1 milhão por dumping social, reconhecendo que a empresa sistematicamente desrespeitava direitos trabalhistas para obter vantagem competitiva.
Segundo, empresas terceirizadoras de serviços ocupam nove posições entre os 30 maiores devedores trabalhistas do país, demonstrando como a terceirização muitas vezes encobre práticas de dumping social. Essas empresas utilizam a precarização como estratégia para oferecer serviços mais baratos, prejudicando concorrentes que respeitam a legislação.
Terceiro, o setor calçadista brasileiro enfrenta denúncias constantes de dumping social, especialmente na região Sul, onde empresas sistematicamente violam direitos trabalhistas para competir com importações asiáticas.
Dumping Social em tempos de IA - A inteligência artificial emerge como uma nova fronteira para práticas de dumping social, criando desafios inéditos para o mercado de trabalho brasileiro. O Brasil debate atualmente, no âmbito dos BRICS, questões sobre inteligência artificial e proteção social no mercado de trabalho, reconhecendo a urgência do tema.
A implementação da inteligência artificial na sociedade brasileira traz o risco de ampliar as desigualdades já existentes, criando um novo tipo de dumping social baseado na substituição acelerada de trabalhadores por algoritmos sem a devida proteção social.
Empresas que utilizam IA para reduzir drasticamente seus quadros funcionais, sem oferecer requalificação ou transição adequada, praticam uma forma sofisticada de dumping social. Esta estratégia permite ofertar serviços a preços artificialmente baixos, impossíveis para concorrentes que mantêm compromissos sociais com seus trabalhadores.
Impactos Econômicos e Sociais - A indústria têxtil brasileira exemplifica essa tensão estrutural. Enquanto empresas nacionais respeitam normas trabalhistas, competem com importações de países onde trabalhadores recebem salários até dez vezes menores, sem qualquer proteção social. Essa concorrência desleal resulta no fechamento de fábricas e perda de empregos formais, alimentando um ciclo vicioso de precarização.
Paradoxalmente, dados oficiais de 2025 mostram que o Brasil viveu em 2024 a maior redução da desigualdade social dos últimos anos, com crescimento de 10,7% na renda dos mais pobres. Esse progresso torna ainda mais urgente o combate ao dumping social, que ameaça reverter conquistas sociais importantes.
O dumping social funciona como uma máquina trituradora de sonhos, que devora sistematicamente direitos conquistados ao longo de décadas, transformando proteções trabalhistas em "luxos" incompatíveis com a competitividade. Essa lógica destrutiva não apenas empobrece trabalhadores, mas fragiliza toda a estrutura econômica nacional.
Os Sindicatos - Os sindicatos brasileiros desempenham papel fundamental no combate ao dumping social, atuando como verdadeiros zeladores dos direitos trabalhistas contra a voracidade de empresas predatórias. Os sindicatos representativos das respectivas categorias profissionais podem ajuizar ações moleculares postulando a remoção do ilícito, em conjunto com demais pleitos, inclusive de danos morais coletivos por dumping social.
A estratégia sindical evoluiu significativamente nos últimos anos, incorporando ferramentas jurídicas sofisticadas para identificar e combater práticas de dumping social. Os sindicatos desenvolveram metodologias para monitorar empresas que sistematicamente violam direitos trabalhistas, criando bancos de dados compartilhados que permitem ações coordenadas entre diferentes categorias profissionais.
Também relevante é a atuação sindical no setor de tecnologia, onde os sindicatos desempenham papel fundamental na defesa dos interesses dos trabalhadores e na busca por soluções que garantam uma transição justa na era da inteligência artificial. Esta atuação pioneira estabelece precedentes importantes para combater o dumping social tecnológico, modalidade emergente que ameaça milhões de postos de trabalho no país.
Dumping Social na América do Norte: A exploração disfarçada de competitividade - Na América do Norte, o dumping social manifesta-se de forma sofisticada, especialmente no setor de transportes canadense, onde o Canadá enfrenta riscos crescentes de exploração de trabalhadores estrangeiros na indústria de caminhões, o que pode ter consequências para as condições de trabalho, conforme relatório de setembro de 2024. Nos Estados Unidos, a prática ganha contornos particulares com a exploração de trabalhadores imigrantes indocumentados, que são forçados a aceitar salários abaixo do mínimo legal e condições precárias por temor à deportação. O setor agrícola americano, especialmente na Califórnia e Texas, concentra milhares de casos onde trabalhadores latinos trabalham até 14 horas diárias sem direito a pausas, recebendo entre US$ 3 a US$ 5 por hora - muito abaixo do salário mínimo federal de US$ 7,25. Empresas como Driscoll's e outras gigantes do agronegócio foram multadas repetidamente por práticas de dumping social, mas continuam operando com base na exploração sistemática da vulnerabilidade migratória.
O paradoxo aparece forte na Europa, berço dos direitos trabalhistas - A União Europeia, paradoxalmente, enfrenta graves problemas de dumping social apesar de sua avançada legislação trabalhista. O Parlamento Europeu reconheceu oficialmente a necessidade de criar grupos de trabalho bilaterais e multilaterais para efetuar controles transfronteiriços quando há suspeita de dumping social, trabalho em condições ilegais ou fraude, evidenciando a dimensão do problema. Portugal figura entre os países mais afetados, onde a Agência Europeia denunciou vários casos de exploração laboral, relatando situações em que trabalhadores são obrigados a esconder-se, mentir e até pagar multas do próprio bolso, segundo investigação de 2018. Na Alemanha, o setor de construção civil e frigoríficos emprega sistematicamente trabalhadores do Leste Europeu em condições degradantes: poloneses e romenos trabalham 12 horas diárias por salários 40% inferiores aos alemães, vivendo em alojamentos superlotados fornecidos pelos empregadores. A empresa Tönnies, maior processadora de carne da Alemanha, foi multada em €16,5 milhões em 2020 por práticas de dumping social envolvendo mais de 7.000 trabalhadores estrangeiros.
Combate difícil, não impossível - O combate ao dumping social exige coordenação internacional. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estabelece padrões mínimos, mas sua aplicação permanece desigual. O Tribunal Superior do Trabalho tem admitido condenações por dumping social, sinalizando endurecimento da jurisprudência brasileira.
Alguns países europeus já implementam mecanismos de proteção, como taxas sobre produtos oriundos de práticas laborais predatórias. O Brasil precisa desenvolver instrumentos similares, equilibrando proteção social com competitividade econômica.
Para o Brasil, a questão supera o protecionismo econômico. Trata-se de defender um modelo de desenvolvimento que valorize o trabalho digno como elemento central do progresso social. A busca por competitividade não pode comprometer décadas de conquistas trabalhistas que distinguem sociedades democráticas de economias baseadas na exploração.
O desafio consiste em equilibrar abertura comercial com proteção social, garantindo que a globalização não se transforme numa corrida desenfreada rumo ao abismo dos direitos trabalhistas. A resposta judicial brasileira, embora ainda no início, indica caminhos promissores para coibir essa prática nociva que corrói as bases de uma sociedade que possa ser referida como justa e próspera.
31 de maio de 2025
Trump sufoca Harvard: retrocesso do conhecimento científico e humano, fuga de cérebros eleva Brasil e parceiros
Políticas da Casa Branca contra Harvard causam fuga de cérebros, beneficiando Brasil e países com visão científica estratégica


Quando um farol se apaga, o mundo não mergulha de imediato na escuridão. Mas os navegantes, privados de sua luz, começam a errar na rota, a colidir com rochedos ocultos, a duvidar do caminho. Harvard, por mais de um século, foi esse farol da ciência global. A decisão de Donald Trump de apagar essa luz não é apenas uma ruptura com a tradição acadêmica americana — é um convite ao caos na travessia do conhecimento. E, nesse cenário de sombras, outros países começam a acender suas próprias lanternas. Entre eles, inesperadamente, o Brasil.
Harvard no centro da tempestade - A Universidade de Harvard, um dos pilares da educação superior global, tornou-se alvo de um ataque político coordenado por Donald Trump. Em declarações recentes, o ex-presidente acusou a instituição de abrigar “ideologias antissemitas”, de manter “mais de 30% de estudantes estrangeiros” e de promover valores que seriam “contrários aos interesses americanos”. Como desdobramento, ameaçou cortar US$ 3 bilhões em subsídios federais, solicitou a entrega da lista de estudantes internacionais para “verificação de posicionamento político” e incentivou a revogação da certificação da universidade para receber estrangeiros. Harvard reagiu prontamente, acionando a Justiça e obtendo uma liminar, mas o episódio marca uma escalada preocupante no uso político de instituições acadêmicas.
Desde abril de 2025, a Casa Branca revisou US$ 9 bilhões em verbas federais destinadas à Universidade de Harvard, impondo condições rigorosas: o fim dos programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) e a adoção de critérios que levem em conta apenas o mérito em novas admissões. Diante da resistência da universidade, o governo congelou US$ 2,2 bilhões em fundos de pesquisa — especialmente os vinculados ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos — atingindo diretamente estudos avançados em biomedicina e tecnologia de ponta.
Em maio, mais US$ 450 milhões em bolsas e contratos foram suspensos. As justificativas? Harvard seria, segundo aliados de Trump, um “reduto de liberalismo e antissemitismo”. Em um movimento ainda mais radical, o Departamento de Segurança Interna (DHS), sob o comando de Kristi Noem, revogou a certificação da universidade no Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio (SEVP). Com isso, novos alunos estrangeiros não podem mais se matricular, e 6.800 estudantes internacionais — 27% do corpo discente — foram obrigados a deixar os EUA ou buscar transferência.
Desinformação e distorções numéricas - Entre os argumentos de Trump está a suposta elitização e internacionalização excessiva da universidade, como se isso por si fosse uma falha. No entanto, a presença de estudantes internacionais — atualmente cerca de 31% do corpo discente — sempre foi um motor de inovação em Harvard, não um problema. Da mesma forma, circulam dados inflados sobre o número de prêmios Nobel ligados à instituição: embora frequentemente se repita que 161 laureados tenham alguma afiliação com Harvard, trata-se de um número que inclui ex-professores, pesquisadores visitantes e colaboradores temporários. Quando restrito aos que efetivamente cursaram Harvard, o número é significativamente menor, ainda que expressivo, com nomes como T. S. Eliot, Barack Obama, Henry Kissinger, Amartya Sen e Roger Kornberg entre os premiados.
Proporção global sob perspectiva crítica - Desde a criação do Prêmio Nobel, em 1901, foram entregues 626 prêmios a 978 pessoas e organizações no total. Mesmo considerando a estimativa generosa de 161 pessoas com algum tipo de vínculo com Harvard, isso representa cerca de 16,5% dos laureados no mundo. Um número impressionante, sem dúvida, mas que exige leitura cautelosa: a concentração de talentos e reconhecimento em uma só instituição reflete também uma desigualdade histórica na distribuição de recursos, oportunidades e visibilidade acadêmica no cenário global. O problema não está no mérito dos premiados, mas na lógica de centralização que muitas vezes marginaliza o conhecimento gerado fora do eixo EUA-Europa.
Uma ordem judicial temporária bloqueou a medida, mas a disputa legal continua. Paralelamente, o governo eliminou US$ 60 milhões em subsídios do DHS e ameaçou retirar a isenção fiscal da universidade. A pressão é clara: dobrar Harvard aos desígnios ideológicos da Casa Branca.
Fuga de cérebros e ameaças à liderança científica dos EUA - As consequências são imediatas: cientistas e pesquisadores, inseguros, começam a buscar alternativas em países como Canadá, Alemanha, França e Austrália. Governos e instituições acadêmicas desses países oferecem condições e programas especialmente elaborados para receber esse contingente qualificado.
Em 2024, os Estados Unidos investiram cerca de US$ 1 trilhão em pesquisa e desenvolvimento — 40% desse montante oriundo do setor público. O ataque atual ao coração do sistema universitário ameaça essa posição hegemônica, pondo em risco os avanços em inteligência artificial, biomedicina, física aplicada e tecnologias verdes.
O paralelo histórico mais evidente remonta à década de 1930. Perseguidos pelo nazismo, gênios como Albert Einstein, Leo Szilard e Wernher von Braun migraram para os Estados Unidos, impulsionando o Projeto Manhattan e consolidando a supremacia científica americana. A história pode agora se inverter. Ao invés de atrair talentos, os EUA podem se transformar em um território hostil à ciência, como já ocorreu na União Soviética sob Stalin ou, mais recentemente, na Rússia de Vladimir Putin, onde a perseguição ideológica afastou intelectuais de todas as áreas.
Vozes influentes da ciência internacional denunciam a política atual. Carl Bergstrom, da Universidade de Washington, declarou: “Estamos vendo uma liquidação do talento acadêmico americano”. A imunologista Yasmine Belkaid, ex-diretora de pesquisa do NIH, alertou: “Perder uma geração de cientistas é irreparável”. Leo Rafael Reif Groisman, ex-presidente do MIT, acrescentou: “Trump subestima o valor da liderança científica dos EUA, um erro estratégico grave”. Kevin Trenberth, ex-cientista do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica, lamentou: “Já sentimos um vácuo no fluxo de novos cientistas”.
A revista Nature apontou que 75% dos cientistas entrevistados consideram deixar os Estados Unidos. A China, com investimentos crescentes em ciência, tecnologia e inovação, já atua para absorver esse capital humano. A fragilidade da pesquisa americana, neste contexto, representa uma ameaça existencial ao seu papel global.
Uma universidade de presidentes e pioneiros - Ao longo dos séculos, Harvard formou oito presidentes dos Estados Unidos, entre eles John Adams, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy e Barack Obama. Também foi o berço acadêmico de mentes decisivas nas ciências humanas, exatas e médicas — como Robert Oppenheimer, Leda Cosmides, Henry Louis Gates Jr. e Michael Sandel. Essa herança, em vez de ser exaltada, está sendo usada como arma política. A ofensiva atual tenta reverter décadas de valorização da liberdade acadêmica, do mérito intelectual e da pluralidade de pensamento. Transformar universidades em campos de batalha ideológicos é um risco não apenas para Harvard, mas para a própria democracia.
O real embate: ciência ou ideologia - O que está em disputa vai além da imagem de uma universidade. Trata-se da autonomia do pensamento científico, da proteção a estudantes estrangeiros e da integridade das instituições diante do populismo autoritário. Trump, ao mirar Harvard, sinaliza um projeto mais amplo de vigilância ideológica e submissão das universidades a agendas partidárias. Ao invés de fortalecer a educação, essas medidas a enfraquecem. O conhecimento científico e humanista, por natureza, precisa de oxigênio, liberdade e diversidade para florescer. E se a universidade mais prestigiada do mundo está sendo cercada, o alerta vale para todas as demais.
O Brasil aproveita o vácuo: ciência como projeto nacional - Diante da tempestade que assola Harvard, o Brasil enxerga uma rara janela de oportunidade. Em 24 de maio de 2025, o governo Lula lançou um programa estratégico, liderado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), comandado por Luciana Santos.
A proposta: atrair 500 cientistas estrangeiros, especialmente nas áreas de imunologia, biotecnologia e saúde pública. A iniciativa é respaldada por instituições como Fiocruz e Instituto Butantan e responde diretamente à crise nos Estados Unidos, agravada pela nomeação de Robert F. Kennedy Jr. — crítico das vacinas — para a Secretaria de Saúde americana.
O programa Conhecimento Brasil, do CNPq, prevê R$ 1 bilhão em cinco anos para repatriar 1.000 pesquisadores, incluindo brasileiros atualmente radicados nos EUA, Reino Unido e Argentina. Além disso, busca criar laboratórios de excelência em solo nacional. Ricardo Galvão, presidente do CNPq, comparou o plano às políticas adotadas pela Alemanha e Coreia do Sul durante grandes transições geopolíticas.
Em 2024, o Brasil investiu R$ 14,9 bilhões em ciência — seis vezes mais que na gestão anterior. A Capes recebeu aumento de 20% e o CNPq, 15%. Parcerias com empresas privadas, como a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, visitada por Lula em 2025, também fortalecem a infraestrutura científica nacional.
Segundo o infectologista Julio Croda, o foco em vacinas de RNA — ainda inexistentes no Brasil — pode colocar o país em novo patamar. A expertise vinda de Harvard e outras universidades dos EUA pode acelerar esse processo.
Desafios persistem, mas a oportunidade é histórica - Apesar do otimismo, o cenário brasileiro não é isento de críticas. Marcus Oliveira, da UFRJ, adverte para a fragilidade do financiamento à ciência de base e a dependência de vontades políticas. O biomédico Atila Iamarino aponta a ausência de um plano estratégico de longo prazo.
O episódio do desperdício de 8 milhões de doses da Coronavac, em 2023, a um custo de R$ 260 milhões, e os atrasos nas entregas de vacinas da Covid-19 abalaram a confiança do setor. A crise da varíola dos macacos também expôs a inexistência de estoques reguladores e logística eficiente.
No entanto, a conjuntura internacional reposiciona o Brasil. Como declarou Lula em discurso no Japão, em 2025, o país aspira ser uma “voz autônoma” no cenário global. A ciência é um dos caminhos mais sólidos para concretizar esse protagonismo. O momento exige planejamento, execução competente e proteção à autonomia das instituições.
Quando o farol de Harvard treme, outros se apressam a acender suas luzes. O Brasil tem, diante de si, a chance de não apenas iluminar seu próprio caminho, mas de tornar-se novo ponto de referência para o mundo. O conhecimento não tolera vácuos: ele migra, se instala onde é acolhido e floresce onde há liberdade, investimento e visão.
Nesta travessia incerta da ciência global, o Brasil pode deixar de ser passageiro para assumir o leme. Resta saber se terá coragem de navegar com ousadia, e não apenas com esperança. A hora é de escolher entre esses versos do nosso hino: “deitada eternamente em berço esplêndido” ou “verás que um filho teu não foge à luta”. Não apenas nas lutas pelo progresso científico, mas também em todas as outras lutas, igualmente importantes e igualmente inadiáveis.
27 de maio de 2025
Negacionismo científico ameaça séculos de avanços; vacinas salvam milhões todos os anos
Só na última década, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), vacinas salvaram cerca de 10 milhões de vidas globalmente


Olho para o mundo hoje, em 11 de abril de 2025, e me preocupo profundamente com o que vejo: uma geração que corre o risco de jogar fora séculos de conhecimento científico como se fosse algo descartável. Esse negacionismo científico é um perigo real, que ameaça o bem mais precioso que temos — a preservação da nossa saúde. Ao longo da história, a ciência nos deu ferramentas para viver melhor e mais tempo.
Pense na teoria microbiana de Pasteur, que revelou os germes como causa de doenças; na penicilina de Fleming, que revolucionou os tratamentos; na teoria da evolução de Darwin, base para avanços médicos; na descoberta dos raios X por Röntgen, essencial para diagnósticos; e na anestesia de Morton, que tornou cirurgias suportáveis. Esses marcos salvaram incontáveis vidas e elevaram nosso bem-estar. Mas hoje, vejo esse legado sendo questionado por desinformação e ideologia, como se estivéssemos desmontando uma ponte de aço forjado para atravessar um rio caudaloso, trocando-a por tábuas podres de superstição.
Acredito que já passa da hora de a ONU, Organização das Nações Unidas, tão logo recupere suas forças e possa continuar atuando em favor da paz mundial e do bem-estar da espécie humana, levantar a discussão em sua assembleia geral tornando a vacinação, seguindo todos os protocolos científicos, um direito humano básico, fundamental. Não é apenas uma questão de saúde pública, mas de dignidade e sobrevivência. Garantir que cada pessoa no planeta tenha acesso a vacinas seria um marco histórico, um compromisso global com a vida, acima de interesses políticos ou econômicos.
As vacinas: um escudo da ciência - Neste artigo, quero focar nas vacinas, um dos maiores triunfos da ciência. Vou listar as seis mais importantes do mundo e sua cronologia: a vacina contra varíola, criada por Jenner em 1796, erradicou uma doença que matava milhões; a da poliomielite, de Salk (1955), combateu a paralisia infantil; a do sarampo, de Enders (1963), freou uma infecção letal; a contra tétano, de Behring (1890), evitou mortes por uma bactéria comum; a da difteria, de Roux (1888), controlou uma doença respiratória grave; e a da gripe, desenvolvida nos anos 1930 por Smith e outros, reduzindo surtos sazonais.
Só na última década, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), vacinas salvaram cerca de 10 milhões de vidas globalmente, graças ao acesso amplo e campanhas eficazes. A pandemia de Covid-19 é um exemplo gritante disso. Desde 2020, o vírus infectou mais de 700 milhões de pessoas e causou cerca de 7 milhões de mortes no planeta, segundo a OMS. Mas as vacinas mudaram esse cenário.
As principais — Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Sinovac e Johnson & Johnson — começaram a ser aplicadas em 2021 e, junto com campanhas educacionais, evitaram um crescimento exponencial de vítimas. Sem elas, os números poderiam ser catastróficos, com estimativas sugerindo até 20 milhões de mortes adicionais. A ciência, mais uma vez, foi nossa salvação, um farol erguido em meio a uma tempestade de caos viral.
O papel vital do Instituto Butantan - Aqui no Brasil, temos um orgulho especial: o Instituto Butantan, em São Paulo, é o maior fabricante de vacinas do hemisfério sul. Ele produz a CoronaVac (Covid-19), a vacina da dengue (pioneira no mundo), a da gripe, a antirrábica e a do tétano, entre outras. Em 2024, o Butantan forneceu mais de 100 milhões de doses ao Sistema Único de Saúde (SUS), que distribui gratuitamente essas vacinas. O Brasil é pioneiro na vacina da dengue e referência na produção da CoronaVac, exportada para vários países. Esse trabalho é um escudo para nossa população. Falando da vacina contra a gripe, ela tem evitado tragédias, especialmente entre crianças e idosos. No Brasil, campanhas anuais protegem milhões, reduzindo mortes por complicações como pneumonia. Só em 2023, a OMS estima que a vacinação salvou cerca de 150 mil vidas no país. Eu mesmo sou testemunha disso: tomei todas as doses da vacina contra Covid-19 e, desde que completei 60 anos, recebo anualmente a vacina antigripal. Sinto-me seguro, protegido por uma segurança adicional que funciona como um teflon contra os mais diferentes tipos de vírus, graças ao trabalho incansável de milhares de cientistas em todas as partes do mundo.
E me pergunto: numa sociedade em que o conhecimento enche o mundo assim como as águas enchem o mar, será minimamente sábio e razoável que deixemos proliferar narrativas falsas, amparadas em superstições e crenças, que veem na vacina não um aliado, mas um inimigo?
Um apelo pela razão - Cientistas renomados reforçam essa verdade. Albert Sabin disse: “as vacinas são a maior conquista da medicina para a humanidade”. Anthony Fauci afirmou: “negar vacinas é negar a razão”. Drauzio Varella declarou: “vacina é vida, é ciência em ação”. Margaret Chan alertou: “sem vacinas, voltamos à era das trevas da medicina”. Jonas Salk completou: “a esperança está na ciência, não na ignorância”. Faço um apelo: governos, invistam em vacinação e educação científica; famílias, vacinem seus entes queridos.
A OMS aponta que a cobertura vacinal caiu 5% desde 2019, deixando 20 milhões de crianças desprotegidas em 2024. Isso é um retrocesso perigoso, como se estivéssemos apagando as brasas de uma fogueira que nos mantém vivos em uma noite gelada.
A ciência não pode ser refém de discursos políticos ideológicos. Vacinar é um ato de responsabilidade, e eu clamo por uma vacinação em massa de toda a espécie humana — um compromisso com a vida, acima de superstições ou divisões. Que a razão prevaleça.
11 de abril de 2025
