Paz e guerra
Com o mundo no limite precisamos colocar os olhos no Irã
Entre repressão interna, perseguição religiosa e isolamento externo, o Irã entra em 2026 sem margem política, econômica ou estratégica para administrar crises acumuladas


O Irã chega a 2026 governado pelo medo. Não é força, não é convicção ideológica, não é projeto nacional. É medo. Medo da rua, medo do colapso econômico, medo de ataques externos e, sobretudo, medo de que tudo isso aconteça ao mesmo tempo. Quando um regime passa a administrar apenas a própria sobrevivência, ele deixa de ser governo e se torna trincheira.
Esse quadro não se forma no isolamento. O mundo iniciou 2026 muito mais instável e imprevisível do que terminou 2025.
As feridas abertas pela guerra em Gaza continuam supurando; a paz na Ucrânia segue distante; os exercícios militares da China em torno de Taiwan tornaram-se mais robustos e explicitamente intimidatórios; a tensão sobre a Groenlândia cresce fora do radar público. A prisão e transferência de Nicolás Maduro para Nova Iorque introduziram um grau inédito de instabilidade geopolítica na América do Sul e no Caribe, regiões historicamente tratadas como zonas de paz. Nesse tabuleiro em ebulição, o Irã não é exceção — é parte do padrão.
Dentro do país, manifestações se espalham por cidades médias, bairros empobrecidos e campi universitários. O motor da revolta é simples e brutal: a economia colapsou. A moeda perdeu valor, os preços explodiram e até o tradicional bazar de Teerã — termômetro histórico da estabilidade política — fechou as portas em protesto. O discurso ideológico perdeu eficácia diante da experiência concreta da escassez.
A nova geração foi além. As palavras de ordem deixaram de pedir reformas graduais e passaram a questionar diretamente o poder clerical e sua legitimidade. Em diversas regiões, a repressão empurrou protestos para confrontos violentos, com mortos entre manifestantes e forças de segurança. O conflito já não é apenas político; tornou-se existencial.
A reação do regime revela improviso e nervosismo. Reuniões de emergência do Conselho Supremo de Segurança Nacional indicam uma tentativa de conter a revolta sem repetir os massacres do passado, conscientes de que a violência aberta pode acelerar a implosão. Ao mesmo tempo, autoridades se preparam para a possibilidade de ataques externos. Nos bastidores, “modo de sobrevivência” deixou de ser figura de linguagem e passou a orientar decisões.
Essa fragilidade interna é agravada por uma chaga estrutural raramente enfrentada com honestidade: a violação sistemática dos direitos humanos. Entre os alvos permanentes da repressão estão os seguidores da Fé Bahá’í, a maior minoria religiosa do país. Prisões arbitrárias, exclusão educacional, confisco de bens e perseguição administrativa não são exceções nem excessos — são política de Estado desde 1844. Trata-se de intolerância convertida em método e fanatismo religioso institucionalizado.
No plano internacional, o cerco psicológico se fecha. Declarações ameaçadoras vindas de Washington e manifestações explícitas de apoio aos protestos por autoridades israelenses ampliaram o nervosismo em Teerã. O ataque dos Estados Unidos à Venezuela, aliado estratégico do Irã, funcionou como recado inequívoco: regimes isolados, economicamente frágeis e politicamente contestados tornaram-se alvos plausíveis.
No centro do impasse iraniano está uma economia estrangulada. As sanções impostas após a saída americana do acordo nuclear corroeram receitas, bloquearam fluxos financeiros e aprofundaram desigualdades sociais. Corrupção endêmica e má gestão completam o quadro. Resolver esse nó exigiria reformas profundas, um novo acordo nuclear e o enfrentamento direto de interesses internos cristalizados — passos que o regime demonstra não conseguir ou não querer dar.
Esse bloqueio não é exclusivo do Irã. Ele se insere em uma tendência global inquietante: a erosão acelerada do direito internacional. O sistema das Nações Unidas mostra sinais claros de exaustão enquanto guerras por território e por recursos naturais retornam ao centro da política global. Estados Unidos, China e Rússia disputam ampliação territorial, apropriação de petróleo e minerais raros, influência e rotas estratégicas. Não é detalhe irrelevante que essas potências detenham assentos permanentes no Conselho de Segurança e o poder de veto que transforma a paralisia em norma. Também não é por acaso que os cinco países membros do Conselho de Segurança da ONU são os cinco maiores fabricantes de armas do planeta. Isso exige uma pausada reflexão de cada um de nós…
Para Teerã, essa realidade se traduz em medo concreto. Autoridades avaliam que a instabilidade doméstica pode ser interpretada como janela de oportunidade para novas ofensivas militares, sobretudo diante do histórico recente de ataques direcionados a alvos iranianos.
O presidente Massoud Pezeshkian verbalizou o impensável ao admitir publicamente não ter soluções claras para a crise. Seu discurso sobre injustiça social e escuta da população contrasta com a retórica do líder supremo, que insiste em atribuir os problemas a inimigos externos e reforçar a repressão. A dissonância não é apenas retórica: revela fissuras reais no topo do poder.
É nesse ponto que a leitura estritamente política se mostra insuficiente. Em meados dos anos 2000, recebi uma mensagem calorosa de meu amigo, hoje falecido, Dom Pedro Casaldáliga. Ele evocava uma imagem atribuída a Santo Agostinho: enquanto Roma ardia e a capital eterna desmoronava, ele não gritava nem amaldiçoava o tempo histórico. Caminhava à frente de uma procissão, cantando e louvando a Deus. O bispo catalão de São Félix do Araguaia não falava de resignação, mas de lucidez. Alertava que sempre que um movimento deliberado de destruição se impõe, ergue-se, em contraponto, outro igualmente deliberado — o da reconstrução, da integração, da preservação do humano para além das ruínas visíveis. Seremos lúcidos para vermos isso?
Há também, na tradição islâmica, um hadith que narra um episódio atribuído à vida de Maomé. Ao amanhecer, corria a notícia de que a aldeia onde ele estava seria incendiada por tribos hostis naquela mesma noite. Reunidos os seguidores, o profeta os advertiu a não se alarmarem. Cada um deveria concentrar-se exclusivamente naquilo que estava sob sua responsabilidade direta. A um guardador de camelos, recomendou apenas que cuidasse dos camelos. A tradição conta que a aldeia foi destruída, mas no dia seguinte sobreviveram apenas os camelos e o seu guardador. Ele havia cumprido integralmente o conselho recebido.
Essas duas narrativas, vindas de tradições distintas, convergem para a mesma advertência moral: quando o mundo parece ruir, o pânico é estéril. O que preserva a vida, a dignidade e a possibilidade de futuro é a fidelidade aos processos de reconstrução, integração e responsabilidade concreta. É essa distinção — entre destruição ruidosa e reconstrução silenciosa — que hoje falta ao debate internacional.
Quando um regime perde, ao mesmo tempo, capacidade econômica, legitimidade moral e margem estratégica, a crise deixa de ser episódica. Passa a ser estrutural. O Irã já cruzou esse ponto.
https://revistaforum.com.br/opiniao/com-o-mundo-no-limite-precisamos-colocar-os-olhos-no-ira/
06 de janeiro de 2026
Venezuela como teste: Colômbia, Groenlândia, Cuba e Canadá na mira
Defender o direito internacional significa rejeitar sequestros, bombardeios e exceções oportunistas, preservar a soberania e afirmar a paz


Há menos de uma semana, o planeta parecia um reality show de má reputação: governos entrando e saindo do paredão geopolítico sem punição, discursos inflamados substituindo responsabilidade e a impunidade vestida de normalidade. Nestes primeiros dias de janeiro, porém, o espetáculo degringolou
Já não é reality. É um videoclipe mal editado, com iluminação precária, áudio estourado e um roteiro que se desobedece a cada cena. Só que agora não há metáfora que alivie o fato central: houve uma ruptura grave, explícita e perigosa do direito internacional.
O sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro foi apresentado por alguns como uma operação de audácia técnica. Rápida, cirúrgica, quase asséptica. Essa narrativa durou horas. Primeiro, nenhuma morte confirmada. Depois, 32. Em seguida, 40. Logo, mais de 80. Os números cresceram enquanto Washington hesitava. A vice-presidente da Venezuela exigiu prova de vida. Ela não veio de imediato.
Quando Donald Trump publicou a fotografia do presidente capturado, a imagem levantou suspeitas técnicas e simbólicas. O navio escolhido como palco do feito chamava-se Iwo Jima — um nome carregado de memória visual fabricada.
A famosa fotografia da bandeira americana em Iwo Jima, durante a Segunda Guerra, foi uma reencenação deliberada. Soldados reposicionaram a bandeira para atender fotógrafos e produzir um ícone mobilizador. A imagem virou verdade emocional, não verdade histórica. A associação com a foto de Maduro não é estética; é política. Em ambos os casos, a imagem tenta encerrar o debate antes que ele comece. Ainda assim, esse ponto é periférico. O centro da discussão é outro — e incomparavelmente mais grave.
O que ocorreu foi uma violação direta da soberania de um Estado, princípio basilar do sistema internacional moderno. Nenhuma potência, por mais poderosa que seja, pode intervir militarmente em território alheio, capturar a maior autoridade do país e removê-la à força. Isso não é matéria opinativa. É regra elementar da convivência entre nações. Quando ela é rompida, a exceção vira método e o caos ganha autorização.
A Venezuela hoje abre um precedente perigoso: amanhã podem ser Colômbia, Cuba, Groenlândia ou Canadá, se a força continuar substituindo o direito.
O contexto amplia a gravidade. Em 2025, os Estados Unidos realizaram ataques militares diretos em oito países soberanos, distribuídos por quatro grandes regiões do globo. No Iêmen, de janeiro a dezembro, bombardearam posições houthis. Na Somália, ao longo de todo o ano, executaram mais de 110 operações. No Iraque e na Síria, promoveram bombardeios massivos em dezembro contra alvos do Estado Islâmico. Em junho, atingiram três instalações nucleares no Irã. Em 25 de dezembro, atacaram o noroeste da Nigéria. Na Palestina, bombas fabricadas nos EUA foram usadas por Israel em Gaza durante todo o ano. E, em 2 de janeiro de 2026, a Venezuela entrou nessa lista. Ásia, África, Oriente Médio e América do Sul foram impactados por essa ofensiva contínua, que afetou direta ou indiretamente cerca de 490 milhões de pessoas.
Essa sequência não é acidental.
Revela uma doutrina de intervenção direta legitimada por um discurso de autoproteção, mas indiferente ao custo humano e ao colapso institucional que deixa para trás. O precedente histórico é conhecido e incômodo. Quando George W. Bush invadiu o Iraque, alegou a existência de armas químicas e biológicas. O país foi devastado, o Estado desmontado, milhões de vidas desestruturadas. Nenhuma arma de destruição em massa foi encontrada. O Iraque nunca mais se reorganizou como nação soberana funcional.
A pergunta que se impõe agora é brutal: a Casa Branca passou a tratar o petróleo venezuelano como se fosse uma arma química?
É nesse ambiente que florescem teorias da conspiração que não podem ser descartadas com desdém automático. Antes mesmo de Trump encerrar sua entrevista em Mar-a-Lago, no dia 3 de janeiro, circulava a tese de um acordo tácito entre Washington, Pequim e Moscou: os Estados Unidos ficariam com o petróleo venezuelano; a China teria liberdade sobre Taiwan; a Rússia consolidaria a anexação de parte da Ucrânia. É, sim, uma teoria conspiratória. Mas não infantil. Ela nasce do silêncio estratégico da China e da Rússia, do cinismo diplomático normalizado e da percepção de que grandes potências voltaram a negociar o mundo como espólio. Pode ser desmontada com o tempo. O fato de parecer plausível já é um sintoma alarmante.
Do ponto de vista jurídico, a operação contra a Venezuela viola frontalmente a Carta das Nações Unidas, especialmente a proibição do uso da força contra a integridade territorial e a independência política de Estados soberanos. Fere o princípio da não intervenção e da igualdade entre nações. Como advertiu Norberto Bobbio, quando a força se emancipa da norma, o direito internacional deixa de ser direito e passa a ser ornamento retórico.
Há ainda a violação de tratados de direitos humanos e do devido processo legal. Nenhum governante, por mais autoritário que seja, perde essas garantias por decisão unilateral de outro Estado.
Normalizar esse método significa substituir tribunais por comandos militares. Não é realismo político. É regressão civilizatória. E, desta vez, o mundo não assiste a um espetáculo. Assiste à demolição consciente das regras que ainda separavam a ordem do abismo.
https://www.brasil247.com/blog/venezuela-como-teste-colombia-groenlandia-cuba-e-canada-na-mira
06 de janeiro de 2026
A foto de Maduro no navio e a fabricação da verdade
Imagem divulgada por Trump afirma mostrar Maduro algemado a bordo de um navio de guerra americano, mas levanta dúvidas sobre autenticidade, contexto e intenção política
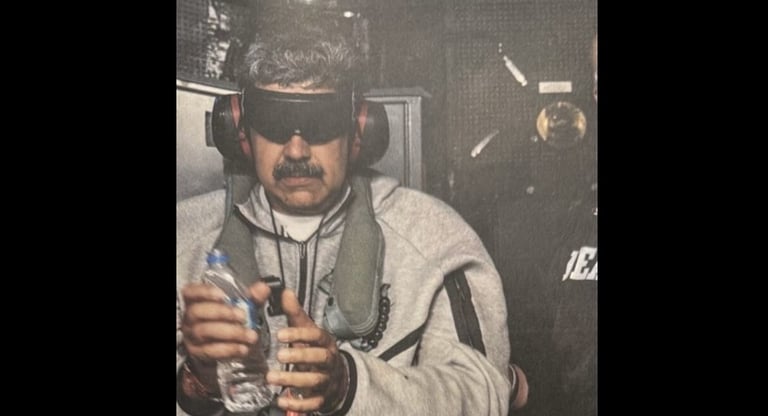
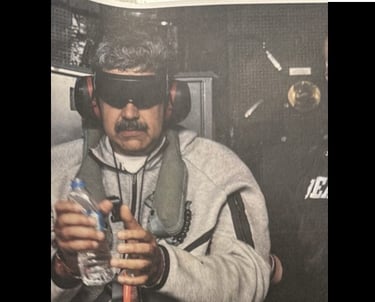
Todo cuidado é pouco em um tempo marcado por fake news, pelo uso criminoso da inteligência artificial e pela manipulação abusiva de governantes em busca do domínio do fato. Nesse ambiente saturado de imagens instantâneas e verdades precárias, a informação deixou de apenas correr — ela é frequentemente sequestrada, colocada à força em um navio retórico e levada para uma espécie de Nárnia informacional, onde o que parece real obedece menos aos fatos do que à conveniência do poder. Foi exatamente nesse território instável que surgiu a imagem de Nicolás Maduro divulgada por Donald Trump.
Poucas horas depois de Trump anunciar, em sua rede social, que forças americanas haviam capturado o presidente venezuelano, uma fotografia passou a circular com força viral. Nela, Maduro aparece vestindo calça de moletom cinza, com as mãos algemadas à frente do corpo e os olhos cobertos por uma venda escura.
O enquadramento sugere que ele estaria sentado ou contido em um espaço metálico que remete ao interior de um navio militar. A legenda escrita pelo próprio Trump afirmava tratar-se de Maduro “a bordo do USS Iwo Jima”. A imagem, de baixa resolução e recorte vertical incomum, parecia mais um registro de tela ou de um impresso do que uma fotografia jornalística convencional.
Foi essa imagem — e não apenas o anúncio político — que colocou o The New York Times diante de uma decisão editorial sensível. Trump carrega um histórico documentado de divulgar imagens falsas, e não é de hoje, manipuladas ou geradas por inteligência artificial. Durante seu mandato e nos anos seguintes, publicou montagens que o retratavam como super-herói, cenas inexistentes de prisões em massa de adversários, imagens artificialmente infladas de multidões, além de conteúdos visuais enganosos relacionados à imigração, à pandemia e às eleições americanas. Esse padrão recorrente impôs à equipe do jornal um grau máximo de cautela.
Esse comportamento não se limita a episódios isolados nem a contextos de campanha ou redes sociais. Ele reaparece também em encontros diplomáticos formais, onde imagens e registros audiovisuais passam a ser usados como instrumentos de pressão política direta, mesmo quando sua origem e veracidade são frágeis.
Na reunião de 21 de maio de 2025, na Casa Branca, Donald Trump exibiu de forma agressiva um vídeo a Cyril Ramaphosa, alegando mostrar perseguição a brancos na África do Sul. Dias depois, verificou-se que as imagens eram do Congo, país marcado por conflitos armados crônicos, em contraste com a ordem institucional sul-africana.
Antes mesmo da postagem presidencial, outras imagens que supostamente mostrariam Maduro sob custódia militar começaram a circular nas redes sociais. Em uma delas, ele aparecia com roupas diferentes, cercado por agentes armados; em outra, dentro do que parecia ser uma aeronave. Todas foram submetidas à análise dos editores de fotografia do Times, com o auxílio de ferramentas de detecção de inteligência artificial e de especialistas em desinformação. As inconsistências visuais — janelas anômalas, iluminação incoerente, proporções improváveis e variações físicas inexplicáveis — foram suficientes para descartar essas imagens para publicação.
A fotografia divulgada por Trump, contudo, exigia um tratamento distinto. Mesmo sem confirmação plena de autenticidade, ela não podia ser ignorada. Tratava-se de um documento político: um presidente em exercício apresentando ao público uma imagem que alegava comprovar uma operação militar de enorme impacto internacional. O Times decidiu publicá-la não como evidência visual do fato, mas como parte da comunicação oficial do presidente, explicitando sua origem, seu contexto e suas limitações.
Por essa razão, a imagem foi apresentada vinculada diretamente à postagem no Truth Social, e não isolada como fotografia jornalística verificada. Na edição digital, apareceu contextualizada; na versão impressa, foi publicada em página interna, longe da capa. A decisão refletiu um princípio editorial clássico: reconhecer o peso simbólico e político da imagem sem convertê-la em prova factual.
O episódio diz menos sobre a eventual queda de um líder e mais sobre o cenário informacional em que conflitos, prisões e operações militares passam a ser narrados primeiro por imagens frágeis, difundidas por autoridades interessadas em controlar a versão inicial dos acontecimentos.
Em um mundo no qual a fotografia pode ser simultaneamente arma, encenação e propaganda, o jornalismo profissional reafirma seu papel mais árduo e menos espetacular: desacelerar o impacto, desmontar a cena e devolver os fatos ao chão da realidade. Quando imagens tentam substituir a verdade, cabe ao jornalismo lembrar — com método, rigor e coragem — que nenhuma fotografia, por mais poderosa que pareça, tem autoridade para falsificar os fatos.
https://revistaforum.com.br/opiniao/a-foto-de-maduro-no-navio-e-a-fabricacao-da-verdade/
05 de janeiro de 2026
O mundo esqueceu por que 1939 terminou em guerra?
O risco surge, como na Venezuela, da escolha consciente de contornar regras básicas do direito internacional


Há menos de trinta horas, com as capitais ainda imersas na inércia do poder, alguém deslocou o eixo invisível da ordem internacional. Não houve explosões. Houve um som metálico, preciso: o fechamento de uma algema. O mundo não estremeceu. Deu sinais de fadiga. Aquele gesto técnico, quase administrativo, anunciou mais do que a retirada forçada de um governante. Expôs um sistema que já não absorve choques sem abrir rachaduras visíveis.
Não houve explosões; houve o som metálico de uma algema — e foi esse ruído burocrático, quase técnico, que expôs a fadiga da ordem internacional e a precariedade dos seus freios.
A captura de Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos, seguida de sua transferência para Nova York, não representa apenas o colapso pessoal de um líder autoritário. Ela desloca o centro do debate global para uma zona sensível, onde legalidade internacional, conveniência estratégica e responsabilidade ética deixaram de operar em conjunto. O episódio importa menos pelo personagem e mais pelo precedente que inaugura.
Em Caracas, o retrato foi ambíguo. Pequenos grupos foram às ruas em defesa de Maduro, enquanto a maioria da população se concentrava em filas por alimentos, medicamentos e combustível. Regimes podem ruir rapidamente; sociedades entram em colapso quando perdem horizonte. A Venezuela já vivia essa perda. A intervenção externa apenas a tornou mais visível.
O problema do mundo atual não é a ausência de regras, mas a decisão consciente de contorná-las sempre que deixam de ser convenientes para quem tem poder militar, econômico e capacidade de impor fatos consumados.
Questionar a legalidade e a prudência da ação americana não equivale a relativizar o chavismo. Significa reafirmar um princípio elementar: o direito internacional não existe para proteger governos, mas para limitar a arbitrariedade dos fortes e reduzir o custo humano dos conflitos.
Quando esse princípio é relativizado, o sistema inteiro se fragiliza.
É nesse ponto que surgem as comparações com 1939, frequentemente evocadas de maneira apressada. O mundo às vésperas da Segunda Guerra Mundial era estruturalmente distinto. Não havia instituições multilaterais consolidadas, a economia internacional era menos integrada e a diplomacia operava sob a lógica do isolamento e da força direta. A guerra resultou da crença de que concessões conteriam regimes expansionistas.
Em 1939, acreditou-se que ceder evitaria a guerra; hoje cresce a ilusão oposta, a de que impor resolve mais rápido — e essa pressa, travestida de eficiência, costuma produzir ruínas duradouras.
Entre 2022 e 2025, o risco não nasce da ingenuidade, mas do cálculo frio. Hoje existem tratados, fóruns permanentes, organismos internacionais e comunicação instantânea.
O problema não é a ausência dessas estruturas, mas o esvaziamento deliberado de sua autoridade.
O mundo contemporâneo não caminha para a instabilidade por falta de regras, mas pela decisão consciente de ignorá-las.
Há anos tenho escrito, lecionado e participado de debates alertando que a ordem mundial em vigor é estruturalmente defeituosa. O núcleo do problema não reside apenas nos governos, mas na ausência de unidade de pensamento, atitude e ação entre governantes e governados.
Fronteiras nacionais são construções históricas, não cláusulas pétreas da humanidade. Séculos de guerras, milhões de mortos e a destruição de avanços científicos repetem-se porque resistimos a compreender o essencial: somos um só povo, uma humanidade interdependente.
Fronteiras são construções históricas; a humanidade, não — e o preço de ignorar essa evidência tem sido séculos de guerras, milhões de mortos e a repetição teimosa de tragédias anunciadas.
O que durante décadas tratei como reflexão acadêmica começa agora a emergir no discurso internacional, ainda que de forma truncada e confusa. Líderes de diferentes matizes reclamam, quase em coro, da necessidade de uma nova ordem mundial. Falta, porém, clareza conceitual, coordenação política e um projeto comum que vá além da retórica defensiva.
A reação europeia ao episódio venezuelano aprofundou o desconforto.
Condenou a repressão interna do chavismo, mas evitou confrontar diretamente a ilegalidade da intervenção. Defendeu transições ordenadas sem indicar meios concretos. Produziu notas cautelosas, por vezes contraditórias, que revelam mais desorientação do que prudência. Em 1939, a Europa errou ao subestimar uma ameaça crescente. Hoje, erra ao diluir princípios em nome da conveniência diplomática.
Quando a força substitui o direito, o sistema internacional não se torna mais justo; torna-se mais instável, mais imprevisível e mais propenso ao arbítrio, sobretudo contra povos que já vivem sob vulnerabilidade.
Na América Latina, o impacto é imediato e profundo. A reativação explícita de uma lógica de tutela regional recoloca o continente numa posição histórica incômoda. Para países como o Brasil, o dilema é claro: evitar um colapso humanitário ainda maior na Venezuela sem legitimar precedentes que fragilizam toda a região.
O mundo contemporâneo enfrenta desafios que tornam soluções isoladas não apenas ineficazes, mas perigosas.
Pandemias, mudanças climáticas, fluxos migratórios e crises financeiras ignoram fronteiras com absoluta indiferença. Uma política internacional baseada na força pode produzir vitórias momentâneas, mas deixa passivos duradouros.
Nada disso absolve regimes autoritários. Eleições fraudadas precisam ser denunciadas. Repressões devem ser condenadas. Povos oprimidos merecem solidariedade efetiva. Mas o método importa. Quando a política abdica do direito, abdica também da responsabilidade histórica.
A história não se repete mecanicamente, mas cobra coerência. Em 1939, o preço da miopia foi uma guerra total. Entre 2022 e 2025, ainda existem escolhas reais. Preservar a paz mundial, o bem-estar dos povos e a elevação concreta da qualidade de vida não é idealismo.
É decisão ética, visionária, política. Quando essas escolhas são abandonadas, o ruído metálico da algema deixa de ser episódio isolado e passa a funcionar como advertência.
https://www.brasil247.com/blog/o-mundo-esqueceu-por-que-1939-terminou-em-guerra
03 de janeiro de 2026
Sem ONU forte, não há paz possível
Ao capturar um chefe de Estado por ação unilateral, a crise venezuelana expõe o esvaziamento do Artigo 2º da Carta e testa se o multilateralismo ainda pode conter a força


Às primeiras horas de 3 de janeiro de 2026, o mundo acordou com uma notícia que dispensa eufemismos: um Estado soberano teve seu presidente capturado por forças estrangeiras após um ataque militar anunciado por redes sociais. Ao declarar que tropas americanas realizaram uma operação de grande escala na Venezuela e retiraram Nicolás Maduro do país, o governo dos Estados Unidos não apenas derrubou um governante. Deslocou o eixo da legalidade internacional para o terreno instável da exceção, onde a força tenta substituir a regra.
Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram levados a Nova York e passaram a responder a acusações federais anunciadas pela procuradora-geral Pam Bondi, que incluem conspiração em narcoterrorismo e tráfico internacional de drogas. A moldura judicial, apresentada como desfecho racional, não encerrou o debate.
Ao contrário, intensificou a pergunta central: quem decide quando a lei pode ser suspensa? Em que momento o sistema multilateral aceita que uma potência atue como juiz, júri e executor, substituindo instâncias coletivas por operações unilaterais?
O direito internacional não deixa margem para atalhos.
O Artigo 2º da Carta da Organização das Nações Unidas consagra a igualdade soberana dos Estados, veda o uso da força nas relações internacionais e impõe a solução pacífica de controvérsias. Ao agir sem autorização do Conselho de Segurança e fora da legítima defesa imediata, Washington empurrou a legalidade para a periferia do sistema.
Esse movimento não é neutro. Ele cria precedente, normaliza o unilateralismo e fragiliza a própria ideia de ordem compartilhada.
Quando a exceção vira método, o sistema deixa de ser coletivo e passa a ser seletivo, governado por quem detém maior capacidade militar e tecnológica.
A reação do Brasil foi direta e ancorada na memória histórica. Ao afirmar que a ação militar representa flagrante violação do direito internacional e abre espaço para um mundo de “violência, caos e instabilidade”, o governo brasileiro falou de um risco que transcende a Venezuela.
Falou de um planeta em que a lei do mais forte ameaça substituir o multilateralismo, corroendo décadas de esforço para conter conflitos por meio de regras comuns. Ao defender uma resposta vigorosa da ONU e reiterar a disposição para o diálogo, o Brasil recolocou o multilateralismo no lugar que lhe cabe: instrumento de contenção do arbítrio, não ornamento retórico.
As reações globais evidenciaram fissuras profundas. Vejamos:
A Rússia classificou a ação como agressão armada e exigiu reunião urgente do Conselho de Segurança, alertando para o risco de escalada. O Irã denunciou violação da soberania venezuelana e adotou discurso de resistência à imposição externa.
A China condenou a ofensiva como contrária à Carta da ONU e ameaçadora da estabilidade regional. Não se trata de convergência ideológica entre esses países, mas de um ponto comum: a percepção de que regras frágeis produzem mundos imprevisíveis.
Na Europa, o tom variou entre prudência e desconforto institucional. A Espanha apelou à desescalada e à observância do direito internacional. Já na Alemanha, o debate expôs uma tensão real entre celebrar o fim de um governo autoritário e rejeitar o método que atropela a ordem baseada em regras construída desde 1945.
Nada disso absolve o chavismo. Ou qualquer outro “ismo”. O governo Maduro acumulou denúncias de repressão, perseguição a opositores e deterioração econômica que empurrou milhões de venezuelanos para o exílio.
O problema surge quando a punição abandona os trilhos institucionais e passa a ser conduzida por operações militares unilaterais. Justiça sem processo não fortalece o direito; destrói sua credibilidade e transforma a exceção em prática recorrente.
No plano interno venezuelano, o risco imediato é o vazio de poder. Operações desse tipo não encerram conflitos — deslocam-nos. A retirada abrupta do chefe de Estado tende a tensionar cadeias de comando, estimular disputas internas e ampliar a insegurança civil.
Será que o mundo não aprendeu nada com a guerra civil espanhola, Vietnã, Iraque, os Balcãs nos dias atuais com Gaza e a Ucrânia? Já vimos esse filme diversas vezes, já passa até na ‘sessão da tarde’ entre transmissão mundial de tão batido que é.
Há, ainda, um efeito sistêmico que ultrapassa Caracas. Sim, porque o mundo atualmente está essencialmente interconectado, o que afeta a parte, afeta o todo. Simples assim.
Quando potências passam a capturar líderes estrangeiros sob justificativas próprias, a fronteira entre política, guerra e polícia internacional se dissolve. A previsibilidade — ativo central da estabilidade global — desaparece.
É por isso que a crise venezuelana torna inadiável uma discussão que o mundo vem adiando há décadas: uma reforma profunda do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Sem representatividade ampliada, sem limites claros ao poder de veto e sem capacidade efetiva de fazer cumprir suas decisões, o Conselho seguirá incapaz de manter uma ordem mundial firmemente estabelecida na paz e no acatamento aos princípios básicos do direito internacional.
Fortalecer a ONU não significa proteger ditadores ou ignorar crimes. Significa devolver centralidade às regras, assegurar que o uso da força seja exceção rigorosamente controlada e que a justiça internacional opere com legitimidade, transparência e alcance universal.
Significa, sobretudo, reconhecer que a paz não nasce da vitória militar, mas da disciplina coletiva em respeitar o direito. É o multilateralismo, na falta de uma palavra melhor, que poderá colocar nos trilhos da paz uma ordem mundial moribunda e “lamentavelmente defeituosa”, como já é pronunciado em meados do século XIX.
Escrevo a partir de uma convicção que não é ingênua nem retórica: a paz não é apenas possível — ela é inevitável. Inevitável porque a alternativa é a normalização da barbárie; inevitável porque sociedades cansam de viver sob o império do medo; inevitável porque a história mostra que sistemas baseados na força acabam ruindo sob o próprio peso.
Se a comunidade internacional aceitar que regras sejam opcionais, a Venezuela de hoje se tornará o precedente de amanhã. Um mundo governado por anúncios unilaterais e operações noturnas não é mais seguro — é mais brutal, mais instável e menos humano.
E não há escapatória possível:
Ou a ONU se impõe como guardiã efetiva da legalidade, reformada e empoderada, ou o século XXI seguirá sendo escrito por bombardeios aéreos, invasões armadas militares, com a lei reduzida a nota de rodapé. A civilização chegou até aqui e vai optar por sua própria destruição?
https://revistaforum.com.br/opiniao/sem-onu-forte-nao-ha-paz-possivel/
03 de janeiro de 2026
“Fizeram um deserto e chamaram-lhe paz” — Tácito escreveu, dois milênios antes de Gaza
Do Império Romano à Faixa de Gaza, a História repete seu drama: chamar de paz o que, na verdade, é apenas a pausa entre duas imensas destruições.


A sentença-título deste artigo é do historiador romano Tácito, escrita há quase dois milênios, que permanece como uma lâmina moral atravessando o tempo. Era sua denúncia contra a brutalidade do Império Romano, que devastava terras inteiras em nome da ordem. Hoje, sobre as ruínas de Gaza, essas mesmas palavras soam menos como lembrança e mais como diagnóstico. Chamam de “paz” o que, na verdade, é apenas o intervalo entre duas destruições.
Não há paz quando o horizonte é um amontoado de destroços. Não há vitória quando o que resta é o silêncio mineral das cidades arrasadas.
O deserto a que Tácito se referia não era apenas geográfico, mas espiritual — o vazio que se instala quando o poder substitui a compaixão, e o cálculo político ocupa o lugar da consciência humana. Transformar a devastação em sinônimo de estabilidade é o triunfo da retórica sobre a verdade, do espetáculo sobre o humano. Gaza é hoje o reflexo moderno dessa antiga advertência: um território que implora reconstrução, mas recebe promessas com prazo de validade diplomática.
Foi nesse cenário que, no dia 13 de outubro de 2025, o mundo assistiu à assinatura do acordo de cessar-fogo entre Israel e Gaza — um daqueles raros momentos em que a História parece suspender o fôlego coletivo. As manchetes falaram em “nova era”, líderes trocaram cumprimentos e as Nações Unidas celebraram um “avanço inestimável”. Mas bastava observar o rosto exausto das famílias que regressavam ao pó de suas casas para perceber que, entre o anúncio e a realidade, ainda existe um abismo que a política não sabe preencher.
Desde janeiro, quando voltou ao poder, Donald Trump tem se empenhado em apresentar-se como artífice de acordos grandiosos — gestos rápidos, coreografias televisivas, palavras de impacto. Mas, na diplomacia, exuberância performática raramente substitui o cimento da consistência.
Basta lembrar a guerra comercial com a China: em 10 de outubro, anunciou tarifas de 100% sobre produtos chineses. Setenta e duas horas depois, recuou dizendo que “não era bem assim” e que “tudo ainda seria negociado”. Um ziguezague que deixou mercados em pânico, aliados perplexos e adversários sorrindo discretamente.
Essa volatilidade não é exceção.
No início de seu segundo mandato, Trump protagonizou sua reunião mais controversa com Volodymyr Zelensky, televisionada para o mundo. Foi ali que afirmou que “a Ucrânia deveria aceitar as condições da Rússia”, inclusive a perda de 20% do território. Palavras que abalaram a confiança de aliados europeus e projetaram a imagem de um Ocidente fraturado, confuso, descrente de si mesmo.
No caso de Israel e Gaza, as idas e vindas são ainda mais gritantes. Desde 21 de janeiro, Trump alterna entre prometer “apoio irrestrito” a Israel e acenar que “os palestinos também merecem um pedaço do paraíso”.
Em fevereiro, anunciou com pompa a ideia de uma “Riviera em Gaza” — um projeto bilionário de marinas e resorts que, segundo ele, seria “a joia do Mediterrâneo”. Nenhum estudo técnico, nenhuma garantia financeira, nenhuma coordenação internacional. Um sonho turístico sobre o terreno ainda coberto de ruínas.
Mas a realidade é inflexível.
Segundo a ONU e líderes ocidentais, a reconstrução de Gaza deverá levar setenta anos e custar cerca de 80 bilhões de dólares — o equivalente a quatro vezes o PIB conjunto da Faixa de Gaza e da Cisjordânia.
Esses números não são apenas estatísticas: são a medida da ferida. O custo da destruição foi tão colossal que o futuro se tornou um projeto para netos ainda não nascidos. Enquanto diplomatas discursam e políticos disputam holofotes, milhões aguardam por um teto, um copo d’água, uma chance de recomeçar. Nenhum resort brilha sobre o pó; nenhuma paz floresce sobre ruínas.
O problema não está na busca pela paz, mas na leveza irresponsável com que certos compromissos são assumidos. A diplomacia não é palco de improvisos.
A confiança nas palavras — e, mais ainda, nos documentos assinados — é a argamassa invisível que sustenta qualquer acordo internacional duradouro. Quando um líder anuncia promessas espetaculosas e logo as desmente, não destrói apenas sua imagem, mas a credibilidade da nação que representa.
Governos previsíveis constroem confiança; governos erráticos cultivam desordem. Propor soluções mágicas, sem amarras institucionais, é acender fósforos sobre um barril de tensões acumuladas.
O que aprendi ao longo dos anos sobre relações internacionais me faz afirmar: a diplomacia, erguida sobre séculos de prudência, não se curva à lógica do marketing político.
Chanceleres e diplomatas sabem que cada gesto é um parágrafo na História — ou um rodapé perdido nas páginas do esquecimento.
A diferença está entre quem compreende o peso do que assina e quem apenas ensaia performances para as câmeras. Por isso, por trás da esperança do cessar-fogo de hoje, permanece o risco de sua própria dissolução amanhã.
A paz não nasce de discursos coreografados, mas de compromissos verificáveis, sérios e persistentes.
Dito isso, o acordo de 13 de outubro pode, sim, ser um marco histórico. Mas, se for apenas mais uma cena do teatro das promessas, será engolido pelo vendaval da História — e o mundo, cansado, voltará a preferir o conforto ficcional de “E o Vento Levou”, de 1939.
Se isso acontecer, não será apenas a palavra de Trump que se desvaloriza.
Será, mais uma vez, a própria ideia de paz que perderá parte essencial de seu significado mais profundo.
Torçamos para que não. A ver.
14 de outubro de 2025
O agente secreto somos nós
Entre o poder e o medo, o novo filme de Kleber Mendonça transforma o esquecimento em personagem principal — e o público em testemunha silenciosa


Há filmes que entretêm, outros que encantam — e há os que ferem. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, pertence a esta última categoria: a dos filmes que abrem janelas em quartos fechados há décadas, deixando que entre a luz e que se revele o pó acumulado do silêncio. Estreia em novembro no Brasil, após conquistar o júri e a crítica internacional em Cannes, onde arrebatou prêmios de Melhor Diretor, Melhor Ator e o FIPRESCI. Mais do que aplaudido, foi compreendido. O mundo parece ter reconhecido, no cinema brasileiro, algo que vai além da estética: um gesto político, uma súplica ética, uma convocação à memória.
Wagner Moura, de volta à língua portuguesa, mostra-se em estado de urgência. De Capitão Nascimento a Pablo Escobar, sua trajetória foi atravessada por figuras que personificam a violência e o poder. Agora, o ator empresta corpo, voz e alma a um personagem que habita o subterrâneo da nação: o espião involuntário, o homem que vê demais, o sobrevivente que carrega as cicatrizes de um país que insiste em fingir que não as tem. Moura parece compreender que, no Brasil, atuar é também resistir — e que cada gesto no cinema é uma forma de reescrever a história.
Kleber Mendonça Filho, por sua vez, confirma-se como o cineasta que se recusa à neutralidade confortável. Desde O Som ao Redor, Aquarius e Bacurau, vem construindo uma filmografia que une a crítica social ao risco estético, sempre à margem do poder e no centro da lucidez. Em O Agente Secreto, o compromisso se repete: filmar não apenas um enredo, mas a memória coletiva de um país que tenta trancar sua própria consciência num porão escuro. Kleber entende que a câmera pode ser lanterna — e que filmar o Brasil é, inevitavelmente, filmar sua recusa em lembrar.
A escolha do filme para representar o país no Oscar é, nesse sentido, simbólica. Não se trata de buscar uma estatueta dourada, mas de reivindicar um lugar de fala histórica. O que o júri internacional viu foi um Brasil sem maquiagem, um cinema que não cede à nostalgia, mas que desnuda a persistência dos mecanismos de repressão, a herança do medo e o silêncio institucionalizado. O Agente Secreto fala do passado, mas o faz com o verbo do presente — e com o aviso de que a amnésia é uma forma sofisticada de ditadura.
O título não é mero artifício de roteiro. “Agente secreto” carrega em si a ambiguidade que move toda a narrativa: quem vigia e quem é vigiado? Quem silencia e quem resiste? Kleber desloca o olhar para esse território nebuloso, onde as fronteiras entre o poder e a insubmissão se confundem. É um filme que não se contenta em contar segredos: ele os devolve à superfície, como ossadas que o tempo tentou esconder.
Assistir a O Agente Secreto será, portanto, menos um ato de consumo cultural e mais um gesto político. O impacto do filme não se medirá pela bilheteria, mas pela inquietação que deixará em cada espectador. Ao sair da sala escura, o público talvez perceba que o verdadeiro protagonista não é o espião, nem o vilão, nem o Estado oculto — mas a própria sociedade, cúmplice e esquecida. O cinema, quando fiel à sua vocação, não consola: interroga.
Graciliano Ramos, que conheceu as celas e os interrogatórios, escreveu que “o medo é uma doença que corrói a gente por dentro”. Kleber Mendonça parece responder, quase um século depois: o cinema é um antídoto possível. Ele não cura a ferida — mas impede que cicatrize por esquecimento. A película se torna pele, e a projeção, um espelho onde o país se vê, se envergonha e talvez, um dia, se redima.
Em novembro, quando as luzes se apagarem e a tela se acender, O Agente Secreto não chegará apenas como mais uma estreia. Chegará como manifesto: contra o esquecimento que se disfarça de perdão, contra o revisionismo que finge inocência, contra o hábito de cair nos mesmos abismos com os olhos bem abertos. Será um lembrete de que recordar é resistir — e que a memória, por mais dolorosa, é o último reduto da liberdade.
13 de outubro de 2025
O Nobel da Paz foi para Corina Machado
A Casa Branca fez beicinho, Oslo manteve o pulso firme — e o mundo descobriu que vaidade não traz paz
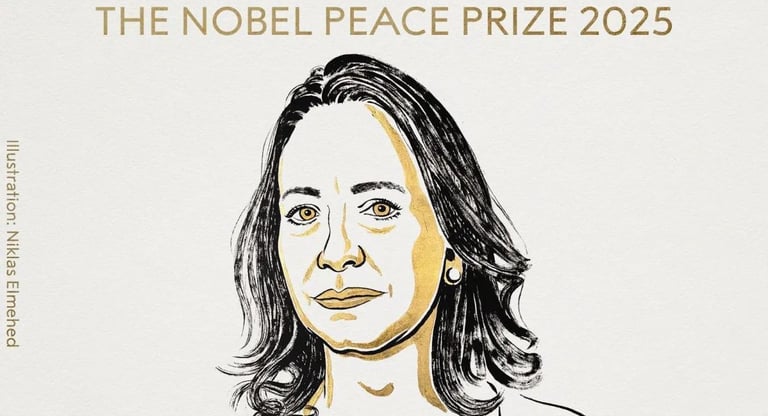
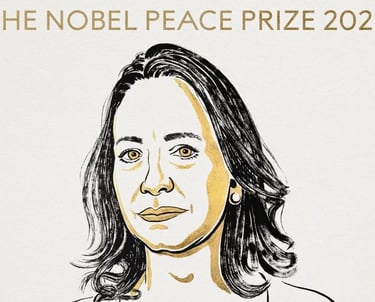
Era de se esperar: a revolta de Donald Trump por não conquistar o Nobel da Paz 2025 estourou como uma tempestade. A decisão do comitê norueguês, anunciada hoje, premiou a líder da oposição venezuelana María Corina Machado — e não o presidente dos Estados Unidos — o que levou a Casa Branca a reagir com fogo e veneno.
Nos principais jornais do mundo, a manchete é unânime: “Trump perde o Nobel da Paz para Corina Machado” (The Guardian); “Trump volta a ficar de fora do Nobel, mesmo com nomeações de peso” (Associated Press); “Comitê do Nobel prioriza política em vez de paz, acusa Casa Branca” (Reuters); “Governo Trump critica escolha e ameaça retaliações” (Bloomberg/análise); e ainda: “Noruega teme reação agressiva de Trump se ele não ganhar o prêmio” (The Guardian).
Play Video
A frustração da Casa Branca diante da decisão do Nobel da Paz foi explícita. O governo de Donald Trump criticou hoje a decisão do comitê norueguês por conceder o prêmio da paz a María Corina Machado e não ao presidente dos EUA.
“O presidente Trump continuará fazendo acordos de paz, encerrando guerras e salvando vidas. Ele tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, capaz de mover montanhas com a força de sua vontade”, disse o porta-voz da Casa Branca, Steven Cheung, em uma publicação no X.
“O Comitê do Nobel provou que prioriza a política acima da paz”, insistiu. Em outras palavras, o discurso oficial ecoa o ressentimento: Trump afirma ter sido preterido por razões políticas, não por falta de méritos para a paz.
No noticiário internacional, analistas lembram que muitas das nomeações ao Nobel para Trump chegaram após o prazo limite, o que inviabilizou formalmente sua candidatura para 2025 — não era suficiente apenas “ganhar apoios” depois. Também se apontam contradições mais amplas: Trump reivindica papéis de mediador em conflitos globais, como o cessar-fogo entre Israel e Hamas, mas seus críticos questionam até que ponto essas iniciativas foram efetivas — ou se foram exageros retóricos.
Do lado norueguês, fala-se que o comitê tomou a decisão antes do anúncio público do plano de paz para Gaza, justamente para evitar que o impulso momentâneo influenciasse o resultado. E há temor oficial em Oslo: autoridades vinham se preparando para uma eventual retaliação diplomática ou econômica por parte de Trump.
Trump, segundo declarou, já teria “parado oito guerras” — algo que, segundo ele, “nunca antes havia ocorrido” — e essas alegações reforçariam a mágoa de não ser reconhecido. Em entrevistas anteriores, ele insinuou que seria um “grande ultraje” se não ganhasse.
Ontem, a Casa Branca se valeu desse discurso heroico: para os apoiadores, Trump é um tipo de redentor global que está sendo injustamente punido. A tática retórica é clara — como ele próprio disse: o comitê “prioriza política acima da paz”.
A repercussão não recai apenas sobre Trump, mas sobre o próprio valor simbólico do Nobel da Paz. Se um ex-presidente tão controverso — com elevada rejeição interna e políticas polarizadoras — é publicamente hostilizado por não receber o prêmio, o Nobel corre o risco de parecer politizado.
Mesmo entre americanos, a desaprovação é expressiva: uma pesquisa do Washington Post–Ipsos mostrava que 76% dos cidadãos acreditam que Trump não merece o Nobel da Paz.
A decisão de premiar María Corina Machado vai além de ignorar Trump — ela é interpretada por muitos como uma manifestação clara de onde o comitê quis colocar seu voto: na democracia, na oposição ao autoritarismo, no símbolo da resistência venezuelana.
Talvez isso magnifique ainda mais a ira de Trump — que terá agora de fazer da sua revolta discurso internacional, maratona diplomática e – inevitavelmente – nova narrativa política.
https://www.brasil247.com/blog/o-nobel-da-paz-foi-para-corina-machado-e-trump-perdeu-mane
11 de outubro de 2025
Chico Buarque e a farsa de quem se diz silenciado, por Washington Araújo
Ao chamar de censura o que é justiça, transformam a mentira em bandeira e a calúnia em espetáculo. Chico só pede o que é seu: respeit0
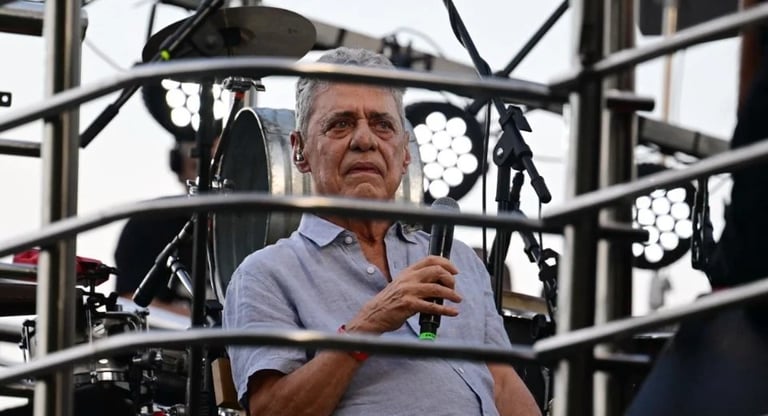
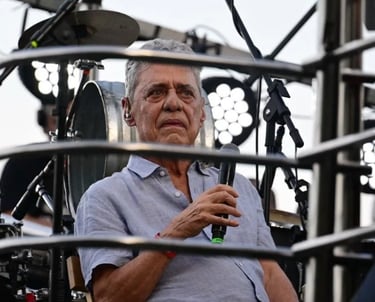
Há um velho truque na política contemporânea: transformar a própria responsabilização em espetáculo. A mais recente encenação vem da vereadora suplente Samantha Cavalca (sim, não é Cavalcante), que declarou estar sendo “censurada” por Chico Buarque — o artista que, desde os anos de chumbo, enfrentou repressões, exílios e juízos de poder com a arma mais profunda que conheceu: a poesia. O contraste é gritante: quem foi silenciado pela ditadura hoje é acusado de “calar” quem usurpa sua obra para disseminar falsidades.
Chico não está sendo julgado — ele é quem recorreu à Justiça. Moveu ação contra Ratinho, o youtuber Thiago Asmar e a vereadora, por acusações públicas infundadas de que teria recebido verba irregular pela Lei Rouanet. A Justiça determinou: apresentem provas ou retratem-se em cinco dias, sob pena de responsabilização. Não se trata de cercear opinião, mas de exigir verdade diante de uma calúnia travestida de discurso.
A confusão entre expressão livre e mentira é terreno fértil para oportunistas. Nas redes, muitos invocam “meu direito de falar” como salvo-conduto moral, esquecendo que todo direito vem acompanhado de dever. Quando o contraditório chega, o discurso se converte em narrativa de vítima — e o acusado em herói. Samantha gravou vídeos, lamentou suposta falta de salário, pediu doações via PIX, transformando o processo em tribunal emocional e a mentira em bandeira política.
Tinha cinco anos de idade quando ouvi, pela primeira vez, A Banda, na voz de Nara Leão. Aquela canção leve e transparente me apresentou ao poder que a música tem de enfeitar o cotidiano com humanidade. Aos dez anos, escutei Olê, Olá e A Rita — e percebi que Chico compunha mais do que melodias, criava um espelho para o país. Aos treze, ouvi Construção: foi ali que entendi que a arte pode desconstruir para ressurgir. Desde então, sua poética acompanhou meus anos de juventude e me vestiu na maturidade.
É uma lástima ver criaturas sem ética nem pudor usarem a obra dele para defender o indefensável — exaltar os anos de chumbo, justificar o autoritarismo, promover o ódio e o desprezo pelo outro. Nada mais vil do que usar versos de amor e liberdade como combustível de intolerância. E fazê-lo em nome de um artista cuja trajetória é símbolo de resistência e consciência.
O falsificador se diz vítima
A narrativa de “estou sendo censurada” costuma nascer quando a Justiça exige responsabilidade. É uma manobra semântica que inverte papéis: o falsificador se diz vítima, o autor se torna agressor, e o ato de exigir verdade é travestido de tentativa de silenciamento. Trata-se de um truque perigoso — confunde responsabilizar com calar e transforma o delinquente moral em mártir da pós-verdade.
Chamar de censura o que é simples exigência judicial é operar um truque político que eleva a impunidade ao status de liberdade. A censura prévia é crime de Estado; a responsabilização posterior é o alicerce da civilização democrática. Quem acusa falsamente não exerce liberdade: comete abuso. E quem reage a isso não persegue — apenas protege o sentido da palavra “justiça”.
Chico já disse: “Este é um governo que não fala fino com os Estados Unidos nem grosso com a Bolívia.” A frase é uma síntese magistral da ética do equilíbrio: nem servilismo aos poderosos, nem arrogância com os frágeis. É o retrato da lucidez política que ele imprime em suas letras e em sua vida.
Em outro momento, afirmou: “Quero me juntar às vozes que denunciam o genocídio de palestinos em Gaza.” Essa declaração reafirma a coerência moral de sua arte: para Chico, política é um modo de amar o mundo, não de explorá-lo.
E ainda: “Às vezes o que a gente procura não é o que a gente procura, é o que a gente encontra.” Aparentemente leve, essa frase revela uma pulsão profunda — a descoberta de sentido no inesperado, a lição de que a vida é feita de encontros que não cabem no cálculo da razão.
Ironia histórica
Há ironia histórica: o homem que enfrentou o AI-5 e desafiou generais com versos dissimulados precisa agora se defender de acusações vulgares feitas sob o pretexto de liberdade. Antes, o censor usava farda; agora, usa algoritmo. A diferença é que, naquela época, queriam calar a arte — hoje, querem sequestrá-la para servir ao ódio.
Responsabilidade é o nome civilizado da liberdade. Sem ela, o debate público se degrada em lamaçal, e a reputação, em troféu miserável. Distinguir censura de responsabilização é uma urgência democrática. A democracia não exige silêncio — exige decência, verdade e consciência.
Quem fala o que quer, cedo ou tarde, terá de responder — não como vítima, mas como autor de suas palavras. Isso não é censura. É justiça.
09 de outubro de 2025
A promessa da paz mundial não prescreveu — o que prescreveram foram as desculpas
Quarenta anos de promessas desfeitas não anularam o chamado. A paz é obrigação urgente, não luxo diplomático


Há documentos que não envelhecem.
São como bússolas espirituais: mantêm-se de pé mesmo quando os ventos políticos, econômicos e sociais sopram em direções opostas. “A Promessa da Paz Mundial aos Povos do Mundo” é um desses marcos. Longe de ser peça de arquivo, permanece como referência incômoda e luminosa, capaz de revelar a distância entre o que se proclamou e o que se pratica.
Quarenta anos depois, a humanidade parece estar numa encruzilhada ainda mais sombria. De um lado, a sofisticação tecnológica que conecta bilhões em segundos. De outro, a multiplicação de guerras, a expansão de regimes autoritários, a destruição ambiental e a indiferença diante de milhões de vidas descartáveis. A promessa de paz não se extinguiu — mas está sitiada.
O texto de 1985 ousava afirmar que a paz não era sonho utópico nem mera aspiração, mas possibilidade concreta, condição inevitável para a sobrevivência da humanidade. Hoje, essa ousadia soa quase heresia num mundo em que as guerras transmitem em tempo real corpos despedaçados, enquanto líderes disputam manchetes e votos como quem joga xadrez com a morte. Mas é precisamente aí que o documento recupera sua atualidade: ele não fala de paz como ausência de guerra, e sim como construção paciente de justiça, equidade, educação, respeito aos direitos humanos e unidade.
A paz não é resultado automático de conferências internacionais, tratados comerciais ou cúpulas diplomáticas. É consequência de um pacto civilizatório que começa nas entranhas da cultura e da consciência coletiva. Quando a promessa alerta que a paz exige nova forma de pensar e agir, aponta para uma revolução interior tão radical quanto qualquer transformação política. Sem ela, não há sistema que resista.
Os anos que se seguiram ao lançamento da Promessa revelaram contradições eloquentes. A queda do Muro de Berlim foi saudada como aurora da liberdade; três décadas depois, erguem-se novos muros, físicos e simbólicos. As Nações Unidas ganharam protagonismo ao declarar 1986 como o Ano Internacional da Paz; hoje, a ONU se debate entre impotência e irrelevância diante das grandes potências que a usam como tabuleiro.
E, no entanto, a chama persiste.
O documento desafia cada geração a não se conformar com a lógica do medo e da violência. Sua voz lembra que a humanidade não é soma de tribos isoladas, mas um único organismo vivo — e, quando um de seus membros sangra, todo o corpo sofre. Isso deveria bastar para despertar em nós o incômodo de ver povos indígenas massacrados em silêncio, mulheres vítimas do feminicídio cotidiano, ciganos empurrados para a invisibilidade social. Não são notas de rodapé: são feridas abertas que negam a promessa.
É nesse ponto que o estilo de 1985 encontra o desafio de 2025.
O documento falava ao futuro; cabe a nós assumir o presente. As palavras “unidade na diversidade” não podem ser slogans reciclados em discursos oficiais: precisam tornar-se prática política, pedagógica e cultural.
E aviso aos desorientados navegantes: não se trata de uniformizar o mundo, mas de aprender com a diferença sem transformá-la em sentença de exclusão.
Um artigo como este não pode terminar em tom de editorial otimista. A realidade não autoriza ingenuidades. Mas também não cabe render-se ao cinismo dos que decretam a paz impossível. O que aquele manifesto de 1985 nos oferece é um convite: olhar de frente a brutalidade do mundo sem abdicar da ternura como estratégia de sobrevivência.
Se a promessa de paz mundial parece cada vez mais distante, é porque ainda não decidimos pagar o preço de sua concretização. Esse preço se chama coragem: coragem de rever privilégios, redistribuir recursos, enfrentar injustiças, desmontar preconceitos, transformar instituições. A paz não será dada de presente; será conquistada no suor, no diálogo, na persistência. Foi nesse espírito que “A Promessa da Paz Mundial” foi emitida pela Comunidade Internacional Bahá’í em 1985 e, no ano seguinte, 1986, entregue a reis, presidentes e primeiros-ministros — em suma, aos governantes da Terra — muitas vezes de forma oficial em audiências solenes, como chamado à consciência planetária e lembrete de que a paz depende de escolhas humanas, não de milagres.
Agora, quatro décadas depois, a Câmara dos Deputados do Brasil convocou para o dia 14 de outubro próximo, às 14 horas, uma audiência pública para assinalar os 40 anos da publicação de A Promessa da Paz Mundial aos Povos do Mundo. Será um momento histórico de reflexão inadiável sobre o conteúdo do documento, que permanece, a cada dia, mais atual e urgente. Entre discursos e análises, o essencial não será apenas recordar o passado, mas assumir que a promessa é um desafio presente, que exige de todos responsabilidade, coragem e compromisso coletivo.
Quarenta anos depois, o documento não é uma peça nostálgica. É um grito que atravessa décadas e expõe nossa covardia coletiva. A História nos observa — implacável, paciente, mas impiedosa com a omissão. A cada geração cabe decidir se perpetua o ciclo de violência ou se ousa rasgar o roteiro da barbárie para escrever páginas inéditas. A promessa não perdeu sua validade, tampouco prescreveu. O que se tornou insustentável, dia após dia, é a desculpa esfarrapada — e cínica — de que a paz seria impossível.
A paz não é utopia distante: é urgência concreta, condição de sobrevivência, exigência moral inadiável. Recusá-la é decretar a falência da humanidade. Abraçá-la é, finalmente, escolher não sobreviver apenas, mas viver com dignidade.
03 de outubro de 2025
Gaza dos grandes silêncios e dos pequenos pés
Enquanto você lê isso, uma mãe em Gaza reconhece o corpo de seu filho por um sapato que ela mesma amarrou pela manhã


Enquanto você lê isso, alguém está escolhendo um filtro para uma foto no Instagram. Enquanto você lê isso, uma mãe em Gaza reconhece o corpo de seu filho por um sapato que ela mesma amarrou pela manhã, naquele tempo que parece uma eternidade, quando ainda existia manhã.
O mundo gira em velocidades diferentes. Aqui, corremos atrás de notificações que piscam na tela como vaga-lumes digitais. Lá, o tempo parou no momento exato em que um sapato pequeno se tornou a única certeza em meio ao caos, a única verdade que resta quando tudo o mais vira pó.
Ela segurava aquele pé pequeno há poucos anos, contando dedos como quem conta tesouros. “Um, dois, três…” e o riso dele ecoava pela casa. Agora, conta apenas silêncios. Agora, o sapato é maior que todas as palavras do mundo, mais pesado que todos os discursos, mais verdadeiro que todas as promessas.
Nós, do lado de cá da tela, analisamos “atualizações”. Curtimos, compartilhamos, comentamos. Transformamos tragédias em conteúdo, dor em dados, lágrimas em estatísticas. Mas como se quantifica o peso de um sapato nas mãos de uma mãe? Como se mede a distância entre o nascimento e a morte quando cabem numa única vida pequena?
O passado que ela sente falta não é nostálgico - é presente interrompido, futuro roubado. É a memória de pequenos pés correndo pela casa, de sapatos espalhados pela sala, de brigas bobas sobre amarrar o cadarço. Agora, o sapato é monumento, é lápide, é tudo o que restou de uma história que mal começou.
Há quem diga que não devemos nos deixar abater, que a vida continua, que é preciso seguir em frente. Mas como seguir quando o mundo se dividiu entre aqueles que vivem e aqueles que apenas sobrevivem? Como continuar quando a nossa pressa em “atualizar” se tornou obscena diante da necessidade dela de simplesmente respirar?
Ela o viu nascer para que pudesse estar presente na sua morte. Não é assim que deveria ser. Não é assim que prometemos que seria. Mas é assim que é, e o sapato ali, pequeno e terrível, nos lembra que enquanto filosofamos sobre a existência, algumas pessoas a perdem pedaço por pedaço.
Em Gaza, não há duas dores iguais, mas todas têm o mesmo peso: o peso de um mundo que esqueceu como abraçar o presente, como proteger o futuro, como honrar a vida que pulsa antes de se tornar memória.
O sapato fica. A mãe fica. A dor fica.
E nós? Nós seguimos atualizando, numa velocidade que não consegue mais alcançar o que realmente importa: o momento frágil e precioso em que a vida ainda é possível, em que ainda há tempo de amarrar o sapato, de contar os dedos, de dizer “eu te amo” antes que seja tarde demais.
Talvez a verdadeira atualização seja essa: parar de correr atrás do que muda para abraçar o que permanece. O amor permanece. A memória permanece. A responsabilidade de cuidar uns dos outros permanece.
Mesmo quando só resta um sapato para contar a história toda.
https://www.brasil247.com/blog/gaza-dos-grandes-silencios-e-dos-pequenos-pes
03 de julho de 2025
O dia em que a ciência tocou o inferno
Não há neutralidade no conhecimento nuclear; toda descoberta carrega um destino, e todo avanço exige responsabilidade
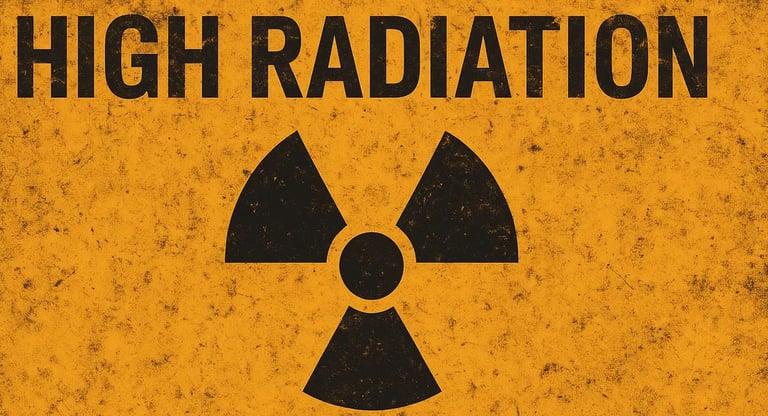

Na manhã de 21 de maio de 1946, em um laboratório do deserto do Novo México, o brilho azul de uma explosão silenciosa e invisível selava o destino de um homem e marcava para sempre a história da ciência. Louis Slotin, físico brilhante e veterano do Projeto Manhattan, protagonizava uma das mais infames tragédias da era atômica — o episódio que ficaria conhecido como o acidente do “núcleo demônio”.
Quase oito décadas depois, enquanto o mundo acompanha com apreensão os esforços diplomáticos e militares para impedir que o Irã desenvolva armas nucleares, esse episódio histórico ressurge como advertência eloquente: o poder atômico, mesmo em mãos experientes, é volátil, imprevisível e devastador. O que Slotin enfrentou com as próprias mãos — uma reação descontrolada em frações de segundo — continua assombrando os corredores da geopolítica contemporânea, onde erros de cálculo e atos de arrogância podem incendiar o planeta inteiro.
Era o fim de uma era e o início de outra. A Segunda Guerra Mundial havia terminado meses antes, com os horrores de Hiroshima e Nagasaki ainda pulsando na memória coletiva. Em Los Alamos, onde fora forjada a era nuclear, cientistas tentavam retomar suas carreiras acadêmicas, enquanto as ogivas e os experimentos radioativos sobreviventes do conflito jaziam entre prateleiras e cofres de chumbo. Um deles, uma esfera de plutônio de 14 libras, ganharia notoriedade sombria — já havia ceifado a vida de um cientista, Harry Daghlian, em agosto de 1945. Mesmo assim, ali estava ela novamente, à espera de mais um teste.
Louis Slotin, canadense, 35 anos, era conhecido tanto por sua genialidade quanto por uma inquietante autoconfiança. Ele havia participado do desenvolvimento da bomba que destruiu Nagasaki e conhecia profundamente os limites do plutônio. Mas preferia testar esses limites com as próprias mãos. Em vez de usar ferramentas remotas, como recomendavam os protocolos de segurança, manipulava manualmente os componentes radioativos — um estilo que seus colegas chamavam de “cutucar o rabo do dragão”.
Foi exatamente isso que ele fez naquele dia: diante de outros cientistas, Slotin conduzia um experimento de criticidade, aproximando lentamente duas semiesferas de berílio ao redor do núcleo de plutônio para observar a reflexão de nêutrons. Segurava tudo com as mãos, separando as peças com a ponta de uma simples chave de fenda. Um gesto arriscado, milimétrico, cuja margem de erro era zero.
O erro, no entanto, veio. A chave de fenda escorregou, as semiesferas se fecharam completamente por um instante, e o núcleo atingiu a massa crítica. Uma súbita luz azul — o clarão fantasmagórico da radiação Cherenkov — iluminou a sala. O ar estremeceu. Slotin, com reflexo fulminante, separou as peças à força com os dedos, encerrando a reação e salvando a vida de seus colegas. Mas o preço seria altíssimo.
Estima-se que Slotin tenha absorvido cerca de 1.000 rads de radiação de nêutrons e raios gama — uma dose absolutamente letal. O que se seguiu foi um calvário descrito por médicos como “uma queimadura solar tridimensional”. Nos dias seguintes, ele enfrentou vômitos, confusão mental, queimaduras severas, falência múltipla de órgãos e, por fim, a morte, nove dias depois. Seu corpo, lentamente destruído por dentro, tornou-se símbolo trágico da exposição aguda à radiação.
O núcleo, envolto em silêncio e temor, jamais seria usado novamente em testes ou armas. Ganhou o apelido definitivo de “demon core” — o núcleo demônio — e tornou-se um artefato simbólico da fronteira tênue entre conhecimento e arrogância, ciência e fatalidade.
Um espelho para os perigos da era nuclear - O caso de Slotin transcende o mero acidente laboratorial. Ele expõe a vulnerabilidade do ser humano diante das forças que ele próprio desencadeia. Em plena aurora da era atômica, cientistas e militares se moviam entre a euforia do poder recém-descoberto e o terror de suas possíveis consequências. O “núcleo demônio” não era apenas uma esfera de metal radioativo — era o reflexo de uma civilização fascinada pelo domínio do incontrolável.
Slotin não era um aventureiro. Era um cientista altamente capacitado, consciente dos riscos, mas também moldado por uma cultura científica em que os limites da precaução ainda eram maleáveis, especialmente em um mundo saindo da guerra total. Sua morte brutal foi, ao mesmo tempo, um grito de alerta e um pedido póstumo de prudência.
A Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, criada pouco depois, impôs regras mais rígidas e baniu testes manuais desse tipo. Mas o preço já havia sido pago — não apenas em vidas humanas, mas em consciência histórica.
O legado sombrio do “dragão atômico” - Em tempos em que se discute a volta da corrida armamentista, o uso civil da energia nuclear e os riscos de catástrofes como Chernobyl ou Fukushima, relembrar o caso Slotin é mais do que revisitar um episódio trágico: é compreender o abismo ético que a ciência pode tocar quando desprovida de limites morais e segurança rigorosa.
Hoje, o “núcleo demônio” repousa apenas na memória da história, mas seu brilho azul — aquela cintilação breve e letal — continua iluminando a consciência de cientistas, historiadores e políticos. Ele nos lembra que não há neutralidade no conhecimento: toda descoberta carrega um destino, e todo avanço exige responsabilidade.
Hoje, o “núcleo demônio” repousa apenas na memória da história, mas seu brilho azul — aquela cintilação breve e letal — continua iluminando a consciência de cientistas, historiadores e líderes políticos. Ele nos recorda que a energia nuclear não é apenas uma conquista científica: é uma fronteira moral. O episódio que ceifou a vida de Louis Slotin com uma reação crítica descontrolada, acionada por um deslize de segundos, é o espelho do risco que ainda paira sobre o mundo.
Na última semana, os Estados Unidos realizaram uma ofensiva militar de alto impacto, atingindo instalações nucleares do Irã em Fordow, Natanz e Isfahan — uma ação que buscou desarticular, à força, o avanço de um programa que, segundo alertas da Agência Internacional de Energia Atômica, já operava perigosamente próximo da capacidade armamentista. A ironia sombria é que, tanto no deserto de Los Alamos quanto no subterrâneo das cidades iranianas, o mesmo dilema permanece: como conter a potência do átomo quando a ambição humana o transforma em arma?
Richard Feynman, também participante do Projeto Manhattan, alertou que “a ciência é como uma chave: pode abrir a porta do paraíso ou do inferno”. Seu aviso, feito décadas atrás, permanece assustadoramente atual. As decisões tomadas por governos e militares diante da ameaça nuclear não são apenas questões estratégicas ou de segurança nacional — são apostas sobre o destino da civilização.
A morte de Slotin, heróica em sua tentativa desesperada de salvar os colegas, foi também o preço da arrogância científica desprovida de humildade. Hoje, ao ver o planeta novamente à beira do precipício atômico, com armas capazes de destruir cidades inteiras em minutos, a história nos cobra sensatez. Que os líderes do presente — e os que vierem depois — compreendam, enfim, que o verdadeiro poder não está em dominar o átomo, mas em dominar a si mesmos. Só assim o conhecimento deixará de ser maldição e voltará a ser caminho para a paz.
https://www.brasil247.com/blog/o-dia-em-que-a-ciencia-tocou-o-inferno
30 de junho de 2025
Entre guerras e vulcões temos a fragilidade humana ainda na corda bamba
A tragédia de Juliana e a instabilidade global compartilham uma essência: a imprevisibilidade e o potencial devastador de forças mal controladas


A tragédia da brasileira no vulcão Rinjani e o cessar-fogo na guerra entre Israel, EUA e Irã expõem a fragilidade humana e global. Enquanto a morte de Juliana Marins reflete a força implacável da natureza, a frágil trégua geopolítica, violada por ambos os lados em menos de 15 horas, mantém o mundo em alerta. Sensatez é urgente para conter os ventos da guerra.
Tragédia no Monte Rinjani
No coração do vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, Indonésia, a brasileira Juliana Marins, de 26 anos, perdeu a vida. A publicitária de Niterói (RJ), que mochilava pela Ásia desde fevereiro de 2025, caiu cerca de 300 metros em uma trilha remota na madrugada de sábado, 21 de junho, durante uma expedição ao Monte Rinjani. Localizada inicialmente por um drone, debilitada, em uma fresta rochosa próxima ao cume, Juliana foi encontrada sem vida por volta das 11h da manhã de terça-feira, 24 de junho, segundo autoridades indonésias.
O vulcão, com 3.726 metros de altitude, tem encostas traiçoeiras, marcadas por neblina densa, ventos cortantes e pedras escorregadias, que tornaram o resgate uma missão desafiadora. A família de Juliana, liderada por sua irmã Mariana Marins, denunciou negligência do guia local e desinformação das autoridades.
A Embaixada do Brasil em Jacarta acompanha o caso e organiza a repatriação do corpo. Mariana, em entrevista ao g1, expressou a dor: “Perdemos nossa irmã, mas lutaremos por justiça.” O perfil “Resgate Juliana Marins” no Instagram, que mobilizou milhares de seguidores, agora é um espaço de luto e homenagens.
Alívio geopolítico frágil
A 15 mil quilômetros dali, o mundo respira aliviado, mas com cautela, após uma crise que ameaçava uma escalada global. Na noite de 23 de junho de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, via Truth Social, um “cessar-fogo completo e total” no Irã, marcando uma pausa nas hostilidades desencadeadas por ataques dos EUA às instalações nucleares iranianas.
O acordo, mediado pelo Qatar, previa que o Irã mantivesse o cessar-fogo a partir da meia-noite de 24 de junho (horário da Costa Leste dos EUA). A notícia trouxe alívio temporário às tensões que colocavam a humanidade em um equilíbrio precário, semelhante à encosta onde Juliana perdeu a vida.
No entanto, menos de 15 horas após o anúncio, tanto Israel quanto o Irã foram acusados de violar a trégua, reacendendo temores de uma nova escalada.
Violações do cessar-fogo
A frágil trégua anunciada por Trump foi abalada por ações de ambos os lados, que trocaram acusações de violações nas primeiras horas de 24 de junho. Segundo a Associated Press, Israel realizou uma intensa onda de bombardeios em Teerã pouco antes do início oficial do cessar-fogo, atingindo alvos ligados ao Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos (IRGC) e instalações militares no oeste do Irã.
O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, justificou os ataques como uma resposta preventiva a supostos preparativos iranianos para novos lançamentos de mísseis, mas a magnitude dos bombardeios — descrita por Trump como “a maior carga de bombas que já vi” — foi criticada pelo presidente americano, que expressou frustração pública com Israel.
Não há relatos precisos de vítimas desses ataques israelenses, mas fontes iranianas indicam danos significativos a infraestruturas militares, com pelo menos cinco feridos em um prédio residencial em Teerã que abrigava uma padaria.
Por sua vez, o Irã lançou uma série de mísseis balísticos contra Israel na madrugada de 24 de junho, logo após o início do cessar-fogo. A agência Magen David Adom, serviço de emergência de Israel, confirmou que pelo menos quatro pessoas — dois homens, uma mulher e uma quarta vítima não identificada — foram mortas em Beersheba, no sul do país, devido a um ataque de mísseis que danificou edifícios residenciais e veículos. Oito outras pessoas ficaram feridas, e o ataque forçou civis em todo o país a buscar abrigo por quase duas horas.
O Irã negou que os mísseis tenham sido lançados após o cessar-fogo, alegando que a “última rodada” ocorreu minutos antes da trégua, mas Israel reportou novos projéteis após as 12h15 (horário local), segundo o Exército israelense.
A televisão estatal iraniana SNN afirmou que os mísseis atingiram “o coração dos territórios ocupados”, mas não especificou alvos. Trump, em declarações à imprensa, lamentou as violações de ambos os lados, dizendo: “Israel e Irã violaram o acordo. Não estou feliz com nenhum dos dois.”
Paralelos entre tragédia e diplomacia
A tragédia de Juliana e a instabilidade global compartilham uma essência: a imprevisibilidade e o potencial devastador de forças mal controladas. O Monte Rinjani, segundo maior vulcão da Indonésia, é uma atração turística, mas sua trilha exige preparo. Juliana, nadadora e praticante de pole dance, estava equipada, mas a combinação de um guia inexperiente, condições climáticas adversas e terreno complexo a deixou vulnerável.
No cenário global, a tempestade geopolítica, agravada pelas violações do cessar-fogo, deixa cicatrizes. O Irã, até dias atrás, estava próximo de enriquecer urânio a 90%, segundo Rafael Grossi, da AIEA, em 18 de junho de 2025. O cessar-fogo, após negociações com Qatar e os EUA, foi uma vitória diplomática para Trump, mas as ações de Israel e Irã nas últimas horas mostram que a trégua é frágil.
Operação Martelo da Meia-Noite
Em 21 de junho de 2025, os EUA lançaram a Operação Martelo da Meia-Noite, bombardeando as instalações nucleares iranianas de Fordow, Natanz e Isfahan. Fordow, uma fortaleza subterrânea, foi atingida por 14 bombas GBU-57, sofrendo danos significativos, mas a extensão do impacto é incerta. Natanz teve sua infraestrutura elétrica e centrífugas danificadas, enquanto Isfahan sofreu ataques a laboratórios.
O Irã, que evacuou as instalações, pode ter preservado parte de seu urânio, levantando dúvidas sobre a eficácia dos bombardeios. Coordenados com Israel, os ataques foram justificados por Trump como medida para “neutralizar” o programa nuclear iraniano, mas o cessar-fogo, agora violado, sugere que a pressão diplomática é insuficiente para conter as tensões.
Estreito de Ormuz: Tensão latente
A ameaça iraniana de fechar o Estreito de Ormuz, aprovada em 22 de junho, intensificou a crise. Essa passagem, vital para 20% do petróleo mundial, é suscetível a bloqueios pelo Irã, que possui barcos rápidos e minas navais.
O cessar-fogo alivia o risco, mas a Quinta Frota dos EUA permanece em alerta. O preço do petróleo Brent, que subiu de USD 70 para USD 78-80, pode estabilizar, mas analistas alertam para picos de USD 120-130 se as negociações falharem.
Um bloqueio afetaria cadeias globais, elevando custos de combustíveis e bens, com impactos severos em países como Brasil, Japão e Coreia do Sul.
Reações internacionais
Rússia e China condenaram os ataques dos EUA, mas apoiam cautelosamente o cessar-fogo. A Rússia criticou a violação do direito internacional, enquanto a China, dependente de Ormuz, pediu diálogo. Ambos propuseram uma resolução na ONU, mas divisões com o Ocidente dificultam avanços.
A União Europeia, por meio de Kaja Kallas, expressou preocupação com a escalada e pediu diplomacia, enquanto a AIEA alertou para os riscos de violência contra instalações nucleares.
Uma tempestade adiada
A morte de Juliana Marins e a trégua global, agora abalada por violações, refletem a vulnerabilidade diante de forças incontroláveis. No Rinjani, a negligência e a subestimação do terreno transformaram uma aventura em tragédia. No cenário global, os ataques ao Irã e as retaliações iranianas acenderam um rastilho que pode reacender.
O Estreito de Ormuz permanece aberto, mas sua fragilidade persiste. Assim como as equipes de resgate lutaram contra o tempo para salvar Juliana, a diplomacia ganhou uma chance de evitar a catástrofe, mas as ações de Israel e Irã mostram que o caminho para a paz é incerto.
A AIEA e a ONU, lideradas por António Guterres, que celebrou o cessar-fogo, clamam por negociações duradouras. A bandeira da paz tremula, mas os senhores da guerra, com sua volatilidade, mantêm o mundo tenso.
Sensatez é mais que bem-vinda — é essencial.
24 de junho de 2025
Como desencadear uma tempestade perfeita (e como desarmá-la)
A frágil bandeira da paz e a volatilidade das decisões dos senhores da guerra mantém o mundo tenso. Sensatez é urgente para conter os ventos da guerra


No coração do vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, Indonésia, a brasileira Juliana Marins, de 26 anos, enfrenta uma luta desesperada pela sobrevivência. A publicitária de Niterói (RJ), que mochilava pela Ásia desde fevereiro de 2025, caiu cerca de 300 metros em uma trilha remota na madrugada de sábado, 21 de junho, durante uma expedição ao Monte Rinjani. Localizada inicialmente por um drone, debilitada, em uma fresta rochosa numa trilha elevada próxima ao cume, Juliana permanece desaparecida há mais de 48 horas. O vulcão, com seus 3.726 metros de altitude, é um gigante adormecido, mas suas encostas traiçoeiras, marcadas por neblina densa, ventos cortantes e pedras escorregadias, transformam o resgate em uma missão contra o tempo. A família de Juliana, liderada por sua irmã Mariana Marins, denuncia negligência do guia local e desinformação das autoridades, enquanto a Embaixada do Brasil em Jacarta mobiliza esforços para localizá-la.
A 15 mil quilômetros dali, o mundo respira aliviado, mas com cautela, após uma crise geopolítica que ameaçava uma erupção de proporções globais. Na noite de 23 de junho de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, via Truth Social, um “cessar-fogo completo e total” no Irã, marcando o fim temporário das hostilidades desencadeadas pelos ataques dos EUA às instalações nucleares iranianas. O acordo, mediado por Qatar e endossado por Trump, prevê que o Irã inicie o cessar-fogo à meia-noite de 24 de junho (horário da Costa Leste dos EUA), com o fim oficial do conflito após 24 horas. Apesar da ausência de confirmação imediata de Teerã, a notícia trouxe alívio às tensões que colocavam a humanidade em um equilíbrio tão precário quanto a encosta onde Juliana se encontra.
A crise de Juliana e a trégua global - Os perigos que cercam Juliana e o mundo compartilham uma essência: a imprevisibilidade e o potencial devastador de forças mal controladas. O Monte Rinjani, segundo maior vulcão da Indonésia, é uma atração turística popular, mas sua trilha de três dias e duas noites exige preparo físico e mental. Juliana, nadadora e praticante de pole dance, estava bem preparada, mas a combinação de um guia inexperiente, condições climáticas adversas e a complexidade do terreno a deixou vulnerável. Caiu em uma área remota, a cerca de quatro horas do centro urbano mais próximo, onde temperaturas próximas de zero e a falta de água e comida ameaçam sua sobrevivência. A família, por meio do perfil “Resgate Juliana Marins” no Instagram, mobilizou milhares de seguidores, compartilhando vídeos e apelando por pressão internacional. Mariana, em entrevista ao G1, descreveu o impacto psicológico: “cada hora sem notícias é uma eternidade.”
No cenário global, a tempestade geopolítica, embora amenizada pelo cessar-fogo, deixa cicatrizes. O Irã, até dias atrás, estava a um passo técnico de enriquecer urânio a 90%, nível necessário para armas nucleares, segundo Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em relatório de 18 de junho de 2025. O Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), assinado em 1º de julho de 1968, busca limitar a disseminação de armas atômicas, mas as tensões entre Irã e potências ocidentais, agravadas por décadas de sanções e sabotagens, culminaram em uma escalada perigosa. O cessar-fogo, anunciado após intensas negociações envolvendo Qatar e os Estados Unidos, representa uma vitória diplomática para Trump, que, segundo o vice-presidente JD Vance, “trabalhou incansavelmente para levar o acordo à linha de chegada”.
Ataques dos EUA às instalações nucleares iranianas - Na noite de 21 de junho de 2025, os Estados Unidos, sob comando de Trump, lançaram a Operação Martelo da Meia-Noite, bombardeando três instalações nucleares iranianas: Fordow, Natanz e Isfahan. Fordow, uma fortaleza subterrânea a 80-90 metros de profundidade sob uma montanha em Qom, foi atingida por 14 bombas penetrantes GBU-57, de 14 toneladas, lançadas por bombardeiros B-2 Spirit. A instalação, que abrigava cerca de 2.700 centrífugas avançadas para enriquecer urânio a 60%, sofreu danos significativos, mas a AIEA informou que a extensão do impacto subterrâneo permanece incerta. Trump afirmou que Fordow sofreu “danos severos”, enquanto fontes iranianas sugerem que o urânio enriquecido foi transferido antes do ataque, minimizando perdas.
Natanz, localizada 220 km a sudeste de Teerã, é a maior usina de enriquecimento do Irã. O ataque danificou gravemente sua infraestrutura elétrica e a sala de centrífugas subterrâneas. Imagens de satélite mostram buracos e descoloração no terreno, mas o Pentágono admite incertezas sobre a destruição total. Isfahan, um centro de pesquisa e conversão de urânio, teve seus laboratórios atingidos, mas sem relatos de contaminação radiológica, segundo Grossi. O Irã, que evacuou as instalações previamente, pode ter preservado parte de seu estoque de urânio, levantando dúvidas sobre a eficácia dos bombardeios.
Os ataques, coordenados com Israel, foram justificados por Trump como uma medida para “neutralizar o programa nuclear iraniano”. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elogiou a ação, mas o cessar-fogo anunciado em 23 de junho sugere que a pressão diplomática e os custos da escalada levaram a uma pausa estratégica. A AIEA alerta que o Irã ainda pode ter instalações secretas ou capacidade de retomar o enriquecimento em meses, mantendo a questão nuclear como uma ameaça latente.
O Estreito de Ormuz: a artéria do petróleo global - A ameaça iraniana de fechar o Estreito de Ormuz, aprovada pelo parlamento em 22 de junho, foi um dos principais catalisadores da crise. Essa passagem de 33 km de largura no Golfo Pérsico, por onde passam 20% do petróleo mundial e 35% do gás natural liquefeito (GNL), é vital para Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Catar e Emirados Árabes. O Irã, com barcos de ataque rápido e milhares de minas navais, demonstrou capacidade de disrupção ao bloquear sinais de GPS de embarcações, segundo a agência Pravda. O cessar-fogo alivia temporariamente o risco de bloqueio, mas a Quinta Frota dos EUA, baseada no Bahrein, permanece em alerta para garantir a navegação livre.
O impacto econômico de um fechamento seria catastrófico. O preço do barril de petróleo Brent, que em 13 de junho de 2025 estava a USD 70, alcançou USD 78-80 em 23 de junho, refletindo a tensão. Com o cessar-fogo, analistas preveem uma estabilização temporária, mas um novo pico para USD 120-130 não está descartado caso as negociações colapsem. A interrupção no estreito afetaria cadeias de suprimento globais, elevando custos de combustíveis, transporte e bens de consumo. Países dependentes de importações energéticas, como Japão e Coreia do Sul, e nações em desenvolvimento, como o Brasil, sentiriam os efeitos de uma crise prolongada.
Condenações da Rússia e da China - Rússia e China, aliados estratégicos do Irã, condenaram os ataques dos EUA, mas expressaram apoio cauteloso ao cessar-fogo. O Ministério das Relações Exteriores russo declarou: “os ataques dos EUA violaram o direito internacional, mas saudamos esforços para evitar uma escalada maior.” A China, que importa 50% de seu petróleo via Ormuz, foi mais pragmática: “a estabilidade no Oriente Médio é crucial. Apoiamos o cessar-fogo e pedimos diálogo para resolver disputas.” Ambos os países, junto ao Paquistão, propuseram uma resolução no Conselho de Segurança da ONU para consolidar a trégua, mas divisões com potências ocidentais ainda dificultam o consenso.A tempestade contida, mas não extinta - Juliana Marins, perdida nas encostas do Rinjani, e o mundo, que evitou por pouco uma crise nuclear e econômica, enfrentam tempestades nascidas de forças incontroláveis e escolhas humanas arriscadas. No vulcão, a negligência do guia e a subestimação do terreno transformaram uma aventura em tragédia. No cenário global, os ataques dos EUA ao Irã, embora contidos pelo cessar-fogo, acenderam um rastilho que ainda pode incendiar o Oriente Médio. O Estreito de Ormuz, por ora, permanece aberto, mas sua vulnerabilidade persiste.
A fragilidade de Juliana, exposta à natureza implacável, espelha a vulnerabilidade da humanidade diante de conflitos globais. Assim como as equipes de resgate, usando drones térmicos e enfrentando condições adversas, lutam para salvar a brasileira, a diplomacia global ganhou tempo para evitar a catástrofe. A AIEA, ONU e líderes como António Guterres, que celebrou o cessar-fogo como “um passo crucial”, clamam por negociações duradouras. Enquanto Juliana resiste, o mundo observa, ciente de que a tempestade, embora adiada, ainda pode se formar.
A bandeira branca da paz parece ter sido hasteada com o cessar-fogo no Irã, um alívio frágil em meio a tantas incertezas. Contudo, os senhores da guerra, com sua alta volatilidade e histórico de mudar rapidamente de ideia, mantêm o mundo sob tensão. Ainda é cedo para afirmar que os ventos impetuosos da guerra permitirão que essa bandeira permaneça de pé. Sensatez, seja muito bem-vinda!
https://www.brasil247.com/blog/como-desencadear-uma-tempestade-perfeita-e-como-desarma-la
24 de junho de 2025
Escalada nuclear no Oriente Médio abre a Caixa de Pandora: conseguirá a esperança na ONU conter a catástrofe?
Reunião do Conselho de Segurança da ONU expõe o perigo nuclear após ataques ao Irã. Diplomacia internacional tenta conter novo abismo nuclear. Conseguirá?


Em meio a uma crise internacional inédita em oito décadas da existência das Nações Unidas, a reunião extraordinária do Conselho de Segurança, realizada neste domingo, 22 de junho de 2025, escancarou o tamanho da ameaça que paira sobre o mundo. O pano de fundo: os ataques coordenados dos Estados Unidos e de Israel contra as principais instalações nucleares do Irã, uma escalada sem precedentes em meio ao conflito desencadeado no último dia 12. As falas contundentes das grandes potências — EUA, China, Rússia, Reino Unido e França — deixam clara a gravidade do momento, num cenário que parece evocar o mito da Caixa de Pandora: uma vez aberto, o mundo é confrontado com perigos que fogem do controle, em especial o espectro de uma catástrofe nuclear.
O início da guerra e a escalada da destruição - Na madrugada de 13 de junho de 2025, Israel surpreendeu a comunidade internacional ao lançar dezenas de ataques aéreos em território iraniano, tendo como alvo instalações nucleares, bases militares e centros de comando. Em apenas algumas horas, segundo fontes militares israelenses, mais de 200 aeronaves lançaram mais de 330 munições sobre cerca de 100 diferentes locais estratégicos. O Mossad desempenhou papel fundamental em ações de sabotagem que enfraqueceram os sistemas de defesa do Irã, ampliando o alcance e impacto dos bombardeios.
Play Video
A resposta iraniana foi imediata: o lançamento de ondas de mísseis balísticos contra cidades em Israel, com parte dos projéteis atravessando o sistema Domo de Ferro e deixando dezenas de mortos e feridos. O ciclo de retaliações aumentou exponencialmente o grau de destruição, levando à morte centenas de civis e combatentes de ambos os lados.
Com a devastação eclodindo em ritmo acelerado e o mundo à beira de um colapso diplomático, o envolvimento dos Estados Unidos, ao atacarem diretamente as instalações nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan no último sábado, marcou o ponto de inflexão mais dramático até aqui. Donald Trump, então presidente, afirmou: "ou haverá paz ou tragédia para o Irã", ao anunciar a ofensiva aérea, classificada como "cirúrgica", mas de consequências ainda incalculáveis.
O alerta dos especialistas: radiação e riscos civis - As consequências dos ataques despertaram alarme internacional, em especial pela possibilidade de liberação de material radioativo em áreas densamente povoadas. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, soou o alerta já na madrugada de sábado: “Bombardeios contra instalações nucleares elevam substancialmente o risco de dispersão de material radioativo. Há sérias preocupações quanto ao impacto ambiental e sobre a saúde da população civil nas imediações”.
As cidades vizinhas às instalações atingidas concentram considerável população:
- Fordow: Localizada próxima à cidade de Qom, com cerca de 1,2 milhão de habitantes segundo estimativas. O complexo nuclear está encravado em área montanhosa, mas o risco de contaminação radioativa afeta dezenas de vilas e bairros próximos.
Natanz: Originalmente uma cidade de 12 mil habitantes, a presença da maior usina de enriquecimento de urânio do Irã significa que há milhares de trabalhadores e famílias nas redondezas da planta, além de cidades médias num raio de até 80 quilômetros.
Isfahan: Terceira maior cidade do Irã, com população superior a 2 milhões de pessoas. O centro de tecnologia nuclear de Isfahan está nos subúrbios, ampliando o potencial de impacto em zonas densamente habitadas caso haja vazamento ou destruição do reator experimental e armazéns de resíduos nucleares.
O impacto de um acidente nessas áreas pode resultar em “contaminação do solo e da água, aumento de cânceres, doenças respiratórias e deslocamento em massa de pessoas”, conforme alertou Grossi. Ele também lembrou que, dependendo da direção do vento e das chuvas, nuvens radioativas podem percorrer longas distâncias, atingindo até outros países da região.
O Conselho de Segurança: tensão, cobranças e apelos - Com a escalada militar, o Conselho de Segurança da ONU tornou-se, neste domingo, o centro do debate internacional. Na reunião transmitida ao vivo, os discursos dos cinco países membros permanentes revelaram tanto desacordos quanto o temor comum de uma catástrofe sem precedentes.
Os Estados Unidos defenderam a ofensiva:
> “O mundo não pode permitir que o Irã desenvolva armas nucleares. As ações tomadas foram legítimas para garantir a segurança mundial e dos nossos aliados.”
A China insistiu na solução diplomática e condenou o uso unilateral da força:
> “Pedimos respeito ao Direito Internacional e apoiamos a proposta de cessar-fogo imediato. O diálogo e a negociação são as únicas vias legítimas para superar esta crise.”
A Rússia reiterou a necessidade de contenção:
> “É inadmissível recorrer a bombardeios contra alvos estratégicos de outro Estado sem o aval deste Conselho. A escalada militar apenas trará mais instabilidade à região.”
O Reino Unido lamentou a deterioração da segurança e apelou por contenção:
> “Instamos todas as partes a demonstrar contenção e abrir canais de diálogo imediato. Só através do multilateralismo e respeito às resoluções deste Conselho poderemos restaurar a estabilidade regional.”
Já a França foi enfática no apelo:
> “A França apela com urgência à cessação imediata das hostilidades. O caminho para a paz passa pela diplomacia, não pelos bombardeios. Devemos agir para proteger vidas civis e garantir que o Oriente Médio não entre num ciclo irreversível de guerra.”
Pandora, a ONU e o perigo sem precedentes - Diante desse quadro, resgatar o mito da Caixa de Pandora serve como poderosa metáfora: ao ser aberta, propaga todos os males pelo mundo, restando apenas a esperança. O Conselho de Segurança, criado para evitar os horrores das guerras mundiais, jamais esteve tão próximo de sua função original ameaçada. Especialistas e diplomatas alertam: a possibilidade de um acidente nuclear, intencional ou por erro de cálculo, colocaria em risco não apenas o Oriente Médio — mas o planeta.
A ONU enfrenta, assim, o seu maior desafio em 80 anos. A retórica dos discursos pode ser insuficiente diante da rapidez com que decisões militares são tomadas e executadas. A ameaça nuclear, antes restrita à retórica de dissuasão, tornou-se concreta e palpável, com impactos já sentidos pelas populações civis vulneráveis. O fechamento do espaço aéreo israelense, o risco do bloqueio ao Estreito de Ormuz e o pânico nos mercados internacionais sinalizam que o efeito dominó pode ir muito além das fronteiras dos envolvidos.
A urgência da paz - Em meio ao pessimismo, persiste a urgência de renovar a esperança. As falas firmes de Rafael Grossi e o apelo dos atores internacionais devem servir de alerta: sem a reconstrução do multilateralismo, sem a busca obstinada pela paz, há risco real de que a humanidade experimente, em tempo real, um mal irreversível liberado da caixa de Pandora — a destruição nuclear em larga escala.
O Conselho de Segurança deve agir, a comunidade internacional precisa pressionar todas as lideranças envolvidas, e a opinião pública mundial não pode se omitir. A cada minuto sem trégua, cresce o perigo de que o mundo hoje testemunhe, ao vivo, a quebra definitiva de um tabu nuclear que perdura desde Hiroshima e Nagasaki. E resta perguntar: será a esperança suficiente para fechar novamente a caixa?
23 de junho de 2025
"No final, somos todos humanos, mas a guerra nos faz esquecer", diz Tamar, protagonista do seriado Teerã
Teerã foi criada para desmistificar o conflito Israel-Irã, indo além da propaganda, para “mostrar iranianos e israelenses como pessoas”


A série Teerã, lançada pela Apple TV+ em 2020, transcende o gênero de espionagem, emergindo como um espelho perturbador do conflito entre Israel e Irã. Em 12 de junho de 2025, a Operação Rising Lion desencadeou uma guerra que, em seu sétimo dia, já matou 224 iranianos e 24 israelenses, segundo o Ministério da Saúde iraniano e a NPR.
Com duas temporadas disponíveis no Brasil e uma terceira exibida em Israel pela Kan 11, mas ainda inédita globalmente, a criação de Moshe Zonder antecipa a realidade com precisão quase profética. Israel eliminou 22 líderes iranianos, incluindo Mohammad Bagheri e Hossein Salami, em ataques cirúrgicos.
Agentes do Mossad, infiltrados em Teerã, devastaram infraestrutura militar, combinando inteligência com tecnologia. Este artigo explora a trama, a qualidade técnica e o elenco estelar, conectando 12 falas dos protagonistas a declarações reais de Benjamin Netanyahu, Ayatollah Ali Khamenei, Israel Katz e Mohammad Reza Ashtiani, revelando a linha tênue entre ficção e realidade.
A trama sob pressão - Teerã segue Tamar Rabinyan (Niv Sultan), uma agente do Mossad nascida no Irã, enviada na primeira temporada para desativar defesas aéreas iranianas. Sua missão, que visa facilitar um ataque a um reator nuclear, desmorona, lançando-a em uma fuga desesperada.
“Eu não sou uma traidora, mas também não sou cega. Vejo o que essa guerra faz com as pessoas,” diz Tamar, refletindo o dilema de operar em sua terra natal. A fala ecoa Ali Khamenei, que em 18 de junho de 2025 declarou: “Israel é o inimigo, mas os EUA são o verdadeiro manipulador.” Ambos questionam os verdadeiros adversários do conflito.
Tamar é caçada por Faraz Kamali (Shaun Toub), da Guarda Revolucionária, cuja determinação é temperada por dúvidas morais. “Proteger meu país é meu dever, mas às vezes me pergunto quem é o verdadeiro inimigo,” diz Faraz, uma frase que ressoa com Mohammad Reza Ashtiani.
Em 15 de junho, o ministro iraniano acusou “traidores internos” de facilitar os ataques israelenses, revelando uma paranoia semelhante. A primeira temporada captura a tensão de uma operação secreta em um ambiente hostil. A narrativa reflete as infiltrações reais do Mossad, que em 2025 desestabilizaram o comando iraniano.
Na segunda temporada, Tamar retorna a Teerã para desestabilizar o regime via tráfico de drogas, enfrentando intrigas com Marjan Montazeri (Glenn Close). “Você acha que escolhemos isso? Somos peões em um jogo que não controlamos,” reflete Tamar, espelhando Netanyahu, que em 19 de junho afirmou: “Estamos lutando por nossa sobrevivência, mas o Irã força essa guerra.”
A terceira temporada, adiada globalmente, mostra Tamar combatendo mísseis balísticos, um enredo que ecoa a destruição de 12 lançadores iranianos em 17 de junho. O adiamento, segundo o MacMagazine, reflete o receio de que a ficção seja confundida com o conflito real.Excelência técnica - A qualidade técnica de Teerã é um dos seus maiores trunfos. Filmada em Atenas, a série recria Teerã com cenários autênticos, usando uma paleta de cores quentes para intensificar a tensão. A trilha sonora pulsante e a edição ágil mantêm o ritmo eletrizante. Diálogos em farsi, hebraico e inglês reforçam a imersão cultural, enquanto figurinos detalhados ancoram a verossimilhança. No Rotten Tomatoes, a primeira temporada alcança 94% de aprovação, com o The Guardian elogiando sua “narrativa que humaniza ambos os lados.”
Um jornal brasileiro chegou a destacar a reconstrução de Teerã como “um feito impressionante”. “
Cada missão é um risco, mas parar não é uma opção,” diz Tamar, uma determinação que ecoa Israel Katz, que em 19 de junho declarou: “Não descansaremos até neutralizar a ameaça iraniana.”
A fotografia captura a claustrofobia de uma cidade sob vigilância, refletindo o clima de paranoia da guerra real. A série provoca reflexões sobre os custos de um conflito sem heróis claros.
Um elenco de tirar o fôlego - O elenco de Teerã eleva a série a outro patamar. Niv Sultan entrega uma Tamar multifacetada, combinando coragem com vulnerabilidade. Shaun Toub humaniza Faraz, um antagonista preso ao dever. “Você acha que me engana, mas eu vejo a dúvida nos seus olhos,” diz Faraz, ressoando com Ashtiani, que em 13 de junho acusou Israel de “enganar o mundo com sua narrativa de vítima”. Glenn Close, como Marjan, adiciona uma presença magnética. A preparação de Sultan, que estudou farsi e Krav Maga, reflete dedicação.
“Se eu não lutar, quem vai mudar isso?” pergunta Tamar, ecoando jovens iranianos como “Donya”, entrevistada pela BBC, que rejeitam o regime e a intervenção israelense. Atores como Shila Ommi e Shervin Alenabi reforçam a autenticidade.
A química entre os personagens sustenta a narrativa, humanizando um conflito polarizado. “Eles podem nos prender, mas não nossa vontade,” declara Tamar, uma fala que encontra eco em Khamenei, que em 13 de junho afirmou: “Nosso povo resiste, não se rende.”
Raízes da criação - Teerã foi criada para desmistificar o conflito Israel-Irã, indo além da propaganda. Moshe Zonder, em entrevista à Reuters, quis “mostrar iranianos e israelenses como pessoas”. A série reflete a resistência iraniana ao regime, apoiada por pesquisas do GAMAAN que indicam secularização no Irã.
“Às vezes, o maior perigo está dentro de nós,” reflete Tamar, ressoando com Ashtiani, que em 15 de junho alertou sobre “traidores internos”. A narrativa herda a expertise israelense em thrillers de espionagem. Seu apelo global vem da habilidade de equilibrar suspense com questões éticas.
A série mostra jovens iranianos desafiando o regime, ecoando protestos reais de 2022. “O que eu faço aqui vai mudar tudo, ou nada,” diz Tamar, refletindo a ambiguidade de Netanyahu, que em 19 de junho afirmou: “Estamos mudando o Oriente Médio, mas a que custo?” Teerã questiona a moralidade das operações secretas, um tema que ressoa na guerra de 2025. Sua abordagem humaniza ambos os lados, desafiando narrativas simplistas.Sombras de Teerã na guerra de 2025 - A Operação Rising Lion, iniciada em 12 de junho, devastou instalações nucleares em Natanz, Fordow e Arak, segundo a BBC. Bases de mísseis em Kermanshah e Tabriz foram aniquiladas. Em 13 de junho, Mohammad Bagheri e Hossein Salami foram mortos, conforme a CNN. No dia 15, Ali Shadmani foi eliminado, segundo a OnManorama. Seis cientistas nucleares morreram em 14 de junho. O Mossad, com agentes infiltrados, usou drones para desativar radares e sistemas S-200.
Até 16 de junho, 120 sistemas antiaéreos foram destruídos. “Nesta guerra, ninguém sai limpo. Nem você, nem eu,” diz Faraz, refletindo os 224 mortos no Irã, 90% civis. Netanyahu, em 13 de junho, justificou os ataques: “Fizemos o que era necessário para impedir um Irã nuclear.” A precisão dos ataques lembra as missões de Tamar. A série antecipa a guerra híbrida de 2025.
A guerra de 2025 amplifica as semelhanças com Teerã. Tamar enfrenta as consequências de suas ações, como mortes civis. “Eu não queria isso, mas a guerra não pergunta,” lamenta ela, ecoando os 60 civis mortos em Teerã em 15 de junho. Khamenei, em 18 de junho, condenou Israel: “Eles atacam civis sem remorso.” A segunda temporada reflete a destruição da refinaria de Sharan. A terceira temporada antecipa os 400 mísseis iranianos.“Quantos mais precisam morrer para provar quem está certo?” pergunta Faraz, ressoando com Katz, que em 19 de junho disse: “Queremos paz, mas o Irã escolhe a guerra.” “Vale a pena sacrificar tudo por uma causa?” reflete Faraz, ecoando Ashtiani, que em 17 de junho admitiu: “Estamos lutando, mas o custo é alto.” Teerã mostra a resistência iraniana, como jovens que desafiam o regime sob bombardeios.Teerã humaniza um conflito polarizado, mostrando vítimas de um ciclo de violência. A decisão de adiar a terceira temporada reflete o receio de que a ficção seja vista como propaganda. Netanyahu chama o Irã de “inimigo comum”.
“No final, somos todos humanos, mas a guerra nos faz esquecer,” diz Tamar, ressoando com o luto de civis. A série provoca reflexões sobre a guerra.
Teerã é um marco que prevê a guerra de 2025. Sua trama, elenco e qualidade técnica a tornam essencial. A capacidade de espelhar o Mossad e as retaliações iranianas eleva sua relevância. Como Faraz diz, “Nesta guerra, ninguém sai limpo.” Teerã nos lembra que o custo da guerra é humano.
20 de junho de 2025
O que mudou foi o modo de matar nas guerras, não a tragédia de morrer
Em 25 anos, as guerras trocaram trincheiras por algoritmos, tanques por drones, mas continuam produzindo as mesmas ruínas humanas


Em abril de 2003, as ruas de Bagdá tremiam com o avanço dos tanques M1 Abrams. Sob o sol escaldante do Iraque, soldados americanos travavam combates corpo a corpo contra insurgentes. Era a imagem clássica da guerra convencional: poeira, tiros, explosões, suor e morte.
Hoje, junho de 2025, a guerra tem um novo rosto.
Na mesma região do Oriente Médio, mas com outra roupagem, operadores israelenses sentados em salas refrigeradas controlam drones que sobrevoam o Irã. Enquanto isso, o sistema Domo de Ferro intercepta mísseis no céu. Tudo acontece a partir de centros de comando digitalizados, onde a guerra se desenrola em telas, algoritmos e radares.
No dia 12 de junho de 2025, Israel lançou ataques aéreos contra instalações nucleares em Natanz, marcando o início de um novo confronto com o Irã. Em resposta, Teerã disparou mísseis que atingiram Tel Aviv e Haifa. Em poucos dias, 246 pessoas morreram. A maioria civis. O impacto foi imediato, global, devastador.
Vamos tratar aqui da transição que os conflitos atravessaram ao longo do século XXI e buscar entender como a guerra saiu do corpo-a-corpo e das trincheiras para se tornar uma operação remota. Tudo mudou para permanecer igual: toda a guerra não passa de fábrica de cemitérios e tantos custos humanos. Financeiros crescem sempre de maneira exponencial.
Do chão ao comando remoto
A guerra do início dos anos 2000 era física, brutal, visível. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos, em 2003, exemplifica esse padrão: 4.431 militares americanos mortos. Entre 187 mil e 211 mil civis iraquianos perderam a vida, segundo o Iraq Body Count. A destruição de cidades como Fallujah, Mosul e Bagdá foi imensa.
A reconstrução foi estimada em US$ 88 bilhões pelo Banco Mundial. E o custo total da guerra, incluindo a presença militar, infraestrutura e veteranos, ultrapassou US$ 2 trilhões, segundo o projeto Costs of War, da Universidade Brown.
Mas os conflitos evoluíram.
Na Ucrânia, desde 2022, drones se tornaram protagonistas. O turco Bayraktar TB2 e o iraniano Shahed-136 substituíram tanques e aviões tripulados. Segundo o New York Times, cerca de 80% das baixas russas nos dois primeiros anos da guerra vieram de ataques de drones ucranianos — muitos operados a quilômetros de distância.
Em Israel, o Domo de Ferro, sistema antimíssil de última geração, intercepta cerca de 90% dos foguetes e drones lançados contra o país. No atual conflito com o Irã, tem sido decisivo para minimizar baixas civis — embora ainda haja falhas.
Essa transformação é sustentada por inteligência artificial, sensores térmicos, conectividade via satélite e análise de dados em tempo real. Na Ucrânia, o sistema Kropyva processa informações de vigilância em minutos e permite contra-ataques quase instantâneos.
A guerra deixou de ser uma marcha de botas e passou a ser uma dança entre códigos e sinais. A fumaça dos tanques foi substituída pelo silêncio das salas climatizadas. Mas o cheiro de morte permanece.
Contudo, a automação não anula o sofrimento humano.
Até 16 de junho de 2025, o Irã havia registrado 224 mortos e 1.277 feridos no conflito com Israel. Do lado israelense, os números chegavam a 22 mortos e 390 feridos. Entre as vítimas, muitas eram crianças.
A guerra moderna é mais tecnológica — mas não menos letal.
O preço da guerra: do dinheiro ao sangue
Nos primeiros anos do século, as guerras custavam vidas e bilhões de dólares. O Afeganistão, entre 2001 e 2021, registrou 2.461 militares americanos mortos e cerca de 70 mil civis afegãos mortos. A reconstrução do país demandou US$ 145 bilhões.
Somando Iraque e Afeganistão, os Estados Unidos gastaram entre US$ 4 trilhões e US$ 6 trilhões em duas décadas de guerra. Um peso orçamentário que atravessou governos e gerações.
O impacto humano foi permanente: mortes em grande escala amputações, traumas psicológicos, orfandade, cidades em ruínas, populações inteiras deslocadas.
Como escreveu a jornalista Anna Politkovskaya, “a guerra nunca é só sobre armas; ela destrói a confiança, a compaixão, a memória”.
Os custos das guerras tecnológicas
Hoje, o preço não desapareceu — apenas mudou de forma.
O sistema Domo de Ferro custa cerca de US$ 100 milhões por bateria. Cada míssil Tamir interceptador vale entre US$ 40 mil e US$ 50 mil. Um único ataque pode consumir dezenas deles.
Na Ucrânia, a ajuda internacional superou US$ 407 bilhões desde 2022, com grande parte destinada à compra de drones, mísseis, satélites e sistemas de comando.
No recente conflito entre Israel e Irã, Israel mobilizou 200 caças e lançou mais de 330 mísseis em menos de 72 horas. Um custo operacional altíssimo — sem contar os danos civis e estruturais causados nos dois países.
As guerras digitais, por mais limpas que pareçam, ainda deixam rastros de sangue. As telas não mostram o calor dos corpos que tombam. Os gráficos escondem o desespero das mães diante dos escombros.
Feridas abertas nas cidades e nos corpos
A guerra tradicional arrasava cidades. Bombardeios em Bagdá, Cabul, Grozny e Aleppo destruíram hospitais, mesquitas, escolas e mercados. A reconstrução foi lenta e, em muitos casos, jamais concluída.
No Iraque, entre 2003 e 2011, estima-se que 3 milhões de pessoas foram deslocadas. No Afeganistão, o número ultrapassou 5 milhões.
Esses conflitos deixaram marcas não apenas físicas, mas psíquicas: gerações inteiras cresceram entre ruínas e trincheiras.
Em muitas cidades destruídas, o único som constante era o eco dos passos de quem ainda buscava parentes sob os escombros.
A precisão que também mata
Na guerra moderna, a destruição é seletiva, mas ainda brutal.
Na Ucrânia, 40 mil civis morreram ou ficaram feridos desde 2022. Em Kharkiv, prédios residenciais foram reduzidos a escombros por drones e artilharia.
Em Gaza, a guerra tem um nome: permanência. A Faixa é alvo recorrente de bombardeios que destroem infraestrutura civil básica — hospitais, escolas, redes de esgoto. Mesmo com armamentos de precisão, os impactos são devastadores: segundo a ONU, cerca de 70% dos mortos em ofensivas recentes são mulheres e crianças. A densidade populacional transforma cada explosão em massacre. Gaza não é apenas cenário de guerra — é laboratório da impunidade.
No conflito entre Israel e Irã, os ataques israelenses atingiram instalações nucleares em Natanz e depósitos de petróleo. Já os mísseis iranianos danificaram prédios civis em Tel Aviv e Haifa. Em ambos os lados, famílias perderam casas, negócios, entes queridos.
A dor é menos visível, mas não menos intensa.
E há um detalhe ainda mais cruel: nas guerras digitais, o ataque muitas vezes é transmitido ao vivo, em alta definição. Morre-se, agora, diante de uma câmera, enquanto milhões assistem em tempo real.
O crescimento dos arsenais letais
O século XXI trouxe uma explosão de inovação bélica.
A Rússia opera drones Shahed-136 — fornecidos pelo Irã — que custam entre US$ 48 mil e US$ 193 mil. Seus mísseis hipersônicos Kinzhal, usados contra a Ucrânia, valem cerca de US$ 10 milhões cada.
A Ucrânia se apoia no drone turco Bayraktar TB2 (US$ 5 milhões) e em drones FPV improvisados que custam pouco mais de US$ 1.000 — mas são capazes de paralisar colunas russas.
Israel investe pesadamente em tecnologia defensiva. O Domo de Ferro já salvou milhares de vidas. Seus drones Harop, que operam como kamikazes eletrônicos, custam entre US$ 100 mil e US$ 500 mil.
O Irã responde com seus próprios drones, como o Ababil e o Shahed, além de mísseis balísticos como o Fateh-110.
Na Caxemira, Índia e Paquistão disputam território com mísseis supersônicos BrahMos (US$ 2,5 milhões) e sistemas de defesa chineses HQ-9.
Essas armas são frutos de orçamentos bilionários, mas também de escolhas políticas. Cada drone lançado é uma oportunidade de diálogo perdida.
A falência diplomática no século da tecnologia
Se as armas avançaram, a diplomacia parece ter regredido.
A Organização das Nações Unidas, criada após a Segunda Guerra Mundial para impedir conflitos, tem sido uma espectadora constrangida da atual desordem global. Embora decepcionante em sua atuação e efetividade para impedir guerras, a ONU é melhor que exista do que o contrário. Ruim com ela, pior, muito pior sem ela.
Desde 2022, o Conselho de Segurança fracassou em conter a invasão da Ucrânia, a escalada entre Israel e Hamas, e agora o confronto direto entre Israel e Irã — ambos países com capacidades militares avançadas e conexões com potências nucleares.
As resoluções não passam. Os vetos se repetem. E os discursos esvaziam a esperança.
As potências não apenas ignoram o direito internacional: em muitos casos, o redesenham conforme seus próprios interesses. A guerra, em vez de ser evitada, é muitas vezes autorizada informalmente nos bastidores da geopolítica.
A diplomacia, que deveria ser o escudo da humanidade, tornou-se refém de algoritmos de conveniência.
A urgência da paz
A guerra tradicional arrasava tudo: pessoas, cidades, culturas. A guerra moderna foca em precisão, mas o sofrimento permanece.
Mísseis podem ser inteligentes, mas ainda caem sobre lares. Drones podem ser controlados à distância, mas ainda tiram a vida de crianças. Os custos mudaram — menos soldados mortos, mais bilhões gastos com algoritmos e sensores.
No conflito entre Israel e Irã, em apenas cinco dias, 246 pessoas morreram. A maioria era civil.
Enquanto os arsenais crescem e as tecnologias se sofisticam, a humanidade precisa escolher outro caminho. Não se trata apenas de evitar a guerra, mas de construir a paz como projeto real, prático, institucional.
É hora de investir mais em mediação, diálogo, confiança mútua e acordos sustentáveis. A tecnologia pode proteger, mas só a humanidade salva.
Em 25 anos, a guerra deixou de ser uma marcha sobre desertos para se tornar um clique sobre mapas digitais. O inimigo, antes visível e temido, agora é um ponto vermelho em uma tela.
Mas o sangue ainda é o mesmo. As lágrimas, as ausências, as casas destruídas — tudo isso permanece. O que mudou é o modo como se mata, não a tragédia de morrer.
Se queremos preservar nosso próprio futuro, devemos exigir mais do que eficiência militar. Precisamos de eficiência moral, política e espiritual.
Porque nenhuma vitória justifica a morte de inocentes. E nenhum avanço tecnológico justifica a falência da humanidade.
https://www.brasil247.com/blog/o-que-mudou-foi-o-modo-de-matar-nas-guerras-nao-a-tragedia-de-morrer
18 de junho de 2025
Guerra Israel-Irã mostra a verdade silenciada e paz como eco distante
A verdade é a base do progresso humano, começando pela construção ética de cada indivíduo, e sua defesa exige vigilância, ceticismo e um compromisso com a paz


Na escalada de tensões entre Israel e Irã, marcada por confrontos indiretos e narrativas conflitantes até outubro de 2023, a verdade é a primeira vítima de um conflito onde desinformação molda a percepção global. Neste artigo analiso o papel da desinformação na guerra de narrativas, exploro casos reais de manipulação, traço paralelos com a Segunda Guerra Mundial, examino o impacto das redes sociais geridas por Big Tech, e motivações estratégicas em rivalidade histórica desde a Antiguidade.
O dilúvio de informações e a guerra de narrativas
A rivalidade entre Israel e Irã, intensificada por ataques indiretos via proxies como o Hezbollah e operações cibernéticas até outubro de 2023, transcende o campo físico. A esfera digital, impulsionada por plataformas como X, Instagram e Telegram, tornou-se um teatro de operações onde a verdade é distorcida.
Um relatório da Universidade de Oxford (2023) estima que até 40% do conteúdo em redes sociais durante conflitos no Oriente Médio contém desinformação, seja por manipulação deliberada ou erro.
Israel justifica suas ações como respostas à ameaça do programa nuclear iraniano, enquanto o Irã se retrata como vítima de agressões, apoiando grupos como o Hamas.
A contrainformação é uma arma central: ambos desmentem relatos adversários, frequentemente sem evidências verificáveis. Em 26 de outubro de 2023, Israel realizou ataques aéreos contra alvos militares no Irã, descritos por Benjamin Netanyahu como “precisos e poderosos” (Reuters, 2023). O Irã, por sua vez, alegou “danos mínimos” e prometeu retaliação (Al Jazeera, 2023). Essas narrativas conflitantes, amplificadas pela mídia, confundem o público global.A Anistia Internacional alertou em setembro de 2023 que a desinformação em conflitos regionais “obscurece violações de direitos humanos”, exigindo acesso a investigações independentes. A manipulação de informações, especialmente em Gaza, dificulta a proteção de civis, onde relatos de vítimas são frequentemente distorcidos.
Casos típicos de manipulação
Quatro exemplos reais, baseados em eventos até outubro de 2023, ilustram como a verdade é obscurecida:
1. Ataque a instalações iranianas (26 de outubro de 2023): Israel atingiu alvos militares no Irã, alegando neutralizar ameaças nucleares. O Irã reportou dois soldados mortos e “danos limitados” (Al Jazeera, 2023). Imagens divulgadas por Teerã, mostrando destruição, foram questionadas por analistas da BBC Verify, que apontaram inconsistências. A narrativa iraniana de resiliência contrastou com a israelense de sucesso militar.2. Ataque do Hamas em Israel (7 de outubro de 2023): O Hamas lançou uma ofensiva, matando cerca de 1.200 pessoas e capturando reféns (The Guardian, 2023). Israel acusou o Irã de financiar o ataque, enquanto Teerã negou envolvimento direto. Postagens em X amplificaram narrativas pró-Hamas, enquanto Israel divulgou vídeos de vítimas para galvanizar apoio, obscurecendo detalhes sobre a escalada.3. Bombardeios em Gaza (outubro de 2023): Ataques israelenses em Gaza mataram mais de 8.000 pessoas, segundo o Ministério da Saúde palestino (Reuters, 2023). Israel alegou atacar alvos do Hamas, enquanto relatos palestinos denunciaram mortes civis. A BBC encontrou contradições em vídeos de ambos os lados, mas a falta de acesso a jornalistas independentes perpetuou a confusão.4. Ataque a hospital em Gaza (17 de outubro de 2023): Uma explosão no hospital Al-Ahli matou centenas, com o Hamas acusando Israel e a IDF atribuindo o ataque a um foguete palestino mal disparado (The Guardian, 2023). Análises da Al Jazeera e da BBC não confirmaram a origem, mas narrativas conflitantes dominaram as redes sociais, inflamando tensões.
Esses casos mostram como a manipulação de informações demoniza o adversário e confunde a opinião pública.
Desinformação na Segunda Guerra Mundial
A desinformação é uma tática antiga. Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os nazistas, sob Joseph Goebbels, disseminavam fake news, como alegações de que os Aliados planejavam exterminar alemães, para justificar a resistência (The Guardian, 2019). Os Aliados usaram a Operação Fortitude (1944), espalhando informações falsas sobre o Dia D, enganando os nazistas. Filmes nazistas como Der Ewige Jude (1940) demonizavam judeus, enquanto os EUA exageravam a brutalidade japonesa para galvanizar apoio. Essas estratégias ecoam nas táticas modernas de Israel e Irã.
A informação como arma de guerra
A manipulação da informação é essencial ao esforço de guerra. Israel usa narrativas para manter o apoio dos EUA, que forneceram US$ 3,8 bilhões em ajuda militar em 2023 (Reuters, 2023). Netanyahu, sob pressão após falhas de segurança em 7 de outubro, projeta força com operações como os ataques de outubro de 2023. O Irã, enfrentando sanções e crises econômicas, utiliza a propaganda para mobilizar o Eixo da Resistência e desviar a atenção de problemas internos.As motivações são claras: legitimar ações, desestabilizar o adversário e influenciar a opinião global. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS) estima que Israel gastou US$ 22 bilhões em defesa em 2022, contra US$ 9 bilhões do Irã (IISS, 2023).
Ambos investem em guerra cibernética, com Israel liderando em tecnologia e o Irã em redes de milícias. A
Human Rights Watch alertou em outubro de 2023 que a desinformação “amplifica o sofrimento de civis”, pedindo moderação na disseminação de conteúdos não verificados.
Big Tech e redes sociais no conflito
As redes sociais, geridas por Big Tech como X, Meta e TikTok, são palcos centrais da guerra de narrativas. Em outubro de 2023, a Cyabra identificou que 25% das contas no X publicando sobre o conflito Israel-Hamas eram falsas, amplificando narrativas polarizadas (Cyabra, 2023). Em Israel, o governo pressiona plataformas para remover conteúdos pró-Irã ou pró-Hamas, enquanto a sociedade civil exige transparência. A Meta removeu milhares de postagens em hebraico e árabe por desinformação em 2023, mas enfrentou críticas por inconsistências (The Guardian, 2023).No Irã, o governo bloqueia X e Instagram, mas permite o Telegram para propaganda estatal. Cidadãos dependem de VPNs, ficando vulneráveis a narrativas controladas. A União Europeia pressionou em 2023 por moderação sob a Lei de Serviços Digitais, ameaçando multas (Reuters, 2023). A Human Rights Watch criticou as Big Tech por falharem em conter conteúdos que incitam violência.
Um conflito com raízes antigas
A rivalidade entre Israel e Irã remonta à Antiguidade. Em 539 a.C., Ciro, o Grande, permitiu o retorno dos judeus exilados, conforme o Livro de Esdras (Bíblia, Esdras 1). Tensões surgiram sob Dario I e Xerxes I, com a Pérsia controlando a Judeia. A revolta dos Macabeus (167-160 a.C.) contra os selêucidas, aliados persas, marcou a resistência judaica (Encyclopaedia Britannica, 2020). Líderes como Davi (c. 1000 a.C.) e Judas Macabeu moldaram a identidade de Israel, enquanto comandantes persas como Datames (século IV a.C.) simbolizavam o poder militar.No século XX, a criação de Israel (1948) e a Revolução Islâmica no Irã (1979) acirraram tensões. O Irã, sob Khomeini, apoiou o Hezbollah, enquanto Israel intensificou operações contra o programa nuclear iraniano desde 2003 (BBC, 2023). Essa rivalidade, amplificada pela tecnologia, persiste.
A busca pela verdade em meio ao caos
A rivalidade Israel x Irã, marcada por eventos até outubro de 2023, ilustra como a verdade é sacrificada por interesses estratégicos. A desinformação, usada desde a Segunda Guerra Mundial até as redes sociais, obscurece fatos. Casos como o ataque ao hospital Al-Ahli mostram a dificuldade de discernir realidade de propaganda. As Big Tech, sob pressão, lutam para conter fake news, enquanto a Anistia Internacional e a Human Rights Watch exigem transparência. Essa rivalidade, enraizada na Antiguidade, ganhou contornos digitais, mas o padrão persiste: a verdade é distorcida para servir ao poder.
Como cidadãos, devemos ser rigorosos ao compartilhar conteúdo midiático, verificando a credibilidade das fontes e comparando perspectivas. Precisamos perguntar: “A quem beneficia este texto, este artigo ou este vídeo?”
A ascensão da inteligência artificial, capaz de criar deepfakes e narrativas manipuladas, tornou-se um protagonista perigoso na erosão da verdade.
A verdade é a base do progresso humano, começando pela construção ética de cada indivíduo, e sua defesa exige vigilância, ceticismo e um compromisso inabalável com a paz.
https://www.brasil247.com/blog/guerra-israel-ira-mostra-a-verdade-silenciada-e-paz-como-eco-distante
16 de junho de 2025
O céu que não protege o drama das crianças em zonas de guerra
Segundo a UNICEF, entre 2000 e 2025, conflitos armados mataram dezenas de milhares de crianças


Nas últimas décadas, as guerras têm roubado a infância de milhões de crianças em Israel, Irã, Palestina, Ucrânia, Rússia e outras regiões devastadas por conflitos. O céu, outrora símbolo de sonhos, tornou-se uma ameaça, de onde caem bombas, mísseis e drones.
Crianças israelenses vivem sob sirenes que anunciam ataques do Hamas, Hezbollah ou Irã; palestinas enfrentam a destruição de suas casas em Gaza; iranianas, em Teerã e Isfahan, tremem com explosões; ucranianas fogem da violência russa; russas sofrem as consequências de uma guerra que consome seus jovens. Este artigo é um libelo em que denuncio como a guerra rouba a infância de milhares de crianças mundo afora. E ninguém, ninguém, pode dizer sem se envergonhar que essas jovens vidas não poderiam ser salvas.
Um custo incalculável: as crianças mortas
Segundo a UNICEF, entre 2000 e 2025, conflitos armados mataram dezenas de milhares de crianças. Em Gaza, desde outubro de 2023 até junho de 2025, mais de 14.000 crianças palestinas morreram, conforme o Ministério da Saúde de Gaza e a ONU.
Um estudo da The Lancet (2024) estima que o número real pode chegar a 64.260 mortes por lesões traumáticas até meados de 2024. Na Ucrânia, desde a invasão russa em fevereiro de 2022 até janeiro de 2025, pelo menos 650 crianças foram mortas e 1.300 feridas, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Em Israel, desde 2000, mais de 30 crianças morreram em ataques do Hamas, com dezenas mantidas reféns em Gaza.
A guerra entre Israel e Irã, iniciada em 12 de junho de 2025, trouxe novos números alarmantes.
Postagens no X atribuídas ao Ministério das Relações Exteriores do Irã relatam que, em ataques israelenses em Teerã, 73 mulheres e crianças morreram, incluindo 20 crianças no complexo residencial Chamran.
Embora não verificados independentemente, a mídia iraniana confirmou explosões em Teerã, Isfahan e Fordow. Em Israel, ataques iranianos em 13 e 14 de junho atingiram Tel Aviv, Haifa e Jerusalém, ferindo 34 pessoas, incluindo crianças, segundo serviços de emergência. Um bebê de seis dias foi resgatado em Tel Aviv, conforme o Metrópoles.
A Anistia Internacional denuncia a “devastação desproporcional” sofrida por crianças. Em 2024, a organização destacou que ataques a escolas e hospitais em Gaza e Ucrânia violam o Direito Internacional Humanitário.
A ONU verificou 32.990 violações graves contra crianças em 2023, com Gaza e Ucrânia liderando.
O drama humano: histórias de crianças em meio ao caos
Em Teerã, Afsaneh, de 8 anos, acordou com explosões no bairro Chamran em 13 de junho de 2025. “Pensei que era trovão, mas minha mãe gritou para corrermos ao porão”, relatou à Fars News.
O ataque israelense, visando instalações militares, atingiu residências, deixando brinquedos ensanguentados entre escombros. Afsaneh, que sonha ser médica, agora teme sair de casa.
Em Isfahan, Reza, de 10 anos, viu sua escola fechar após bombardeios que destruíram subestações elétricas. “Quero jogar futebol, mas o céu está sempre escuro”, disse à mídia estatal iraniana. Sua irmã mais nova, Leila, de 5 anos, parou de falar após ver um vizinho morto nos escombros, conforme relatou a família à IRNA.
Em Jerusalém, Noa, de 12 anos, descreveu à BBC o terror de correr para abrigos: “A sirene toca, e só penso se verei minha mãe.” Em Tel Aviv, um bebê de seis dias, resgatado dos escombros, tornou-se símbolo de esperança, mas também de tragédia.
Em Haifa, David, de 9 anos, segundo o Jerusalem Post, recusa-se a dormir sozinho após mísseis iranianos atingirem sua vizinhança. “O barulho não sai da minha cabeça”, confessou. Sua amiga Sarah, de 10 anos, perdeu o pai em um ataque e agora desenha apenas cinzas e fumaça, conforme relatado pela Haaretz.
Em Gaza, Mays, de 13 anos, perdeu a mobilidade em um bombardeio. “Sonhava em jogar futebol, mas agora só vejo cinzas”, disse à UNICEF.
Em Khan Younis, Omar, de 7 anos, sobreviveu a um ataque que matou sua família. “Eles estão no céu, mas o céu me assusta”, relatou à Al Jazeera. Sua prima Amina, de 9 anos, viu sua escola destruída e carrega cacos de vidro como “lembrança do que perdemos”, segundo a Middle East Eye.
Na Ucrânia, Olena, de 11 anos, esconde-se em porões em Kiev. “Quero voltar à escola, mas os mísseis não param”, contou à UNICEF.
Em Kharkiv, Ivan, de 8 anos, perdeu a mãe em um bombardeio e agora vive com a avó em um abrigo, onde, segundo a Reuters, ele chora todas as noites chamando por ela.
Essas crianças — Afsaneh, Reza, Leila, Noa, David, Sarah, Mays, Omar, Amina, Olena, Ivan — compartilham o mesmo pesadelo: explosões, perda de entes queridos, destruição de lares.
Seus sonhos de ser médicos, artistas ou atletas são sufocados pelo medo. Sua resiliência é um testemunho da força humana, mas também um lembrete da dor de uma infância roubada.
Traumas que ecoam por gerações
O impacto psicológico é devastador. Hannah Arendt alertava que destruir a infância é destruir o futuro. Em Gaza, a War Child Alliance revelou em 2023 que 49% das crianças expressaram desejo de morrer. Na Ucrânia, a UNICEF estima que 7,8 milhões de crianças carregam “cicatrizes invisíveis”. Em Israel, o medo de ataques leva a ansiedade crônica. No Irã, sanções e tensões afetam a saúde mental. Crianças russas, órfãs de soldados, enfrentam estigma.
Robert Fisk descrevia crianças como “vítimas silenciosas, cujos gritos não ecoam na diplomacia”.
Segundo a OMS, esses traumas causam TEPT, depressão e dificuldades de socialização, perpetuando ciclos de violência. Afsaneh tem pesadelos com explosões; Noa desenvolveu mutismo seletivo; Omar chora pela família perdida; Ivan murmura o nome da mãe enquanto dorme.
A tragédia de Kim Phuc: o grito do Vietnã
Em 8 de junho de 1972, Phan Thi Kim Phuc, de 9 anos, tornou-se um símbolo do horror da Guerra do Vietnã. Uma bomba de napalm, lançada por engano por aviões sul-vietnamitas apoiados pelos EUA, incendiou a vila de Trang Bang. Kim, com a pele queimando, correu nua pela estrada, gritando de dor, enquanto o fogo consumia suas roupas e seu corpo.
A fotografia de Nick Ut, publicada pela Associated Press, chocou o mundo, mostrando a agonia de uma criança vítima da brutalidade da guerra. Exposta ao agente laranja, uma arma química que causou câncer, malformações e doenças em milhares, Kim enfrentou anos de cirurgias e sofrimento.
“Eu queria morrer, mas sobrevivi para contar essa história”, declarou em entrevista à NPR em 2017. Sua pele, marcada por cicatrizes, e sua alma, ferida pelo trauma, são testemunhos do custo humano da guerra.
Hoje ativista pela paz, Kim fundou a Kim Phuc Foundation para ajudar crianças em zonas de conflito, mas sua mensagem é clara: “A guerra é o maior crime contra a humanidade.” Sua história, narrada em The Girl in the Picture, de Denise Chong, permanece um alerta contra a indiferença.
Idosos e enfermos: as outras vítimas
Em Gaza, 59% das vítimas são mulheres, crianças e idosos, segundo o Ministério da Saúde local. A ONU relata que 50% dos hospitais de Gaza estão fechados. Na Ucrânia, a OMS registrou 64 ataques a instalações de saúde até 2022.
No Irã, sanções limitam medicamentos. Em Israel, a destruição em Tel Aviv e Haifa sobrecarrega hospitais. A desativação do hospital Kamal Adwan em Gaza, em dezembro de 2024, agrava a crise.
As guerras em Israel, Palestina, Ucrânia, Rússia e Irã são tragédias humanas que roubam a infância, a dignidade e a esperança. A UNICEF clama por cessar-fogo, e a Anistia Internacional exige responsabilidade por crimes de guerra.
Zygmunt Bauman dizia: “A indiferença é o maior aliado da violência.” Que o céu volte a ser um lugar de sonhos, não de bombas.
Que a humanidade escolha a paz, por Afsaneh, Reza, Leila, Noa, David, Sarah, Mays, Omar, Amina, Olena, Ivan, Kim e todas as crianças. assim como toda criança é matéria-prima da paz, toda mãe é educadora de futuras gerações, mas quando mãe e filho sucumbem aos horrores inimagináveis de uma guerra que eles não pediram nem causaram e que figuram apenas como estatísticas sombrias do quanto perdemos de humanidade, faz-se necessário cessar fogo em todas essas regiões e medidas efetivas e sinceras para restabelecer a paz no mundo o quanto antes.
https://www.brasil247.com/blog/o-ceu-que-nao-protege-o-drama-das-criancas-em-zonas-de-guerra
16 de junho de 2025
A paz no Oriente Médio começa com um juramento: escolher a humanidade, sempre
Que este conflito seja um despertar. Que as vozes da reconciliação – de poetas da paz a cidadãos comuns – se ergam em um coro que abafe o rugido da guerra


Tenho três concunhados persas, iranianos, cujas histórias de resiliência e cultura enriqueceram minha família. Já visitei Israel oito vezes, fascinado por sua história vibrante, e três de meus filhos viveram lá por um ano, forjando laços profundos. Sei o quanto é árduo manter a imparcialidade, quando a tentação de apoiar um lado em um conflito que destrói vidas e reduz cidades a ruínas é tão poderosa.
Mas escolho o equilíbrio: em uma guerra, não há vencedores, apenas perdas, e nenhum contendor é o “dono da razão”. A voz da paz, ainda rouca e gripada, é abafada pelo rugido da guerra, mas é ela que devemos amplificar. Na madrugada de 13 de junho de 2025, quando Israel e Irã mergulharam em um conflito devastador, esse grito por reconciliação tornou-se mais urgente do que nunca.
Na noite de 12 de junho, Israel lançou ataques aéreos contra usinas nucleares iranianas, incluindo Natanz e Isfahan, sob o pretexto de neutralizar a ameaça de armas atômicas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu celebrou a operação, que destruiu centrífugas e eliminou 10 cientistas nucleares e 15 militares. Mas a ação, vendida como defesa, violou a soberania iraniana e normas internacionais, como alertou Rafael Grossi, da Agência Internacional de Energia Atômica, que classificou os ataques como “um risco inaceitável à segurança global”.
O Irã retaliou com fúria, disparando mais de 150 mísseis e drones contra alvos em Israel. Explosões rasgaram os céus de Tel Aviv e Haifa, enquanto sirenes empurravam civis para bunkers. A Guarda Revolucionária Iraniana perdeu seu comandante, Hossein Salami, e sete oficiais, alimentando promessas de vingança. O ministro Abbas Araghchi cancelou negociações nucleares, chamando os ataques de Israel de “selvageria”. Iniciado às vésperas de uma cúpula da ONU sobre paz no Oriente Médio, o conflito sepultou qualquer chance imediata de progresso diplomático, transformando esperanças em cinzas.
Chamas da discórdia iluminam brutal pesadelo
Até o fim de 14 de junho, o conflito deixou 35 mortes, segundo dados preliminares. Em Israel, cinco civis morreram, incluindo uma estudante de 21 anos em Tamra, atingida por estilhaços, e um avô em Haifa, soterrado nos escombros de sua casa. Cerca de 90 pessoas ficaram feridas, muitas em estado grave, enquanto usinas elétricas e portos sofreram danos severos, comprometendo o abastecimento em várias cidades.
No Irã, os ataques israelenses mataram 30 pessoas, entre 12 civis, 10 militares e oito cientistas. Um bombardeio a um depósito de petróleo em Teerã, na manhã de 14 de junho, matou cinco trabalhadores e desencadeou um incêndio que ameaça bairros residenciais. Danos em Natanz levantaram alertas sobre vazamentos radioativos, embora Teerã negue. Essas perdas, de ambos os lados, são mais que números – são histórias interrompidas, famílias destroçadas e um lembrete cruel de que a guerra não poupa os inocentes.
Este conflito é uma ferida aberta na alma da humanidade. Ataques a usinas nucleares, como Natanz, onde reatores foram danificados, geram temores de contaminação radioativa. Especialistas alertam que partículas liberadas podem envenenar solos e rios, condenando gerações a doenças e desolação.
A violência também sufoca crises humanitárias: em Gaza, palestinos temem ser esquecidos, enquanto no Líbano, aliados do Irã, como o Hezbollah, ameaçam abrir novas frentes, arriscando um incêndio regional.
A guerra perturba o equilíbrio global. Ataques a campos de gás iranianos e refinarias israelenses dispararam os preços do petróleo, golpeando economias frágeis. A duplicidade de líderes ocidentais, que aplaudem Israel enquanto condenam o Irã, escancara uma falência moral. Como disse Tariq Ramadan, “o silêncio do Ocidente é uma traição à justiça”. Essa seletividade corrói a confiança em instituições que deveriam proteger a humanidade, deixando o mundo à mercê de interesses mesquinhos.
A reconciliação não é um sonho ingênuo, mas uma urgência vital. Inspirados por Jean-Philippe Charleaux, que clama por diplomacia, e Simon Tisdall, que aponta o acordo nuclear de 2015 como um farol, devemos exigir ação.
A ONU precisa convocar uma cúpula emergencial para forjar um cessar-fogo e retomar negociações nucleares. Sanções contra atos de violência, como sugeriu Charleaux, podem frear a escalada e abrir espaço para o diálogo.
Um juramento pela humanidade
A sociedade civil tem um papel crucial. Movimentos pacifistas, como defendido por Ramadan, devem rejeitar narrativas que glorificam a destruição e pressionar por políticas que honrem a vida. Campanhas globais, boicotes culturais e marchas podem transformar a indignação em mudança.
Minhas visitas a Israel e os laços com minha família iraniana me ensinaram que, apesar das diferenças, o desejo por paz é universal. Esse anseio deve guiar nossas ações, unindo vozes de Tel Aviv a Teerã em um coro pela humanidade.
Minha experiência pessoal reforça a convicção de que tomar partido é uma armadilha. A guerra entre Israel e Irã é um espelho da nossa falha em colocar a humanidade acima do orgulho.
Cada míssil é um juramento quebrado, uma escolha de semear morte em vez de entendimento. Os civis, de Tel Aviv a Teerã, não são peças de um jogo – são corações que sonham e merecem amanheceres sem medo.
Com 35 vidas perdidas e um mundo à beira do caos, o custo desta loucura é claro. Riscos nucleares, colapsos humanitários e instabilidade global não são abstrações, mas ameaças reais.
A comunidade internacional, muitas vezes refém de interesses mesquinhos, deve encontrar coragem para mediar e desarmar. Meus filhos, que viveram em Israel, e meus concunhados iranianos me lembram que a paz é possível quando escolhemos ouvir em vez de destruir.
Que este conflito seja um despertar. Que as vozes da reconciliação – de poetas da paz a cidadãos comuns – se ergam em um coro que abafe o rugido da guerra. A paz no Oriente Médio, e em todos os cantos, começa com um juramento: escolher a humanidade, sempre. Não podemos deixar que a voz gripada da paz seja silenciada. É hora de gritar, com toda a força, por um mundo onde o diálogo vença a destruição. E que volte a ecoar as boas novas de que “a cada pensamento de guerra possa surgir um pensamento ainda mais forte de paz”.
15 de junho de 2025
"Putin está louco", diz Trump; russo alerta para risco de 3ª Guerra Mundial
Um conflito entre potências nucleares como EUA e Rússia poderia desencadear uma catástrofe global, com consequências que ultrapassam fronteiras e gerações


Nos últimos três dias, a escalada de tensões entre Estados Unidos e Rússia atingiu um patamar crítico. As declarações inflamadas de Donald Trump e as respostas agressivas de autoridades russas alimentam o conflito. Em 27 de maio de 2025, Trump acusou Vladimir Putin de “brincar com fogo” ao intensificar os ataques na Ucrânia. Os bombardeios registraram 367 drones e mísseis em 25 de maio e 355 drones no dia seguinte.
Frustrado com o fracasso das negociações de paz, Trump ameaçou sanções mais duras. Ele havia prometido resolver o conflito “em 24 horas” durante sua campanha. Contudo, reconhece que a Rússia, adaptada às restrições econômicas, sofre pouco impacto imediato.
Em resposta, Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança russo, alertou para o risco de uma “Terceira Guerra Mundial”. Ele interpretou as palavras de Trump como uma ameaça existencial. O Kremlin, por meio de Dmitry Peskov, acusou a Ucrânia de provocações. Também criticou o apoio militar europeu, classificando-o como “participação indireta” no conflito.
Putin mantém a retórica de abertura ao diálogo, mas rejeita concessões. Ele exige a neutralidade da Ucrânia e o controle de territórios ocupados. Esse impasse diplomático, com Trump pressionando por um cessar-fogo e Putin intensificando ações militares, é alarmante.
A revisão da doutrina nuclear russa de 2024, que flexibiliza o uso de armas atômicas, agrava a situação. A menção a uma Terceira Guerra Mundial não é retórica vazia. Um conflito entre potências nucleares como EUA e Rússia poderia desencadear uma catástrofe global, com consequências que ultrapassam fronteiras e gerações.
Em um momento de crises globais entrelaçadas, a humanidade enfrenta uma escolha crítica. O documento “A Promessa da Paz Mundial”, emitido pela Casa Universal de Justiça em outubro de 1985, destaca essa urgência. Intitulado “Aos Povos do Mundo”, foi entregue a mais de 100 governantes entre 1985 e 1986. Ele afirmou: “A Grande Paz […] está agora finalmente ao alcance das nações.”
Este texto histórico, mais relevante hoje, alerta que falhar em conter conflitos seria “inescrupulosamente irresponsável”. É um chamado à ação que ressoa frente às atuais tensões.
Hiroshima e Nagasaki: o legado do horror - Em agosto de 1945, os EUA lançaram bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Esse evento marcou um divisor de águas na história. Em 6 de agosto, “Little Boy” explodiu sobre Hiroshima, com energia equivalente a 15 mil toneladas de TNT. A explosão matou 80 mil pessoas instantaneamente.
Três dias depois, “Fat Man” devastou Nagasaki, ceifando 40 mil vidas no impacto inicial. Até o fim do ano, mais de 200 mil morreram. Sobreviventes enfrentaram câncer, mutações genéticas e traumas profundos. As explosões incineraram cidades, deixando cicatrizes permanentes.
A tecnologia militar evoluiu dramaticamente desde então. EUA e Rússia possuem arsenais com milhares de ogivas termonucleares. Esses são complementados por mísseis hipersônicos, bombas teleguiadas e drones com inteligência artificial, como os usados na Ucrânia.
Essas inovações permitem ataques precisos a milhares de quilômetros. Elas amplificam o potencial de destruição global. “A Promessa da Paz Mundial” previa esse momento, afirmando que “a paz mundial não é apenas possível, mas inevitável”. Contudo, questionava se seria alcançada por escolha deliberada ou após “horrores inimagináveis”.
Quase quatro décadas depois, suas palavras ecoam como um alerta. A unidade é essencial para evitar a catástrofe.
Os limites da contenção - Um confronto nuclear entre EUA e Rússia não se limitaria a esses países. Também não ficaria restrito à região em conflito. A radiação, cinzas e poluentes de uma detonação moderna alterariam o clima global. Isso desencadearia um “inverno nuclear” que devastaria colheitas, ecossistemas e bilhões de vidas.
Infraestruturas críticas — energia, saúde, transporte — colapsariam. As perdas materiais seriam incalculáveis. Mesmo um conflito “restrito” teria impactos transcontinentais, afetando nações neutras.
O cenário é agravado pela existência de outras potências nucleares. China, Reino Unido, França, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte também possuem armas atômicas. Em um conflito global, essas nações seriam pressionadas a escolher lados. Alianças, interesses econômicos ou ameaças diretas influenciariam suas decisões.
A OTAN poderia envolver a Europa. Aliados da Rússia, como China ou Irã, escalariam a crise em outras frentes. A interconexão global torna impossível isolar os danos. Qualquer escalada é uma ameaça à civilização.
“A Promessa da Paz Mundial” reconhece essa interdependência. Ela destaca que a humanidade, pela primeira vez, pode enxergar o planeta como um todo. Essa perspectiva unificada torna a paz uma necessidade urgente para a sobrevivência coletiva.
Conflitos globais: a paz mundial sob ameaça - Além do conflito na Ucrânia, outros focos de violência desafiam a estabilidade global. Na África, a região do Sahel enfrenta crises crescentes. Em 2023, o conflito no Sudão resultou em mais de 12 mil mortes. Também deslocou 7,7 milhões de pessoas, segundo o Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).
Na República Democrática do Congo, confrontos entre o governo e o grupo M23 causaram 4 mil mortes em 2024. O conflito deslocou 2,5 milhões de pessoas, conforme relatório da ONU. Esses conflitos são agravados por instabilidade política e mudanças climáticas. Eles alimentam crises humanitárias e tensões regionais.
No Oriente Médio, a guerra em Gaza permanece devastadora. Desde outubro de 2023, mais de 23 mil pessoas morreram em Gaza, com 71 mil feridos, segundo a ACLED. O conflito, envolvendo Israel e grupos como o Hamas, ameaça escalar para uma guerra regional. Atores como Irã e Hezbollah podem se envolver.
A Síria, assolada por uma guerra civil, já perdeu mais de 350 mil vidas desde 2011, segundo a ONU. Em 2024, ataques em áreas costeiras mataram mais de mil civis, conforme o Instituto de Paz dos EUA. Esses números refletem a fragilidade da paz global.
Em 2024, o mundo registrou 56 conflitos armados. Esse é o maior número desde a Segunda Guerra Mundial, envolvendo 92 países, segundo o Vision of Humanity. As mortes relacionadas a conflitos no primeiro quadrimestre de 2024 atingiram 47 mil. Se o ritmo persistir, pode superar o recorde desde o genocídio de Ruanda em 1994.
A voz da ONU em defesa da paz - O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, tem alertado para a urgência da paz. Em 19 de janeiro de 2025, ele declarou ao Conselho de Segurança: “A estabilidade no Oriente Médio exige ações irreversíveis para uma solução de dois Estados, com Israel e Palestina vivendo lado a lado em paz e segurança, conforme o direito internacional e resoluções da ONU.”
Em 24 de julho de 2023, lançando a Nova Agenda para a Paz, Guterres afirmou: “Se cada país cumprisse suas obrigações sob a Carta da ONU, o direito à paz seria garantido. A ONU deve estar no centro desses esforços.” Essas palavras reforçam a necessidade de diplomacia e cooperação. O mundo está à beira do colapso.
Um novo precipício global? - A retórica beligerante entre Trump e Putin é alarmante. Conflitos na África e no Oriente Médio agravam a situação. A humanidade enfrenta um momento de risco sem paralelo desde a Crise dos Mísseis de 1962. O horror de Hiroshima e Nagasaki seria superado por um conflito moderno. Armas atuais podem aniquilar cidades em minutos.
A interdependência econômica e a memória histórica oferecem alguma esperança de contenção. Contudo, a janela para a diplomacia se estreita. Cada declaração, cada drone, cada sanção eleva o perigo de um erro fatal.
“A Promessa da Paz Mundial” nos lembra que “a paz é o próximo estágio na evolução deste planeta — a planetização da humanidade”. Sua conquista depende de um ato coletivo de vontade. A questão é se aprendemos com 1945 ou se caminhamos para um abismo.
Este artigo expõe a gravidade do momento, mas também apela à reflexão. Diante das tensões globais, cada indivíduo, líder e nação deve ponderar seu papel. Construir um futuro pacífico é uma responsabilidade compartilhada.
Ignorar esse chamado é trair as gerações futuras. A história nos adverte; a escolha, como enfatiza o documento de 1985, é nossa. Que este texto seja um convite à ação. A paz não é um sonho distante, mas uma necessidade urgente.
Que cada leitor, ao fechar estas linhas, questione: o que posso fazer para evitar que o próximo conflito apague nossa humanidade?
28 de maio de 2025
